REFERÊNCIAS COMENTADAS
Digitais
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, DF: MÉC, 2018. Disponível em: https://livro.pw/kaadc m-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.
Documento quê estabelece as bases do currículo e das práticas de aprendizagem da Educação Básica no Brasil.
CONVERSA de portão 14: o quê é necropolítica? Entrevistada: Allyne Andrade. Entrevistadora: Jéssica Moreira. [S.l.]: Conversa de Portão, dez. 2020. Podcast. Disponível em: https://livro.pw/nrijj. Acesso em: 16 out. 2024.
O episódio de podcast explora o conceito de necropolítica através dos impactos da pandemia de covid-19 nas populações negras e periféricas no Brasil.
MORENO, Cláudio; SPECK, Filipe. Noites grêgas. [S. l.], 2024. Spotify: [Canal] Noites grêgas. Disponível em: https://livro.pw/wxnqj. Acesso em: 16 out. 2024.
O podcast escrito e narrado pelo professor de literatura e escritor brasileiro cláudio Moreno (1946-) relata a história de mitos gregos em episódios como “A morte de Pátroclo” ou “Hera seduz Zeus”. No primeiro episódio, o professor fala das características dos deuses gregos. Em outros episódios, conta histoórias partindo de perguntas como: “a deusa Atena tinha umbigo?”.
PODCAST matéria bruta: conheça Frantz Fanon com Vladimir Safatle. [S. l.: s. n.], 2021. 1 vídeo (19 min). Publicado pelo Canal Curta! Disponível em: https://livro.pw/xvrkd? v=YK633m6gHiI. Acesso em: 16 out. 2024.
Nesse episódio do podcast, o filósofo e escritor brasileiro Vladimir Safatle (1973-) fala sobre Frantz Fanon (1925-1961), psiquiatra e filósofo político da colônia francesa da Martinica. Safatle discute os pilares do pensamento de Fanon a favor da descolonização e as razões pelas quais houve pouco apelo comercial às suas obras até hoje.
Impressas
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução: Alfredo Bóssi. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
O dicionário apresenta, d fórma bastante didática, termos e conceitos fundamentais para a compreensão da história da Filosofia.
AMARAL, Diogo Freitas do. História do pensamento político ocidental. Coimbra: Almedina, 2018.
Nesse volume, o autor analisa as ideias de pensadores quê, desde a Antigüidade até o século XX, trousserão importantes reflekções para a construção do pensamento político do mundo ocidental.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Tradução: Sérgio Milliet. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2020. 2 v. Edição comemorativa de 70 anos.
Livro fundamental para o feminismo e para a discussão filosófica sobre a mulher, a edição comemorativa de O segundo sexo conta com textos de intelectuais como a antropóloga míri-ã Goldenberg (1956-), a filósofa Djamila Ribeiro (1980-) e a filósofa Márcia Tiburi (1970-), quê comentam diversos aspectos da obra de Beauvoir.
BENJAMIN, Válter. A obra de; ár-te na era de sua reprodutibilidade técnica. Tradução: Gabriel Valladão Silva. São Paulo: L&PM, 2018.
No ensaio, Benjamin analisa como as mudanças operadas pela modernidade, em especial a fotografia e o cinema, modificam o estátus da obra de; ár-te, afastando-a do conceito de experiência única de contemplação. Ele reflete sobre como a reprodução deixa de sêr tratada como uma méra cópia e passa a sêr pensada como a própria obra.
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução: Carmen C. Varriale éti áu. 5. ed. Brasília, DF: Ed. hú éne bê; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000. 2 v.
A obra, em dois volumes, oferece uma ampla interpretação dos principais conceitos quê fazem parte do discurso político, expondo sua evolução histórica, analisando sua utilização atual e fazendo referência aos conceitos afins.
CALVINO, Italo. O cavaleiro inexistente. Tradução: Nilson Moulin. 2. ed. São Paulo: Companhia das lêtras, 2005.
Durante a Idade Média, escritores europêus produziam romances quê são chamados hoje de romances de cavalaria. O escritor italiano Italo Calvino (1923-1985) faz uma paródia dêêsse tipo de romance em O cavaleiro inexistente. Ele conta sobre um cavaleiro quê, na verdade, não existe, mas vive sôbi uma armadura e luta em defesa da cristandade.
CHAUI, Marilena. Boas-vindas à filosofia. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
A obra apresenta uma breve introdução do campo da Filosofia, contribuindo para um maior entendimento da atividade filosófica e das diferentes definições do pensamento filosófico.
CHAUI, Marilena. Introdução à história da filosofia. dos pré-socráticos a Aristóteles. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Companhia das lêtras, 2002. v. 1.
A obra analisa aspectos centrais do pensamento filosófico na Grécia Antiga, contribuindo para a compreensão do processo histórico de formação da tradição filosófica ocidental. COMTE, Auguste. Discurso sobre o espírito positivo. São Paulo: Lafonte, 2020.
A teoria positivista de Comte propunha o desenvolvimento do indivíduo/sociedade segundo critérios científicos, obedecendo a diretrizes predefinidas promotoras do bem-estar da humanidade. Assim, o pensamento humano superaria os estados teológico e metafísico para atingir a plenitude intelectual no estágio positivo.
CRARY, Jônathan. 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. Tradução: Joaquim Toledo Junior. São Paulo: Ubu, 2016. Jônathan Crary (1951-) reflete sobre o impacto do desenvolvimento tecnológico na percepção do tempo e a maneira como isso está relacionado com mudanças na organização do repouso nas sociedades contemporâneas.
DELEUZE, Gilles. A filosofia crítica de Kant. Tradução: Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.
Página trezentos e cinquenta e um
No livro de introdução à filosofia kantiana, Gilles Deleuze (1925-1995) apresenta os principais conceitos de Immanuel Kant (1724-1804), mostrando como se relacionam as faculdades kantianas na Crítica da razão pura, na Crítica da razão prática e na Crítica do juízo, obras publicadas em 1781, 1788 e 1790, respectivamente.
DELEUZE, Gilles. Conversações: 1972-1990. Tradução: píter Pál Pelbart. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2013.
A obra traz textos e entrevistas do filósofo francês Gilles Deleuze. Entre os textos, há aquele no qual o pensador refletiu sobre o conceito de ssossiedade de contrôle.
DIDEROT, Denis; D’ALEMBERT, jã Le Rond. Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências das artes e dos ofícios: volume 1: discurso preliminar e outros textos. Tradução: Fúlvia Moretto, Maria das Graças de Souza. São Paulo: Editora Unésp, 2015.
Esse volume apresenta parte dos textos publicados na Enciclopédia iluminista, de 1751, especialmente o discurso preliminar quê foi elaborado para definir o projeto enciclopédico propôsto pêlos pensadores iluministas.
DOXIADIS, Apostolos; PAPADIMITRIOU, Christos Harilaos. Logicomix: uma jornada épica em busca da verdade. Tradução: Alexandre Boide dos Santos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
Essa história em quadrinhos conta a vida do filósofo berrtrã Russell (1872-1970), um nome importante da lógica. A história elucida diversos conceitos da lógica enquanto narra os acontecimentos vivídos por Russell.
FABBRINI, Ricardo. ár-te contemporânea em três tempos. Belo Horizonte: Autêntica, 2024.
Em três diferentes ensaios, o autor apresenta e analisa obras de; ár-te contemporânea e discute alguns debates da estética contemporânea.
FOUCAULT, Michél. Microfísica do pôdêr. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014.
Essa obra reúne diversos textos do filósofo francês quê exploram a questão do pôdêr e suas implicações sociais.
FOUCAULT, Michél. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução: Raquel Ramalhete. 42. ed. São Paulo: Vozes, 2014.
Nessa obra, o filósofo francês Michél Fucoul analisa o processo de disciplinarização no mundo ocidental e reflete sobre o impacto díssu no processo de subjetivação dos indivíduos.
GIACOIA JÚNIOR, ôsváldo. Pequeno dicionário de filosofia contemporânea. São Paulo: Publifolha, 2006.
A obra apresenta verbetes sintéticos com conceitos fundamentais para a compreensão de temas explorados por filósofos contemporâneos, possibilitando a ampliação de discussões desenvolvidas em sala de aula.
HADOT, Piérre. O quê é a filosofia antiga? Tradução: Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 1999.
A obra traça um panorama da Filosofia antiga, buscando compreender aspectos centrais das discussões conceituais elaboradas por diferentes pensadores quê marcaram a história da Filosofia ocidental.
HAN, Byung-Chul. Infocracia: digitalização e a crise da democracia. Tradução: Gabriel S. Philipson. Petrópolis: Vozes, 2022.
O autor reflete sobre a democracia ilusória em tempos de digitalização dos meios de comunicação. O filósofo acredita quê seguidores de influenciadores digitais podem se tornar despolitizados e adestrados por algoritmos.
HOBSBAWM, Ériqui. A era dos impérios: 1875-1914. Tradução: Sieni Maria Campos, Yolanda Steidel de Toledo. 13. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2012.
A obra analisa o processo de expansão das potências industriais pelo planêta, traçando um panorama do neocolonialismo e seus efeitos sociais, políticos e econômicos.
JIMENEZ, márc. O quê é estética. Tradução: Fulvia M. L. Moretto. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1999.
O livro passa pelas principais ideias ligadas à estética na Filosofia, mobilizando autores como Platão (c. 427 a.C.-347 a.C.), Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), Descartes (1596-1650), Hegel (1770-1831), Danto (1924-2013) etc.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Tradução: Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das lêtras, 2015.
A obra apresenta o relato de Davi Kopenawa (c. 1956-) a respeito de sua experiência e das tradições de seu povo na defesa da Floresta Amazônica, oferecendo um importante registro da visão de mundo dos yanomami.
KUHN, Tômas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2020.
A obra demonstra como as áreas de Exatas e de Humanas foram convergidas por Kuhn durante suas análises profundas em busca de questionar dogmas. Kuhn descreve o processo contraditório marcado pelas revoluções do pensamento científico. Esse processo seria o responsável pelas mudanças e avanços nas ciências.
LA BOÉTIE, Étienne de. O discurso da servidão voluntária, ou O contra um. Tradução: Bruno Gambarotto. Petrópolis: Vozes, 2022.
Na obra, o filósofo Étienne de La Boétie (1530-1563) apresenta sua reflekção em torno do problema da obediência e da importânssia de se recusar a obedecer a um govêrno tirânico.
MAIER, Corinne; SIMON, êni. márquis: uma biografia em quadrinhos. Tradução: Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2018.
Essa obra apresenta uma breve biografia do filósofo káur márquis (1818-1883) no formato de história em quadrinhos, contribuindo para uma compreensão mais ampla das ideias do filósofo e da maneira como sua reflekção está relacionada com as transformações históricas de seu tempo.
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética: de Platão a Fucoul. Rio de Janeiro: Zarrár, 2007.
A obra traz uma seleção de textos de filósofos quê se dedicaram a analisar problemas de ética, fornecendo um panorama da história da Filosofia e do modo como diferentes pensadores refletiram sobre kestões éticas.
MARTINS, José Antônio. Filosofia política. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015.
Essa obra apresenta uma breve introdução de problemas relacionados com a Filosofia política, contribuindo para um entendimento mais amplo de kestões associadas à discussão em torno do contratualismo.
Página trezentos e cinquenta e dois
MBEMBE, Achille. Necropolítica. Tradução: Renata Santini. ár-te & Ensaios: Revista do PPGAV-EBA-UFRJ, n. 32, p. 122- 151, dez. 2016. Disponível em: https://livro.pw/umzpv. Acesso em: 22 out. 2024.
O ensaio discute a necropolítica enquanto exercício do contrôle sobre a mortalidade e implantação e manifestação de pôdêr.
MONTAIGNE, Michél de. Os ensaios: uma seleção. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das lêtras, 2010.
Essa coletânea apresenta alguns dos mais importantes ensaios produzidos pelo filósofo Michél de Montaigne (1533- 1592), contribuindo para um conhecimento mais amplo dos conceitos quê marcaram o pensamento dêêsse filósofo.
MULLER, Catel; BOCQUET, José-Louis. Olympe de Gouges. Tradução: André Telles. Rio de Janeiro: recór, 2014.
Essa obra apresenta a biografia de Olympe de Gouges 1748-1793) no formato de história em quadrinhos, destacando os principais acontecimentos quê marcaram sua vida e seu engajamento na luta pêlos direitos das mulheres.
NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da ár-te. São Paulo: Loyola, 2016.
O livro apresenta conceitos básicos para entender a filosofia da ár-te e mostra a relação entre ár-te e existência.
OLIVA, Alberto. Filosofia da ciência. Rio de Janeiro: Zarrár, 2003.
A obra traça um breve panorama do campo da filosofia da ciência, explorando d fórma sintética conceitos centrais para a compreensão de problemas relacionados com o fazer científico e o pensamento filosófico.
OS PRÉ-SOCRÁTICOS: fragmentos, doxografia e comentários. Seleção e supervisão: José Cavalcante de Sousa. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os pensadores).
Parte da coleção Os pensadores, o volume traz uma introdução quê destaca as principais contribuições dos pré-socráticos, além de apresentar fragmentos de seus textos acompanhados de um compilado de comentários de filósofos posteriores quê lêram essas obras.
POPPER, káur. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: cúltriks, 2005.
O autor defende quê a ciência só póde sêr definida por meio de regras metodológicas, descritas na obra com o objetivo de elucidar problemas clássicos da teoria do conhecimento.
ROUSSEAU, jã-jác. O contrato social. Tradução: Drik Sada. Porto Alegre: L&PM, 2014.
Essa obra é uma adaptação em mangá do clássico trabalho de jã-jác Rousseau (1712-1778) a respeito do conceito de contrato social. Com linguagem acessível, a obra póde ajudar a compreender as propostas de Rousseau a respeito da organização política da ssossiedade.
ROVERE, Maxime (org.). Arqueofeminismo: mulheres filósofas e filósofos feministas: séculos XVII-XVIII. São Paulo: n-1, 2019.
A obra apresenta textos de filósofas quê viveram entre os séculos XVII e XVIII, bem como textos a respeito de kestões ligadas à igualdade de gênero de filósofos do mesmo período, contribuindo para uma reflekção mais ampla sobre o problema da igualdade de gênero no pensamento moderno.
SALIH, Sara. Judith Butler e a teoria queer. Tradução: Guacira lópes Louro. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.
O livro introduz a teoria da filósofa Judith Butler (1956-), tratando de conceitos como sujeito, gênero, performatividade e queer, além de comentar debates e críticas em torno da obra da filósofa.
SAVIAN FILHO, Juvenal. Argumentação: a ferramenta do filosofar. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
O livro faz uma introdução à argumentação, explicando d fórma didática conceitos como argumento, premissa, pressuposto etc. Também ensina como se constrói e desconstrói argumentos e como se analisam textos.
SELIGMANN-SILVA, Márcio (org.). História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas: Editora Unicamp, 2017.
Coletânea de artigos quê discutem a literatura e a memória após as catástrofes, retomando debates quê surgiram na segunda mêtáde do século XX.
SÓFOCLES. Antígona. Tradução: Láurence Flores Pereira. São Paulo: Penguin-Companhia das lêtras, 2023.
Uma das tragédias grêgas mais lidas até hoje retrata o conflito entre Antígona e Creonte. A luta de Antígona para enterrar seu irmão apresenta o debate acerca das leis religiosas e das leis da cidade.
SPIEGELMAN, Art. Maus. Tradução: Antônio de Macedo Soares. São Paulo: Companhia das lêtras, 2005.
Nessa história em quadrinhos, Art Spiegelman (1948-) retrata seu pai, um judeu polonês quê sobreviveu ao campo de concentração na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), contando o quê viveu.
TANAKA, Masato; SAITO, Tetsuya. Grande história visual da filosofia: pensadores e principais conceitos. São Paulo: Planeta, 2022.
A obra apresenta esquemas visuais quê exploram conceitos desenvolvidos por diferentes filósofos ao longo do tempo. Com isso, ela fornece ferramentas para organizar e retomar discussões realizadas em sala de aula.
TOZZINI, Daniel Laskowski. Filosofia da ciência de Tômas Kuhn: conceitos de racionalidade científica. Florianópolis: Editora da hú éfi éssi cê, 2020.
Esse livro introduz os principais conceitos da obra do filósofo Tômas Kuhn (1922-1996), destacando críticas quê o pensador recebeu e mostrando as respostas dadas ao longo da sua trajetória.
TÜRCKE, Christoph. Hiperativos! Abaixo a cultura do déficit de atenção. Tradução: José Pedro Antunes. São Paulo: Paz e térra, 2016.
Na obra, o autor defende a tese de quê toda a informação a quê somos submetidos, desde a invenção do cinema, contribui para reduzir nossa capacidade de concentração. Desse modo, ele propõe o retorno à cultura do ritual, promovida especialmente nas escolas, o quê traria tranquilidade e energia próprias da infância.
ZINGANO, Marco. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. 2. ed. São Paulo: Odysseus, 2005.
Com linguagem clara e acessível, o livro apresenta as principais ideias de Platão e Aristóteles e passa por diversos temas sobre os quais os filósofos escreveram, como a política ou a ciência.
Página trezentos e cinquenta e três
ORIENTAÇÕES
PARA O PROFESSOR
Apresentação
Esta obra foi escrita tendo em vista a reflekção filosófica sobre os problemas do mundo contemporâneo. Está organizada em capítulos quê exploram temas e conceitos quê convidam o estudante a refletir sobre kestões atuáis e se posicionar de modo crítico e propositivo ante demandas urgentes da contemporaneidade. Ao mesmo tempo, a obra também foi construída levando em conta a relevância do estudo da história da filosofia no Ensino Médio, pois entendemos quê não é possível apresentar a filosofia como reflekção do presente sem analisar e reconstituir conceitos, debates e filósofos relevantes de sua história.
Cada um dos 18 capítulos foi organizado com base em um tema, como a ética, a lógica, a teoria do conhecimento, o pôdêr, a estética, e outros. Há também um critério cronológico nessa organização, contribuindo para a reflekção a respeito da história da filosofia. Assim, os primeiros temas estão articulados a aspectos da filosofia na Grécia Antiga, seguidos por capítulos quê analisam outros períodos da história filosófica, até a contemporaneidade.
Além de explorar kestões teóricas, os capítulos contam com atividades quê visam identificar conhecimentos prévios e estimular a reflekção, o protagonismo e a participação dos estudantes. Parte dessas atividades apresenta textos filosóficos quê devem sêr lidos, compreendidos e interpretados pêlos estudantes, enquanto outra parte convida os jovens a falar de seu cotidiano, pensar em problemas atuáis e elaborar textos nos quais se posicionam como agentes de transformação da realidade.
Assim, é possível articular a história da filosofia com os problemas contemporâneos, evidenciando a importânssia de compreender debates, conceitos e teorias constituídos ao longo do tempo. Esse movimento é fundamental para quê os jovens possam compreender o papel da Filosofia como um exercício do pensamento e como uma ferramenta para auxiliar na transformação do mundo. Neste Manual, você encontra um panorama teórico-metodológico da obra e orientações específicas para o trabalho com cada capítulo de Filosofia. As orientações visam oferecer ideias e instrumentos para a abordagem dos temas e o trabalho em sala de aula.
Abraço,
Os autores
Página trezentos e cinquenta e quatro
Sumário
Um mundo em transformação............355
Educação para o século XXI.......................... 355
Brasil: o mundo mudou.
E as nossas escolas?...................................... 356
Mudanças educacionais no Brasil....................... 356
O Novo Ensino Médio e a BNCC..........357
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC).... 357
As juventudes contemporâneas......359
Pressupostos teórico-metodológicos.........................................360
Interdisciplinaridade.................................... 360
Metodologias ativas........................................ 362
Os processos de avaliação............................ 365
Avaliar para quê?............................................... 365
Principais modelos de avaliação......................... 367
Abordagem teórico-metodológica...........................................369
Histórico........................................................... 369
Principais fundamentos teórico-metodológicos................................................ 372
Sujeitos ativos do conhecimento....................... 374
Referências comentadas.................... 375
Recursos e estratégias didáticas..................................................... 377
Organização das seções de textos e atividades..................................................... 377
Sugestões de cronogramas........................... 378
Orientações didáticas específicas................................................ 379
CAPÍTULO 1 As vozes da filosofia............... 383
CAPÍTULO 2 Os pré-socráticos e Sócrates......................................................... 385
CAPÍTULO 3 Política e ár-te no mundo grego............................................... 388
CAPÍTULO 4 Ética, utopia e distopia........... 391
CAPÍTULO 5 A filosofia medieval no Ocidente...................................................... 396
CAPÍTULO 6 A origem da lógica................... 399
CAPÍTULO 7 Pensamento crítico e argumentação............................................... 404
CAPÍTULO 8 Modernidade.............................. 408
CAPÍTULO 9 Revolução Científica e teoria do conhecimento.............................. 411
CAPÍTULO 10 Vida em ssossiedade................. 416
CAPÍTULO 11 História no pensamento contemporâneo.......................... 419
CAPÍTULO 12 Estética.................................... 422
CAPÍTULO 13 Memória e barbárie............... 426
CAPÍTULO 14 Colonialismo........................... 429
CAPÍTULO 15 Questão de gênero................. 432
CAPÍTULO 16 Poder e norma........................ 435
CAPÍTULO 17 Ciência na contemporaneidade................................... 438
CAPÍTULO 18 Tecnologia............................... 441
TRANSCRIÇÕES DOS PODCASTS
Podcast: Utopias e distopias na literatura.................................................... 445
Podcast: O perspectivismo, “a questão do outro” e a xenofobia no mundo atual.......... 446
Podcast: Racismo algorítmico....................... 447
Página trezentos e cinquenta e cinco
Um mundo em transformação
Educação para o século XXI
No século XXI, a aceleração das inovações tecnológicas ocorre em intervalos de tempo cada vez mais curtos, acarretando uma série de transformações nos âmbitos político, econômico, social e cultural.
Diante dessas transformações vertiginosas da tecnologia, surgem novos produtos e novas maneiras de produzi-los; profissões são extintas e outras são criadas; alteram-se as formas de comunicação e as relações interpessoais. As instituições também são modificadas para se adequarem à nova realidade. A escola, por exemplo, vê-se diante da necessidade de rever suas práticas na formação dos sujeitos quê vivem nesse mundo atual.

A educação contemporânea pressupõe a formação para a vida, no sentido de habilitar o jovem à leitura e à análise crítica da realidade, além de promover o seu desenvolvimento integral nas dimensões física, cognitiva, socioemocional e social. Para atingir esse objetivo, é importante valorizar os conhecimentos prévios e as experiências de vida dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem.
O biólogo, psicólogo e filósofo suíço jã píagê (1896- 1980) foi um dos pioneiros no estudo do desenvolvimento cognitivo e intelectual e do processo de construção do conhecimento. Embora o foco de píagê não fosse a educação formal, suas pesquisas serviram de base para quê outros estudiosos entendessem quê o ponto de partida para a construção de um novo conhecimento é akilo quê o estudante já sabe. Amparado nas pesquisas de píagê, Daví Ausubel (1918-2008), psicólogo estadunidense da área educacional, foi um dos primeiros estudiosos a usar o termo “conhecimento prévio”. Para ele, o conjunto de saberes quê um estudante traz é extremamente importante para a elaboração de novos conhecimentos e para a garantia de uma aprendizagem significativa Nota 1. Sobre a aprendizagem significativa, Farias conclui quê, para Ausubel:
o sujeito já tem uma história, sêndo esta a base para uma aprendizagem significativa. O profissional deve estar atento ao fazer uma intervenção, levando em consideração a formação da estrutura cognitiva do indivíduo, trazendo importantes contribuições para diversas áreas do conhecimento, principalmente, para o campo da Competência em Informação Nota 2.
Na escola do século XXI, marcada pelo fenômeno da globalização e da ssossiedade da informação, torna-se urgente a promoção da discussão, da interpretação dos fatos e da análise crítica das informações, além do uso criativo das novas tecnologias para a construção de conhecimentos. Segundo Maria Lúcia de Arruda Aranha:
O problema educacional não está, portanto, apenas em utilizar a tecnologia como instrumento avançado no ensino, acompanhar a sua evolução no mundo do trabalho, ou ainda estabelecer a interação entre a escola e a educação informal dos meios de comunicação de massa, mas questionar como deve sêr daqui em diante uma pedagogia quê realmente oriente o cidadão para compreender o mundo transformado pela técnica e atuar sobre ele de maneira crítica. Mais ainda, aprender de modo contínuo — tanto o aluno como o professor —, já quê essas transformações continuarão ocorrendo de modo vertiginoso. Nota 3
Página trezentos e cinquenta e seis
Brasil: o mundo mudou. E as nossas escolas?
No Brasil, após o término da ditadura civil-militar (1964-1985) e o restabelecimento da democracia, algumas conkistas foram alcançadas, entre elas a promulgação da Constituição Federal de 1988, quê estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, a fim de garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Observe a seguir as principais mudanças educacionais no Brasil com base nessas diretrizes constitucionais.
Mudanças educacionais no Brasil
Acompanhe o percurso das principais leis e diretrizes educacionais da década de 1990 a 2024.
> LDB 1996
1 Após um longo período de debates, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei número 9.394/1996), quê dispôs sobre os princípios e fins da educação no país, baseados na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a; ár-te e o saber; no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; no respeito à liberdade e apreço à tolerância, entre outros princípios.
> pê ene éle dê 1996
2 Desde 1996, o Programa Nacional do Livro Didático (pê ene éle dê) prevê a avaliação pedagógica dos livros inscritos no processo de seleção do Ministério da Educação. Essa avaliação toma como base os documentos oficiais da educação do país. O pê ene éle dê garantiu a universalização da distribuição do livro didático na rê-de pública de ensino e a livre escolha dos docentes das obras aprovadas.
> p c ênes 1997-1998
3 Muitas foram as contribuições da LDB para o avanço das reflekções educacionais no país, entre elas as diretrizes fornecidas para a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, quê deram ênfase à compreensão do processo de aprendizagem do estudante, ao desenvolvimento de competências e habilidades, à formação para o exercício da cidadania e à discussão de temas transversais, como Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo.
4 Um novo modelo de Ensino Médio foi sancionado pela lei número 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, quê alterou a LDB de 1996. Essa lei determinou o aumento da carga horária mínima, a ampliação das escolas de tempo integral e a possibilidade de todos os estudantes dessa etapa escolar poderem escolher caminhos de aprofundamento dos seus estudos.
> BNCC 2017-2018
5 O processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) durou cerca de quatro anos e, para isso, foram consultadas diversas entidades representativas dos diferentes segmentos envolvidos com a Educação Básica. Em dezembro de 2017, a BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental foi normatizada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo MÉC. A parte referente ao Ensino Médio foi entregue ao CNE em abril de 2018 e aprovada e homologada em dezembro do mesmo ano.
> DCNEM 2018
6 Em 2018, foram atualizadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM/2018). As DCNEM/2018 trazem orientações e definições para o planejamento dos currículos escolares e para os sistemas de ensino. As DCMs determinam quê a proposta pedagógica das unidades escolares deve considerar, entre outros aspectos, o reconhecimento e atendimento da diversidade e das diferentes nuances da desigualdade e da exclusão na ssossiedade brasileira e a promoção dos direitos humanos mediante a discussão de temas relativos a raça e etnia, religião, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, bem como práticas quê contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de preconceitos, discriminação e violência sôbi todas as formas.
> Reforma do Ensino Médio
7 Sancionada pelo presidente da República em 31 de julho de 2024, a lei número 14.945/2024 altera a LDB de 1996 e revoga parcialmente a lei número 13.415/2017, quê dispõe sobre a reforma do Ensino Médio. Entre as mudanças determinadas pela nova lei, destacam-se: a retomada da carga horária da formação geral básica para 2.400 horas, o fomento à matrícula de ensino técnico no Ensino Médio e a regulamentação dos itinerários formativos. Nota 4 Nota 5 EDITORIA DE ár-te
Página trezentos e cinquenta e sete
O Novo Ensino Médio e a BNCC
Apesar dos avanços apresentados no infográfico, a educação brasileira ainda enfrenta problemas na atualidade. No Ensino Médio, em particular, há grandes desafios, como garantir uma escola mais atrativa para os jovens, oferecer um ensino de qualidade e combater a evasão escolar Nota 6.
A evasão escolar é um fenômeno complékso, quê afeta milhões de jovens todos os anos. As causas são diversas, incluindo problemas socioeconômicos, inadequação do currículo às realidades dos estudantes, dificuldades de aprendizagem ou de acesso à escola, falta de interêsse nos componentes curriculares, entre outros fatores Nota 7. Essa situação compromete não apenas o futuro individual dos jovens mas também o desenvolvimento social e econômico do país Nota 8.
A implementação do Novo Ensino Médio surge como uma estratégia para tornar essa etapa da educação básica mais atraente e eficaz. O Novo Ensino Médio compreende a formação geral básica, incluindo quatro áreas do conhecimento; a formação técnica e profissional e os itinerários formativos.
Com uma proposta de flexibilização curricular, o Novo Ensino Médio permite quê os estudantes escôlham itinerários formativos Nota 9 quê se alinhem aos seus interesses e aspirações educacionais e profissionais. Essa personalização do ensino visa engajar os estudantes, tornando o aprendizado mais relevante e conectado com suas realidades e projeto de vida.
Além díssu, o Novo Ensino Médio propõe uma maior integração entre os componentes curriculares inseridos nas quatro áreas do conhecimento e o incentivo ao desenvolvimento de competências e habilidades. Com essas mudanças, espera-se reduzir a evasão escolar e garantir quê os jovens enxerguem o Ensino Médio não apenas como uma etapa obrigatória, mas como uma oportunidade valiosa para seu futuro. O desafio agora é garantir quê essa nova proposta seja efetivamente implementada e quê todos os estudantes tênham acesso a uma educação inspiradora e de qualidade.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Um passo importante para concretizar essa proposta foi a aprovação da BNCC do Ensino Médio em 2018, quê delimita os direitos e os objetivos de aprendizagem dos estudantes, expressos no desenvolvimento de competências e habilidades Nota 10. A BNCC não é um currículo, mas sim um orientador curricular. Cabe às Unidades da Federação e aos municípios elaborarem seus currículos com base nos princípios e aprendizagens essenciais definidos por ela.
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos) e habilidades, como práticas cognitivas e socioemocionais.
O Conselho Nacional de Educação (CNE), responsável por aprovar o texto final em dezembro de 2017, rêzouvêo quê, na BNCC, competências e habilidades estão relacionadas aos direitos e objetivos de aprendizagem dos estudantes. O conceito de competência é associado à mobilização de conhecimentos e habilidades indispensáveis para a vida em ssossiedade. Para isso, foram definidas dez competências gerais, quê devem guiar o trabalho em todos os anos e em todas as áreas de conhecimento. Entre as competências listadas na base estão: trabalhar em grupo, aceitar as diferenças, lidar com conflitos e argumentar, entre outras. Quatro das dez competências tratam do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A proposta da base, no entanto, não é ensinar essas competências d fórma isolada. Por isso, o professor tem papel fundamental no processo. Cabe a ele encontrar formas para, de maneira intencional e planejada, aliar o aprendizado dos conceitos ao desenvolvimento das competências. Além das competências gerais, cada área e cada componente curricular possuem suas competências específicas. As habilidades dizem respeito às aprendizagens essenciais esperadas para cada área, componente curricular e ano. São sempre
Página trezentos e cinquenta e oito
iniciadas por “verbo(s) quê explicita(m) o(s) processo(s) cognitivo(s) envolvido(s)” Nota 11. Exemplo de habilidade em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais Nota 12.
No Ensino Médio, a BNCC apresenta referências quê rompem com a organização curricular centrada exclusivamente em componentes curriculares, dando maior espaço para o trabalho com as áreas de conhecimento a fim de favorecer as abordagens interdisciplinares. Mais adiante, neste manual, trataremos da abordagem interdisciplinar adotada na coleção.
Seguindo a orientação dêêsse documento oficial Nota 13, cada escola e cada sistema de ensino deverão elaborar o próprio currículo, com o intuito de promover o desenvolvimento dos estudantes nas dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural. Esse direcionamento implica quê, além dos aspectos acadêmicos, as unidades de ensino devem expandir a capacidade dos estudantes de lidar com seu corpo e bem-estar, suas emoções e relações, sua atuação profissional e cidadã, sua identidade e repertório cultural.
Nesse sentido, a BNCC defende o princípio de uma educação integral dos estudantes, apontando quê:
[…] a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o quê implica compreender a complexidade e a não linearidade dêêsse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas quê privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades Nota 14.
Assim, a BNCC defende a construção de currículos e propostas pedagógicas quê atendam mais adequadamente às especificidades locais e à multiplicidade de interesses dos estudantes, encorajando o exercício do protagonismo juvenil Nota 15.
O protagonismo póde sêr entendido como a capacidade de enxergar-se como agente principal da própria vida, responsabilizando-se por suas atitudes, distinguindo suas ações das dos outros, e expressando iniciativa e autoconfiança. O estudante protagonista acredita quê póde aprender e encontrar as melhores formas de fazer isso não apenas individualmente, mas atuando d fórma colaborativa e participativa no contexto escolar.
Nesse sentido, a BNCC propõe quê os estudantes deixem de desempenhar um papel de meros espectadores para se tornarem sujeitos ativos do seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal. Portanto, sugere quê as situações de ensino e aprendizagem devem sêr organizadas de modo quê os estudantes ezêrçam, efetivamente, um papel autoral, ativo, criativo e autônomo de (re)construção e de invenção Nota 16.
Ao considerarmos esse princípio de altoría e de protagonismo juvenil, é necessário quê o professor, a escola e os sistemas de ensino estejam atentos à diversidade de cenários e de condições sócio-culturais nos quais as juventudes contemporâneas estão inseridas. Dentro dessa diversidade, é preciso promover a equidade. Fortalecer a equidade, um dos objetivos centrais da BNCC, pressupõe definir os conhecimentos, as competências e as habilidades quê todos os estudantes devem aprender, ano a ano, ao longo da vida escolar, independentemente de etnia, gênero, classe social ou de onde morem.
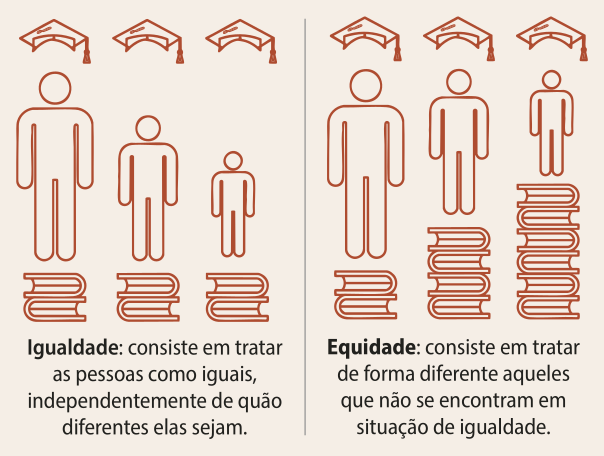
Página trezentos e cinquenta e nove
As juventudes contemporâneas
As juventudes contemporâneas são profundamente influenciadas por suas realidades culturais e sociais, e o uso de tecnologias desempenha um papel central nesse processo. No contexto da educação, especialmente com as novas propostas do Ensino Médio quê buscam promover o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, é fundamental quê as práticas pedagógicas incorporem temas das culturas juvenis no currículo como ponto de partida e com o objetivo de transcendê-las ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Essa inserção propicía uma conexão maior entre o quê se aprende e as experiências vivenciadas pêlos jovens, tornando a aprendizagem mais significativa e contextualizada Nota 18.
Tal como nos bailes funk, nas tatuagens, no squêit e no grafite, expressões culturais quê abordam kestões sociais e identitárias, a escola deve investigar as preferências e os interesses dos estudantes, como esportes, estilos musicais e artísticos. Essa pesquisa permite quê os projetos curriculares ressoem com as realidades dêêsses jovens, valorizando suas linguagens e modos de vida. Trabalhar com a cultura juvenil enriquece o processo educativo ao permitir discussões sobre diversidade, relações sociais e identitárias, kestões de gênero e outras, envolvendo vários componentes curriculares e promovendo uma abordagem interdisciplinar.
Segundo Jesús Martín-Barbero (1937-2021): “Os jovens nos falam hoje através de outros idiomas: dos rituais de vestir-se, tatuar-se, adornar-se [...]” Nota 19. Diante de um futuro profissional duvidoso, os jovens se movimentam “entre o repúdio à ssossiedade e o refúgio na fusão tribal” Nota 20. Na sua análise, Martín-Barbero ainda destaca o papel quê a música desempenha como organizador social do tempo dos jovens e como demarcação de diferentes identidades Nota 21.
Enfim, ao integrar a cultura juvenil no ambiente escolar e nas práticas educativas, é possível construir um espaço de reflekção crítica e de formação quê valoriza a identidade dos jovens, contribuindo para sua formação plena e autônoma em um mundo em constante transformação.
Promover uma educação de qualidade para todos, reconhecendo quê as necessidades dos estudantes são diferentes, requer uma série de ações, tais como: apôio técnico e financeiro do Ministério da Educação e das secretarias estaduais de educação; apôio dêêsses órgãos à formação de professores; ajustes nos recursos didáticos e nos processos nacionais de avaliação; entre outros.
No processo de construção dos novos currículos por Unidades da Federação e municípios com base nas referências da BNCC, é fundamental a escuta de toda a comunidade escolar, sobretudo dos estudantes, para quê seus anseios e necessidades contextualizem as aprendizagens.
Os conceitos e princípios da BNCC ajudam a dar novo significado para a escola e podem contribuir para a superação das dificuldades enfrentadas no Ensino Médio e para reverter a situação de exclusão de crianças e jovens menos favorecidos econômica e socialmente no Brasil.

Página trezentos e sessenta
Pressupostos teórico-metodológicos
A presente coleção destina-se à formação de jovens do século XXI. Nosso principal objetivo é habilitar o estudante à leitura e à análise crítica da realidade por meio de conceitos, teorias, procedimentos e métodos da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a fim de quê ele possa perceber as dinâmicas sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais do Brasil e do mundo para transformá-los. Propõe-se, enfim, quê o estudante possa se tornar um cidadão atuante no sentido de buscar soluções para os graves problemas contemporâneos.
A coleção foi elaborada de modo a desenvolver competências e habilidades previstas na BNCC ao longo dos três anos do Ensino Médio, em uma perspectiva de educação integral. A abordagem permite quê as competências gerais e específicas, bem como as habilidades, sêjam trabalhadas por meio do texto principal dos capítulos, das seções, das atividades e dos projetos desenvolvidos, entre outros recursos, sôbi diferentes abordagens.
As competências gerais se articulam com as competências específicas e as habilidades das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHS), tomando como base as categorias dessa área do conhecimento: Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; Política e Trabalho.
Interdisciplinaridade
De acôr-do com Juares da Silva Thiesen,
A interdisciplinaridade, como um enfoque teórico-metodológico […], surge na segunda mêtáde do século passado, em resposta a uma necessidade verificada principalmente nos campos das ciências humanas e da educação: superar a fragmentação e o caráter de especialização do conhecimento, causados por uma epistemologia de tendência positivista em cujas raízes estão o empirismo, o naturalismo e o mecanicismo científico do início da modernidade. Nota 22
No campo educacional, diórges Gusdorf (1912-2000), filósofo e historiador francês, defendeu quê o ensino deveria promover uma abordagem mais integrada, conectando diferentes disciplinas para quê o aprendizado fosse mais significativo e contextualizado Nota 23. Ele via a educação interdisciplinar como uma forma de superar a compartimentalização do conhecimento, incentivando o diálogo entre diferentes áreas e promovendo uma educação mais crítica e reflexiva para enfrentar os desafios contemporâneos Nota 24.
A obra de Gusdorf influenciou pesquisadores brasileiros, como ríltom Japiassu (1934-2015) e Ivani Fazenda (1943-), quê contribuíram significativamente para o desenvolvimento dos estudos sobre interdisciplinaridade. Japiassu e Fazenda concebem a interdisciplinaridade como uma prática quê póde modificar as relações humanas no interior da escola ao promover a efetiva superação da concepção fragmentária de sêr humano e do saber Nota 25. Nesse sentido, a interdisciplinaridade póde promover a integração de conhecimentos, visando a uma compreensão mais ampla e profunda dos fenômenos sociais, naturais e culturais, a fim de transcender a divisão tradicional do saber em disciplinas estanques.
No livro Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa, Fazenda oferece uma reflekção mais profunda sobre as práticas interdisciplinares na escola, incentivando a experimentação e a flexibilidade no currículo. Ela sugere quê a interdisciplinaridade não deve sêr vista como um modelo rígido, mas como uma prática dinâmica quê póde sêr adaptada de acôr-do com as necessidades dos estudantes e os contextos educacionais. Ela afirma quê: “O papel do professor é o de mediador entre as disciplinas e os alunos, não se tratando de diluir conteúdos, mas de encontrar pontos de intersecção quê permítam ao estudante vêr as conexões entre os diferentes saberes” Nota 26.
Por sua vez, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (Ônu), quê visam garantir o bem-estar e os direitos das pessoas em um planêta mais saudável e próspero, podem sêr um dos pontos de intersecção e um fio condutor para o trabalho da interdisciplinaridade. Por exemplo, ao trabalhar o ODS 13, quê trata da ação contra a mudança global do clima Nota 27, d fórma interdisciplinar, é possível integrar conhecimentos das Ciências Humanas e Sociais e das Ciências da Natureza, discutindo não apenas os impactos do aquecimento global, em relação à biodiversidade e ao
Página trezentos e sessenta e um
meio ambiente, mas também as implicações sociais, econômicas, históricas e políticas dessa quêstão. A interdisciplinaridade permite que os estudantes analisem o problema sôbi diferentes perspectivas e busquem soluções integradas, quê considerem tanto o desenvolvimento tecnológico quanto as políticas públicas e a responsabilidade individual e coletiva.

Outro ponto de intersecção, quê póde servir como eixo para projetos interdisciplinares na escola, são os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs). Os TCTs estão divididos em seis macroáreas temáticas: Meio Ambiente; Ciência e Tecnologia; Multiculturalismo; Cidadania e Civismo; Economia; e Saúde.
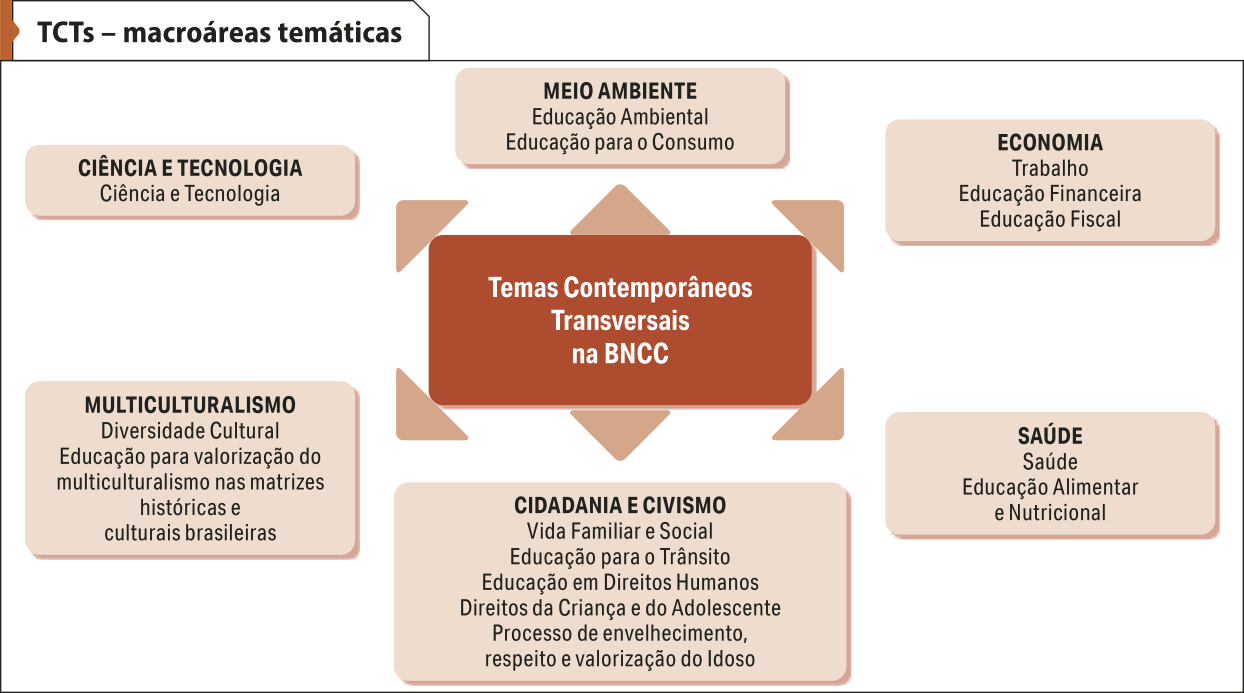
Embora os TCTs devam sêr incorporados e atravessar todas as áreas de conhecimento d fórma contínua, esses temas podem sêr trabalhados de maneira interdisciplinar. Por exemplo: a macroárea Meio Ambiente póde sêr abordada conectando Biologia (conhecimentos sobre ecossistemas), Geografia (mudanças climáticas e impactos ambientais), Sociologia e Filosofia (discussão sobre políticas ambientais e ética ambiental). Nesse caso, o tema transversal sérve como um eixo temático, enquanto a interdisciplinaridade é um método quê facilita a integração de diferentes áreas do conhecimento para um
Página trezentos e sessenta e dois
estudo mais rico e aprofundado, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (p c n) Nota 30.
Conforme previsto na BNCC, é importante quê o estudante aprenda sobre temas contemporâneos relevantes para sua atuação na ssossiedade Nota 31. Na coleção, essas temáticas são largamente exploradas nos capítulos, nos textos, nas seções, nos projetos e em seções de atividades, quê trabalham com diferentes TCTs.
A interdisciplinaridade é explorada em especial na seção Conexões com… por meio de textos, atividades de leitura, de pesquisas, da análise de dados, gráficos e tabélas, entre outros, com o intuito de evidenciar o entrelaçamento dos saberes das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com as demais áreas de conhecimento.
Assim, a coleção propicía a criação de situações didáticas, de problemáticas e de projetos quê encaminham aulas interdisciplinares dentro das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e, eventualmente, com os professores das áreas de Ciências da Natureza, de Matemática e de Linguagens.
Vale destacar quê a interdisciplinaridade não significa o abandono das especificidades dos diferentes campos do saber, tampouco a criação de uma nova ciência quê passaria a regular esses campos. O olhar específico da História para a temporalidade ou o olhar específico da Geografia para o espaço, assim como o modo de a Sociologia analisar as interações sociais ou de a Filosofia refletir de modo totalizante não podem sêr ignorados. Essa especificidade se manifesta no diálogo e na aproximação, evidenciando quê podemos construir novas formas de refletir sobre o mundo por meio dêêsses olhares distintos.
Portanto, concordamos com Jayme Paviani (1940-), quando afirma quê:
A interdisciplinaridade não é apenas a integração de um conjunto de relações entre as partes e o todo, mas também uma descoberta de propriedades quê não se reduzem nem ao todo nem às partes isoladas. Em seu nível mais alto, é uma modalidade de relação quê, sem eliminar as contribuições individuais das disciplinas, as intégra num único projeto de conhecimentos Nota 32.
Metodologias ativas
As metodologias ativas têm sua origem no movimento chamado Escola Nova, quê defendia uma metodologia de ensino centrada na aprendizagem pela experiência e no desenvolvimento da autonomia do estudante.
Um dos expoentes da Escola Nova foi o filósofo estadunidense Diôn Dewey (1859-1952). Dewey defendia a ideia de quê os estudantes aprendem melhor realizando tarefas associadas aos conteúdos ensinados Nota 33. Atividades manuais e criativas ganharam destaque no currículo, e os estudantes passaram a sêr incentivados a experimentar e pensar por si mesmos.
As metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes, com ênfase na observação de evidências, na formulação de hipóteses, na experimentação prática, entre outros recursos quê promovam uma aprendizagem ativa, diferenciando-se da aprendizagem passiva. Veja essas diferenças no qüadro a seguir.
Atividades de aprendizagem ativa |
Atividades de aprendizagem passiva |
|---|---|
Observação de evidências no contexto |
Memorização |
Formulação de hipóteses |
Reprodução de informações |
Experimentação prática |
Estudo teórico |
Tentativa e êrro |
Reprodução de protocólos ou tutoriais |
Comparação de estratégias |
Imitação de métodos |
Registro (inicial, processual e final de aprendizagens) |
Ausência de registro |
Favorecimento de foco atencional dinâmico e mediado por colaboração entre pares |
Foco atencional mais repetitivo, estático e individual |
Página trezentos e sessenta e três
Existem diferentes tipos de metodologias ativas, como sala de aula invertida, aprendizagem por projetos, aprendizagem baseada em problemas, gamificação etc., além de modelos híbridos, quê são combinações de metodologias ativas e recursos digitais. O esquema a seguir representa as etapas de uma sala de aula invertida.
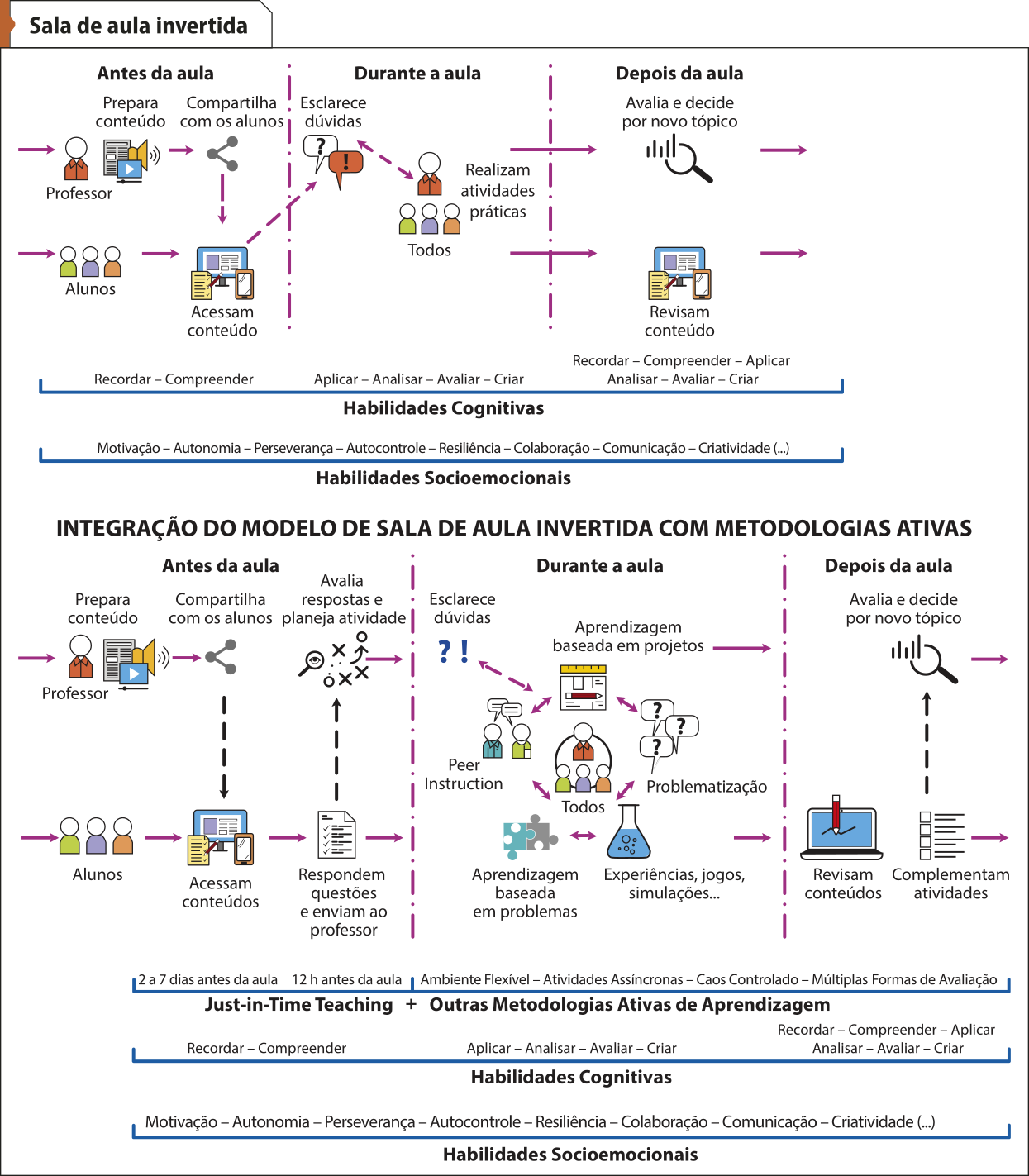
Página trezentos e sessenta e quatro
A proposta metodológica favorece a utilização de algumas metodologias ativas. A sala de aula invertida, por exemplo, póde sêr organizada pelo professor ao fazer uma conversa inicial a respeito de um novo conteúdo. Em seguida, o professor póde solicitar a leitura prévia de parte do texto central do capítulo ou a leitura de textos das seções como atividade extraclasse. Nesse momento extraclasse, os estudantes, além de ler os textos, pódem anotar suas dúvidas e fazer um glossário com as palavras-chave no caderno. Na classe, o professor pode retomar as dúvidas e as palavras-chave selecionadas em uma aula dialogada de compartilhamento e análise das informações obtidas pêlos estudantes. Depois, o professor póde escolher algumas das atividades do livro, principalmente aquelas quê solicitam a criação de diferentes gêneros textuais, dramatizações, entre outras, para quê os estudantes possam aplicar o quê estão aprendendo d fórma criativa e autoral.
Outra estratégia de aprendizagem ativa privilegiada é a aprendizagem baseada em problemas, presente em algumas seções. São partes nas quais se desen vólve a capacidade do estudante de interrogar a realidade e analisar problemas. As interpretações e soluções dos problemas levantados são buscadas tanto individualmente como em pares. O conhecimento produzido nessas atividades é socializado por meio de propostas variadas. Com base na problemática apresentada, os estudantes pesquisam informações em seu bairro, na própria escola por meio de entrevistas ou em consultas nos meios digitais. Depois, compartilham com os côlégas suas descobertas e debatem sobre o papel e a importânssia dêêsses movimentos sociais no mundo contemporâneo. A aprendizagem baseada em problemas confere aos estudantes uma posição de maior protagonismo. Ela desen vólve as habilidades de pesquisa e o raciocínio crítico. Os estudantes são incentivados a buscar soluções para problemas compléksos e reais individualmente e d fórma colaborativa. Para mais informações sobre a aprendizagem baseada em problemas, recomendamos a obra Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática Nota 36.
Na obra, adota-se também a aprendizagem por projetos, explorada na seção Investigação. É sugerido em quais momentos do processo de ensino-aprendizagem o professor poderá pôr o projeto em execução. Dependendo do arranjo quê o professor fizer dos capítulos e das séries do Ensino Médio, um mesmo projeto poderá sêr realizado em diferentes anos letivos, de acôr-do com o seu interêsse e a conveniência para ele e os estudantes.
A proposta dessa seção é favorecer a metodologia de aprendizagem por projetos. José Moran trata da importânssia dessa metodologia no processo de aprendizagem:
É uma metodologia de aprendizagem em quê os alunos se envolvem com tarefas e desafios para […] desenvolver um projeto quê tenha ligação com a sua vida fora da sala de aula. No processo, eles lidam com kestões interdisciplinares, tomam decisões e agem sózínhos e em equipe. Por meio dos projetos, são trabalhadas também suas habilidades de pensamento crítico e criativo e a percepção de quê existem várias maneiras de se realizar uma tarefa, competências tidas como necessárias para o século XXI. Nota 37
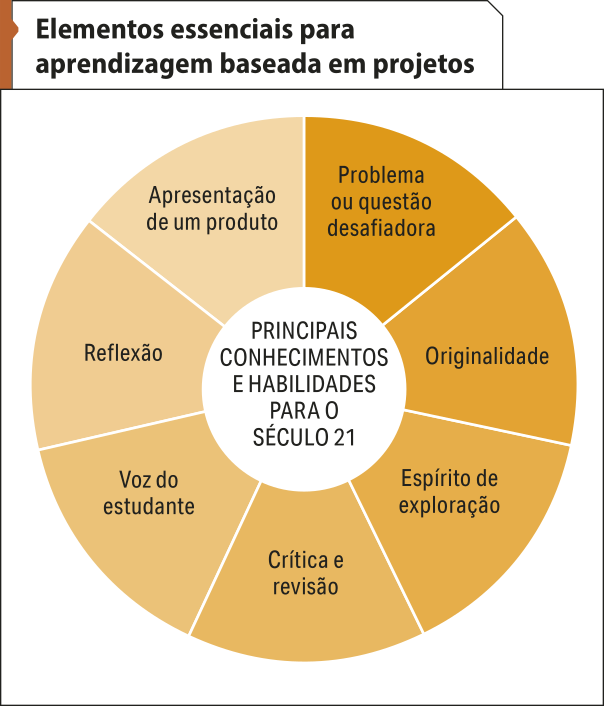
A aprendizagem por projetos é um grande desafio para a educação brasileira na atualidade. A falta de tempo para o planejamento coletivo e a pouca experiência com práticas pedagógicas interdisciplinares por parte de alguns professores podem sêr obstáculos quê precisarão sêr superados para a implementação de aulas e projetos quê integrem diferentes disciplinas e áreas do conhecimento. A proposta desta obra é colaborar para a superação dêêsses desafios, sugerindo e orientando a execução de projetos.
Página trezentos e sessenta e cinco
As formas de organização das turmas são partes fundamentais para a implementação eficaz das metodologias ativas, ajudando a criar situações didáticas mais dinâmicas e participativas. Os diferentes arranjos das atividades em sala de aula – trabalho em pares, em grupo ou individual – podem sêr utilizados em variadas situações didáticas para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Esses arranjos, é claro, dependem da realidade e dinâmica de cada professor e de cada turma.
O trabalho em pares póde sêr utilizado em alguns momentos em quê seja importante quê, em duplas, os estudantes discutam sobre um tema ou um desafio e quê tróquem informações usando seus conhecimentos prévios, por exemplo, para realizar as atividades de abertura dos capítulos. Pode-se experimentar distintas organizações: estudantes com níveis de aprendizado e habilidades diferentes ou semelhantes. O conhecimento quê o professor adqüire gradualmente sobre a turma é muito importante para decidir como as duplas serão formadas.
O trabalho em grupo favorece o protagonismo e a autonomia dos estudantes, além de proporcionar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como liderança, empatia, flexibilidade, autocontrole, resolução de conflitos, entre outras.
jã píagê desenvolvê-u algumas pesquisas em quê apresentava as observações psicológicas sobre o trabalho em grupo. Ele concluiu quê: a organização em grupos privilegia a participação do estudante como sujeito ativo no processo de aprendizagem; a troca equilibrada entre o estudante e seus côlégas é um efetivo exercício cognitivo, para quê ele tenha contato com questionamentos e visões diferentes das próprias e das do docente; o trabalho em grupo é um instrumento para a formação do pensamento racional e da personalidade, pois “aprendemos a nos conhecer pela oposição das vontades e das opiniões com as quais nos deparamos, pela troca e pelo diálogo, pêlos conflitos e pela compreensão mútua” Nota 39. A coleção busca criar várias situações para promover o trabalho em grupo, tanto nas seções como nas atividades ao longo do capítulo.
Os trabalhos individuais permitem um acompanhamento mais próximo do processo de aprendizado de cada estudante. Ele póde sêr complementar ao trabalho em grupo, por exemplo, em seminários. Nesses seminários, os alunos podem elaborar os resumos e esquemas explicativos em grupo e serem avaliados individualmente na apresentação dos temas para quê o professor possa aferir o quanto cada estudante aprendeu, quais são suas habilidades de comunicação oral e de organização do discurso. Na obra, várias atividades podem sêr usadas para trabalhos individuais, como as atividades de meio e fim dos capítulos.
Essas diferentes formas de organização do trabalho em sala de aula configuram também diversas possibilidades de disposição do espaço físico da classe. Segundo José Moran:
O ambiente físico das salas de aula e da escola como um todo também precisa sêr redesenhado dentro desta nova concepção mais ativa, mais centrada no aluno. As salas de aula podem sêr mais multifuncionais, quê combinem facilmente atividades de grupo, de plenário e individuais. Nota 40
Os processos de avaliação
Avaliar para quê?
A avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem e suscita muitas dúvidas em nós, docentes. O quê avaliar? Como avaliar? Em quê momento? Com quais finalidades? Essas são algumas kestões quê permeiam as discussões de professores e pesquisadores da área de educação, e as respostas podem sêr as mais variadas, dependendo da concepção e da prática pedagógica dêêsses sujeitos, bem como dos objetivos de aprendizagem e das características e finalidades de cada escola e sistema de ensino.
Embora não haja respostas definitivas, “a avaliação escolar, hoje, só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhor aprendizagem” Nota 41, como afirma Jussara Hoffmann.
Dessa maneira, coloca-se o foco no aprender, o quê implica reflekções a respeito do currículo, da gestão escolar, do tipo de tarefa a sêr realizada pêlos estudantes, da organização da turma de acôr-do com os objetivos de cada aula e das formas de avaliar. Independentemente do modelo de avaliação, o importante é côlher informações sobre o quê o estudante já conhece e domina e sobre suas necessidades para avançar na sua aprendizagem não apenas de conteúdos mas também de competências.
No cenário atual da educação brasileira, em quê a BNCC e suas diretrizes baseadas no desenvolvimento de competências gerais e específicas estão sêndo implementadas nas escolas e rêdes de ensino, a reflekção sobre a avaliação de competências torna-se fundamental.
Página trezentos e sessenta e seis
O sociólogo filípe Perrenoud (1944-) aponta algumas características da avaliação de competências, como a observação qualitativa, o diálogo constante entre estudante e professor ou entre pares, a autoavaliação (de quê trataremos a seguir), a compreensão do êrro e a análise crítica da resolução de problemas. Além dessas características, Perrenoud destaca a importânssia de tarefas contextualizadas, da abordagem de problemas compléksos, da utilização funcional de conhecimentos disciplinares, do prévio conhecimento das exigências das tarefas e dos critérios de avaliação como condições relevantes para a aprendizagem Nota 42.
Com base nessas características, a avaliação (assim como a autoavaliação) póde servir ao estudante para a autorregulação das aprendizagens por meio do desenvolvimento da metacognição (ver os esquemas a seguir) e da oportunidade de perceber os seus avanços ou necessidades em relação aos domínios esperados. Para o professor, a avaliação póde ajudar a demarcar as conkistas e a forma de raciocínio de cada estudante o suficiente para auxiliá-lo a avançar nos objetivos de aprendizagem. Para a escola, esse modo de avaliar põe em questão não somente o projeto educacional mas também uma mudança social por meio da ação protagonista dos estudantes para a resolução de problemas da sua comunidade.
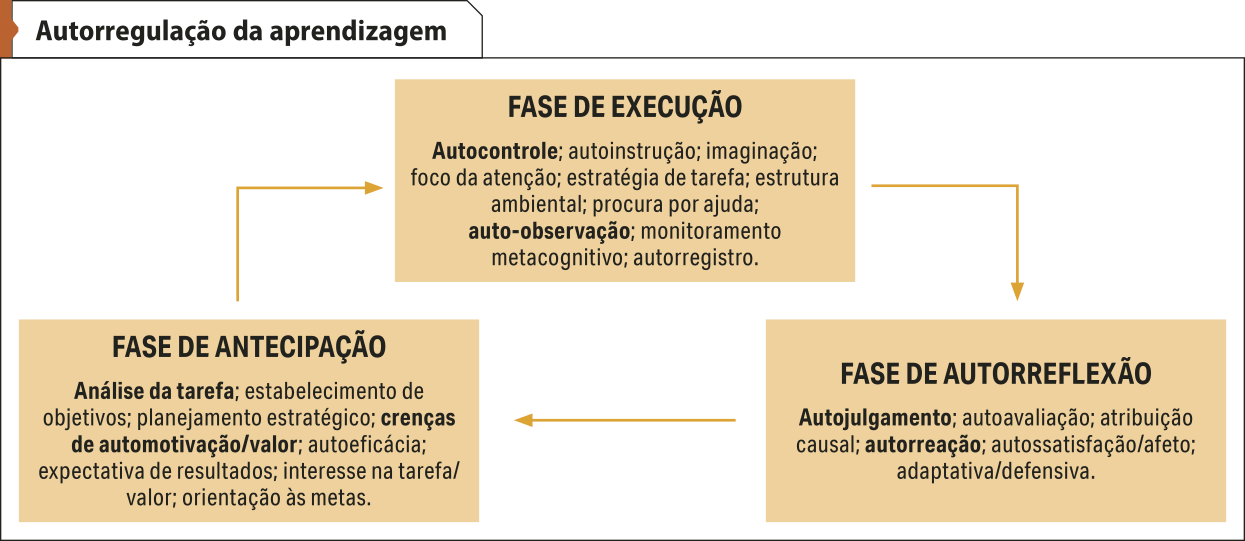
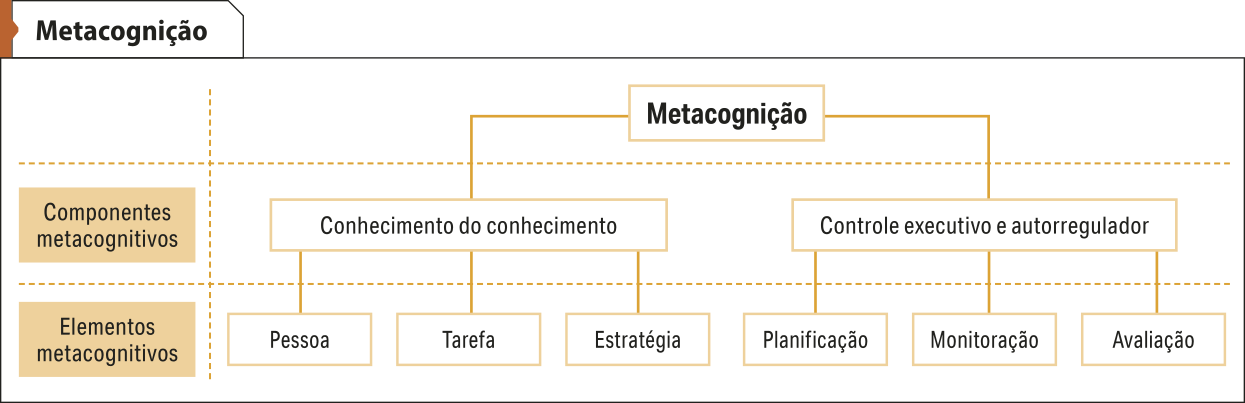
Página trezentos e sessenta e sete
Principais modelos de avaliação
Com base no quê foi exposto, podemos concluir quê a avaliação vai além de provas, trabalhos e outras atividades formais. A avaliação deve sêr para o professor uma ferramenta de análise do “ponto de partida e de chegada do processo pedagógico” Nota 45. Para isso, o professor póde lançar mão de diferentes modelos de avaliação.
José Moran afirma quê o processo de avaliação póde acontecer de várias formas: avaliação diagnóstica, formativa, mediadora; avaliação da produção (do percurso – portfólios digitais, narrativas, relatórios, observação); avaliação por rubrícas (competências pessoais, cognitivas, relacionais, produtivas); avaliação dialógica; avaliação por pares; autoavaliação; avaliação ôn láini; avaliação integradora, entre outras Nota 46.
Como se póde perceber, há uma grande variedade de possibilidades avaliativas, quê devem se adequar ao projeto pedagójikô de cada professor e unidade de ensino, bem como aos conteúdos e às competências a serem desenvolvidos ou aos objetivos de aprendizagem. A seguir, comentamos alguns dêêsses tipos de avaliação.
A avaliação diagnóstica é usada para identificar o quê um estudante sabe e em quais aspectos está defasado. Ela normalmente acontece no início de um novo segmento da Educação Básica ou no início de uma nova sequência didática do professor e abrange tópicos quê serão ensinados aos estudantes nas próximas aulas.
Os professores utilizam as informações das avaliações diagnósticas para nortear o quê e como ensinar. Com a aplicação dessa técnica, eles passarão mais tempo ensinando as habilidades nas quais seus estudantes enfrentam mais dificuldades de acôr-do com os resultados obtidos. A avaliação diagnóstica também póde sêr uma ferramenta útil para os pais. O fídi-béqui quê os estudantes recebem nessas avaliações aponta quê tipo de conteúdo eles estão trabalhando em aula e permite aos pais prever quais são as habilidades ou as áreas em quê seus filhos poderão enfrentar dificuldades.
A avaliação diagnóstica póde sêr empregada no início dos capítulos: essa avaliação póde fornecer informações ao professor sobre os conhecimentos prévios dos estudantes em relação aos conceitos e temas quê serão discutidos. Sugerimos quê, por meio da Abertura do capítulo, o professor promôva essa análise das habilidades, dos conhecimentos e dos interesses dos estudantes, já tendo em mente os objetivos quê pretende alcançar com o grupo.
Nesse momento, podem-se registrar as conclusões iniciais da turma, a fim de retomá-las ao final do estudo, com o objetivo de os estudantes fazerem as correções e complementações necessárias. Nas páginas de Abertura do capítulo são propostas, também, kestões problematizadoras do estudo. Essas kestões podem sêr retomadas durante a investigação do capítulo para quê os estudantes façam registros das informações e dos conceitos aprendidos para responder a elas ao final dêêsse processo e avaliar o tanto quê avançaram em seus conhecimentos sobre os conteúdos estudados e aperfeiçoaram suas habilidades.
A ideia de avaliação formativa foi criada pelo filósofo anglo-australiano máicou Scriven (1928-2023), em seu artigo A metodologia da avaliação, publicado em 1967. Nesse trabalho, o pesquisador afirmou quê apenas a “observação sistemática do professor consegue aprimorar as atividades de classe e garantir quê todos aprendam” Nota 47. Assim, por se basear na observação diária do dêsempênho dos estudantes, a avaliação formativa pressupõe quê os estudantes possuem ritmos e processos de aprendizagem diferentes.
Na avaliação formativa, é mais relevante obtêr informações sobre a aprendizagem do estudante, com a finalidade de ajudá-lo a progredir no seu aprendizado, do quê atribuir uma nota ou conceito a ele. Nesse sentido, a avaliação deve servir para orientar o trabalho desenvolvido em sala de aula, com a necessária diversificação do planejamento para fazer com quê todos aprendam.
Em outras palavras, em um processo de avaliação formativa, os estudantes são ponto de partida e de chegada. Nós, professores, obtemos informações quê podem sêr usadas para ajudar os diferentes estudantes a aprender. Em consequência díssu, é necessário pensar em propostas diferenciadas (provas orais ou escritas, testes, seminários, produção de textos, análise de filmes, mapas conceituais etc.). Quando a variabilidade didática não acontece, a avaliação formativa não se concretiza de fato Nota 48, como afirma o pesquisador francês
Página trezentos e sessenta e oito
xárlês Hadji (1942-). A parte específica do manual possui diversos materiais complementares quê podem auxiliar nessas propostas diferenciadas.
Individualizar o ensino, pensar em soluções criativas para ajudar os estudantes, criar instrumentos para obtêr informações consistentes sobre a aprendizagem dos estudantes e analisá-las para produzir ações corretivas são algumas das dificuldades enfrentadas pêlos docentes quê assumem esse desafio. Porém, muitos professores quê encaram esses desafios afirmam quê ele é difícil, mas vale a pena, pois a construção de uma ssossiedade democrática pressupõe quê todos tênham o direito de aprender.
Uma das formas para viabilizar esse tipo de avaliação é adotar fichas de orientação para as atividades e os trabalhos. Hadji propõe a decomposição da tarefa em suas etapas primordiais para a elaboração de critérios de realização, quê norteiam os estudantes na execução da atividade e o professor na apreciação dela. Esses critérios também informariam sobre as dificuldades, necessidades e facilidades encontradas pêlos estudantes ao cumprir a tarefa.
As fichas devem sêr ajustadas e adaptadas à realidade de cada sala de aula e aos conhecimentos e às competências desenvolvidos anteriormente pelo professor e pêlos estudantes. O fundamental é quê elas ajudem tanto na execução da tarefa como na avaliação, informando ao professor quais foram as facilidades e as dificuldades encontradas pêlos estudantes. Assim, o docente poderá planejar novas estratégias de ensino.
Pode-se recorrer às fichas de orientação e à explicitação de critérios de avaliação para auxiliar o estudante nas diversas atividades ao longo do texto principal e nas seções, o quê facilita fornecer fídi-béqui durante o aprendizado.
A avaliação somativa é geralmente realizada ao final de um programa de estudos. Ela póde sêr mensal, bimestral, trimestral ou semestral e tem como objetivo mensurar o quanto os estudantes aprenderam por meio da aplicação de provas escritas ou orais, testes, seminários, relatórios, produção de textos, entre outros instrumentos. Com base nos resultados dêêsses diferentes instrumentos de avaliação, o professor póde estabelecer uma nota ou um conceito para cada estudante. Na coleção, as atividades apresentadas no decorrer ou no fim dos capítulos podem sêr utilizadas para a aplicação de avaliações somativas.
Cabe lembrar quê a avaliação formativa e a somativa podem sêr complementares. A somativa classifica os estudantes pela quantidade de conhecimentos quê eles dominam e é usada também fora da escola em concursos, exames ou vestibulares, enquanto a avaliação formativa se preocupa mais com os aspectos qualitativos do processo de ensino-aprendizagem, sêndo muito adequada no dia a dia da sala de aula.
Por fim, a autoavaliação deve acompanhar todas as formas de avaliação, sêjam somativas, sêjam formativas. No fechamento de cada etapa do processo avaliativo, seja ela feita por blocos de conteúdos ou associada a períodos escolares, enfatizamos a importânssia da autoavaliação, momento em quê o estudante póde fazer um balanço de seu próprio aproveitamento, contando com o acompanhamento do professor. Para viabilizar a autoavaliação, devem-se apresentar, no início do trabalho com a turma, os objetivos mínimos a serem alcançados. Ao serem realizadas provas, atividades, relatórios etc., podem-se retomar os temas estudados e relembrar com os estudantes os objetivos preestabelecidos.
Esses dados servirão de parâmetros para a autoavaliação, quê póde sêr oral ou escrita. É importante lembrar que nêm todos os estudantes sentem-se suficientemente seguros para se exporem diante do grupo e quê essa característica deve sêr respeitada. É fundamental apoiar-se nos resultados dêêsse processo avaliativo para discutir conkistas e necessidades, a fim de definir posteriores mudanças.
A respeito da autoavaliação, César Coll e Elena Martín afirmam:
As atividades de avaliação deveriam atender mais a essa possível e desejável função autorreguladora por meio de uma apresentação prévia, clara e explícita daquilo quê se pretende avaliar, das finalidades perseguidas e da análise posterior dos resultados obtidos. […] Nota 49
Portanto, as conclusões da autoavaliação podem servir tanto para suscitar ações individuais como para redefinir os rumos de um projeto para a turma como um todo. Pode-se ir além da análise de conteúdos e conceitos e discutir as posturas dos estudantes perante o estudo e as tarefas, bem como em relação à convivência com os côlégas e com o professor. Sugerimos a utilização de fichas de autoavaliação para o estudante a cada finalização de capítulo, d fórma a retomar os objetivos de aprendizagem apontados no início do capítulo.
Página trezentos e sessenta e nove
Abordagem teórico-metodológica
Histórico
O mundo atual oferece muitos desafios aos adolescentes e jovens, quê precisam se orientar em uma realidade cada vez mais instável. Assistimos às catástrofes ambientais escalarem nos últimos anos, das secas às enchentes, dos deslizamentos aos incêndios, incluindo uma pandemia quê deixou muitas seqüelas para a ssossiedade e para os indivíduos. Além díssu, as mudanças de ordem internacional, com a ascensão de um mundo multipolar simbolizado pêlos BRICS, acompanhado de novos acordos comerciais e mudanças de tecnologia, colocam as pessoas diante do desafio de aprender a conviver com os conflitos regionais e a ameaça de novas guerras. Por meio da instabilidade oriúnda das rêdes sociais e das novas formas de interação interpessoal, quê incluem aspectos preocupantes como as fêik news, a incerteza chega à política e atinge também a educação. As transformações das tecnologias, do mercado de trabalho, do meio ambiente e das relações internacionais levam estudantes e professores a uma formação e uma adaptação constantes. Em meio às habilidades necessárias para mantermo-nos atualizados ante as transformações, a disciplina filosófica figura como uma fonte crucial de ferramentas de orientação, avaliação e crítica.


As palavras “crise” e “crítica” têm como mesma origem a designação grega krisis, uma bifurcação dos caminhos; portanto, trata-se de escolher entre alternativas mutuamente excludentes. Por sua vez, o vocabulário da educação filosófica, para constituir sua própria identidade, desde há muito se vale do termo “criticidade”, isto é, a habilidade de lidar com as crises, estabelecendo critérios. O sentido preciso do termo, no entanto, varia de acôr-do com os movimentos educacionais e os autores de referência Nota 50. Em todo caso, nessa palavra reside o objetivo da disciplina filosófica: prover elemêntos para uma abordagem crítica do conhecimento, inserida nas atuáis diretrizes educacionais.
A política educacional brasileira buscou, com a mais recente legislação (LDB, de 2017; e a BNCC, de 2018), orientar uma nova forma de tratar o aprendizado de modo quê ele se adaptasse às circunstâncias atuáis, direcionando-o a algo mais próximo da chamada aprendizagem significativa Nota 51. O objetivo dessa abordagem visa prover competências e habilidades aos estudantes para quê possam buscar, de maneira autônoma, seus próprios objetivos e aspirações. A intenção dessa legislação é, principalmente, adaptar os currículos a uma compreensão pragmática do ensino: não se trata de acumular conteúdos, mas, sobretudo, de desenvolver formas de se mover no mundo, enfatizando o empreendedorismo, a autonomia e a liberdade individuais. Um conceito como o de projeto de vida, amplamente trabalhado no novo currículo, tem relações estreitas com a Filosofia, uma vez quê ela poderia prover aos estudantes ferramentas para refletir sobre suas escôlhas pessoais, mudá-las, adaptá-las e avaliá-las diante dos mais variados fatores, globais e locais, sociais e individuais. Ao
Página trezentos e setenta
professor de Filosofia, esses aspectos oferecem desafios, mas também oportunidades.
Entretanto, a pecha de conteudismo dos antigos currículos incide d fórma particularmente negativa sobre a Filosofia Nota 52. Afinal, as abordagens filosóficas estiveram freqüentemente atreladas a um cultivo da erudição, muitas vezes associado ao conteudismo infecundo. Cabe ao currículo filosófico, portanto, refletir sobre sua história e buscar adaptá-la, em suas potencialidades, a êste novo cenário.
A história do ensino de Filosofia no Brasil remete, primeiramente, aos missionários jesuítas do período colonial. Esse fato nos propõe uma aproximação entre a Filosofia e o modo de vida, associado ainda à religião e até mesmo à imposição religiosa Nota 53. Na BNCC atual, a abordagem do Ensino Fundamental associa Filosofia a Ensino Religioso Nota 54. A busca por uma educação na diversidade, por sua vez, deverá levar-nos a refletir também sobre a multiplicidade de religiões no contexto brasileiro, geral e regional.
A ausência de um ensino superior consolidado no Brasil até meados das dékâdâs de 1920-1930 permite-nos atribuir a esse período a modernização do ensino filosófico, assunto sobre o qual a pesquisa especializada tem buscado apresentar análises mais precisas e profundas Nota 55. De todo modo, a cultura filosófica nacional esteve continuamente relacionada às políticas educacionais mais amplas. Até 1970, o ensino de Filosofia gozava de obrigatoriedade, todavia revogada por ocasião da ditadura civil-militar. Embora o movimento político quê levou à redemocratização tenha se esforçado notavelmente pela melhoria das condições da educação brasileira, com resultados concretos e inquestionáveis, do ponto de vista do componente curricular Filosofia a mudança determinante só ocorreria em 2008, ano no qual, após um amplo movimento dos professores, a Filosofia voltou ao currículo obrigatório.
É possível defender quê sempre houve algum ensino de Filosofia, mesmo nos momentos em quê o componente não foi obrigatório, e desde os tempos mais remotos da história nacional. Mas apenas sôbi condição de obrigatoriedade, em um contexto de ensino universal, portanto no mais recente período, o componente adquiriu seu mais eficaz impacto na paisagem educacional e cultural brasileira. Apesar do fim da obrigatoriedade da Filosofia em 2021 e da reformulação dos parâmetros curriculares com a aprovação da BNCC em 2017-2018, o legado do período 2008-2021 foi fundamental para a formação de quadros de professores de Ensino Médio, a disseminação da cultura filosófica para além das salas de aula e a percepção por parte da população da importânssia de suas discussões para o desenvolvimento da cidadania e do pensamento crítico.
Entretanto, a situação da Filosofia brasileira não é de todo favorável. A principal ameaça aos professores em geral atualmente se dá no contexto de uma investida política ampla, quê assume as mais distintas facetas, oficiais ou não. Como relatam competentes histoórias sobre o tema da ascensão das rêdes sociais, houve, desde meados de 2015, um movimento cada vez maior direcionado contra as escolas e os professores Nota 56. Com chavões como “doutrinação”, quê rendem muitos likes, movimentos obscurantistas fortalecem o exato ôpôsto das orientações educacionais contemporâneas: em vez da pluralidade e da diversidade, a intolerância. O impacto de algumas novidades dos algoritmos foi devastador para os professores, quê passaram a sofrer acusações, freqüentemente inadequadas e inconsistentes, tanto dos próprios estudantes quanto de seus responsáveis. Embora esta seja uma situação quê toca toda a comunidade escolar, nos professores de humanidades a questão se torna mais aguda, e particularmente nas aulas de Filosofia, nos níveis médio e superior.
O problema se explica pelo quê a antropóloga brasileira Letícia Cesarino (1979-) chamou de bifurcação amigo-inimigo.
[…] o colapso de contextos entre público e privádo leva a uma bifurcação do tipo amigo-inimigo em quê o campo público da política é englobado pela lógica privada de comunidades de destino compartilhadas apenas por aqueles reconhecidos como ‘amigos’, e quê são vistas como fonte da vida, do valor, da autenticidade e da verdade: o povo, a nação, a família, a igreja etc. […] Nota 57
O quê torna o caso da Filosofia particularmente agudo é justamente a disseminação das discussões filosóficas pelo público brasileiro por meio dos algoritmos opacos das rêdes sociais. Cesarino também descreve explicitamente quê esse contexto favorece ideologias quê impulsionam artificialmente seus próprios conteúdos através das platafórmas Nota 58. Isso multiplica o alcance de pseudofilosofias ideológicas, intolerantes, quê tendem a desprezar e desrespeitar os educadores. Tal cenário exige
Página trezentos e setenta e um
quê os professores de Filosofia se informem a respeito da conjuntura e das discussões atuáis e busquem se proteger dêêsse tipo de assédio, contando sempre quê possível com o apôio da comunidade escolar, das coordenações, dos côlégas e dos próprios estudantes.
Ademais, o surgimento de associações de ensino de Filosofia é um efeito recente da obrigatoriedade dêêsse componente curricular. A recente criação, em 2024, da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia (ABEFil) póde sêr um importante trunfo aos professores do componente ao criar uma comunidade em quê esses ataques podem sêr discutidos e respostas eficazes ao problema, elaboradas. Os professores não devem subestimar a importânssia de constituir uma rê-de de apôio quê se firme na comunidade do entorno, na instituição escolar e entre os pares. Nesse intercâmbio, será possível encontrar diferentes estratégias e soluções aos diversos impasses quê enfrenta a área de Filosofia.

Nesse sentido, é fundamental quê a Filosofia se ancore na imagem positiva do público a seu respeito, concentrando-se sobre as habilidades de leitura, interpretação, argumentação e reflekção, aplicadas não apenas aos conteúdos tradicionalmente considerados filosóficos mas também a toda a gama de textos provenientes dos demais componentes. Trata-se de uma tarefa difícil, sem dúvida, quê exigirá flexibilidade e diplomacia da parte dos professores. Parte da mudança se deve ao fato de quê, na presença de mecanismos universais de busca através da internet, a legitimidade do professor não póde sêr reduzida ao domínio de seus conteúdos específicos, pois depende ainda da possibilidade de mobilizá-los em conjunto com outros, oriundos das demais áreas, para a solução de diversos conflitos. A postura do mestre quê sabe tudo diante de pupilos não se adéqua à atual situação do currículo, e póde sêr mais produtivo, para a construção de um ambiente saudável em sala de aula, abdicar da aura de superioridade quê condicionava a docência em modelos educacionais anteriores. O professor deve substituí-la por uma postura aberta à discussão e a novos fatos, trazidos também pêlos estudantes e pela comunidade escolar, sem se apequenar diante da pouca familiaridade eventual com determinados assuntos e conteúdos. O problema da formação continuada dos próprios professores exige outra postura formativa e reflexiva, e é, sem dúvida, um dos principais desafios enfrentados pela área de Filosofia diante da nova composição curricular. Ela também envolve, naturalmente, a adaptação e a familiarização com as novas tecnologias digitais, tanto para seu uso em sala quanto para sua crítica bem fundamentada, principalmente quando se tornam parte integrante da vida dos estudantes, quê sabem se valer delas com mais desenvoltura.
A elaboração desta obra busca sanar outra dificuldade de adaptação ao novo currículo, o da produção dos materiais didáticos. Dada a flexibilidade das diretrizes, quê não encerram uma determinação específica dos conteúdos, a construção do currículo se torna uma tarefa compartilhada com os educadores individuais. Nesta obra, encaminha-se a questão de modo a pluralizar as abordagens, mas sem renunciar aos conteúdos específicos de Filosofia, inclusive relativos à história da Filosofia e das diferentes escolas de pensamento — afinal, abdicar da disciplinarização restrita não implica abrir mão dos conteúdos Nota 59. O professor, portanto, deve ter autonomia para utilizar o material na forma mais adequada à sua situação local particular. As propostas desenvolvidas buscam encaminhar a questão d fórma inovadora e aberta. Outros assuntos relativos à avaliação e às doutrinas pedagógicas contemporâneas podem sêr consultados ainda na introdução geral dêste manual.

Página trezentos e setenta e dois
Um último desafio das novas indicações pedagógicas diz respeito a acolher e respeitar a diversidade dos estudantes. Essa quêstão envolve aspectos religiosos, étnicos, regionais e de identidade sexual. A mesma flexibilidade presente na questão curricular também se desenha aqui, e é imprescindível aos professores que possam ouvir seus estudantes para orientá-los também em kestões cotidianas e pessoais quê freqüentemente afetam o ambiente da sala de aula. A quêstão se relaciona de muito perto ao já mencionado conceito de projeto de vida, pois toca em problemas que dizem respeito às prioridades de cada um dos estudantes, seus interesses e como valer-se de seus próprios talentos (ou limitações) para refletir sobre sua situação no mundo e possíveis atuações na ssossiedade e no mercado de trabalho. Embora isso não signifique quê o professor deva assumir outras funções da comunidade escolar, notadamente a de orientador pedagójikô, é fundamental quê haja diálogo com essas outras áreas da escola e quê o professor se mostre como uma pessoa confiável e responsável, capaz de acolher a pluralidade e lidar com os diferentes impasses quê surgem tanto entre os estudantes quanto nas relações internas das turmas.
A nova configuração pedagógica estabelecida pela legislação de 2017 e 2018 implica, de modo geral, mudanças na forma de considerar o ensino, o papel do professor e sua posição de autoridade. Não se trata, porém, de abandonar qualquer autoridade, mas de transformá-la, de modo a sustentar, diante dos estudantes, dos outros professores e da comunidade, outro tipo de liderança, mais próximo do raciocínio crítico e da solução de problemas do quê daquela atitude quê se comprazia no comando de assuntos próprios e particulares. Os desafios fornecidos pela BNCC devem sêr tratados como oportunidades, sobretudo pela Filosofia, e sua nova posição póde sêr fundamental para promover aspectos centrais do novo currículo, principalmente o projeto de vida e o ideal de transdisciplinaridade. Para isso, a diplomacia e a negociação se tornam virtudes insubstituíveis ao docente de Filosofia.
Principais fundamentos teórico-metodológicos
A Filosofia recebeu, em diferentes contextos e períodos, a alcunha de “mãe das disciplinas”. Essa condição privilegiada aponta o componente curricular como fonte histórica do desenvolvimento de cada um dos componentes particulares, mas póde também sêr interpretada como uma espécie de guardiã de um fundamento metodológico para o conhecimento em geral. Nesta segunda acepção, a Filosofia sérve como uma espécie de “coringa”, capaz de tomar as mais variadas faces e movimentar os conhecimentos, observações e raciocínios de todas as demais áreas do conhecimento. Essa acepção é mais favorável estrategicamente para uma boa inserção dos conteúdos de Filosofia. Portanto, discutem-se aqui as formas como a Filosofia póde sêr abordada, sua participação no ideal pedagójikô de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e a forma como ela póde se adaptar às chamadas metodologias ativas.
O mais candente dilema relativo ao ensino de Filosofia diz respeito à sua abordagem, entre uma transmissão de um determinado repertório dado ou uma mobilização por meio de problemas de caráter mais prático.
O primeiro tipo é assimilado normalmente a uma perspectiva conteudista, e, portanto, em desacôordo com o mais recente arranjo curricular. Ainda assim, em razão do peso de sua tradição no ensino, à qual todo professor provavelmente se expôs durante sua própria formação, é inevitável quê se discuta a forma como podemos incorporar os diversos conteúdos tradicionais da Filosofia ao segundo tipo de abordagem, claramente privilegiado pela BNCC, e quê não deve, com sua atenção à prática, abandonar completamente qualquer tipo de introdução dos conteúdos tradicionais, sôbi pena de desfigurar a identidade da própria Filosofia como componente curricular.
Como mencionado, o currículo filosófico, quando concebido como uma espécie de repertório a sêr transmitido aos estudantes, tende a uma erudição quê arrisca descolar-se dos usos concretos do aprendizado escolar. Por outro lado, faz parte da Filosofia abstrair das situações imediatas rumo a um tipo de reflekção capaz de abrir novas perspectivas sobre o mundo e a ssossiedade, de modo a libertar através delas também outras formas de lidar com os problemas concretos. Assim, embora às vezes possa parecer por demais descolada da realidade da vida cotidiana, é ainda importante, para o processo de aprendizado e da formação crítica, quê haja algum espaço para reflekções quê, à primeira vista, pareçam, aos estudantes, carentes de qualquer valor prático. É dever do professor, portanto, defender a reflekção por si mesma e mostrar o quanto a abstração do prático póde ter, em última análise, consequências benéficas para a própria prática.
A questão do repertório se divide tradicionalmente em uma bifurcação entre a história da Filosofia, dividida em períodos, e os temas da Filosofia, divididos por áreas. Em ambos os casos, é inevitável a menção a autores e conceitos centrais para as discussões, uma vez quê o conhecimento filosófico se construiu e se desenvolvê-u pela produção e pela circulação de textos escritos. O professor deve ter em mente, porém, a oportunidade quê essas abordagens oferecem de estabelecer pontes com os demais componentes; no primeiro caso, diretamente com História; no segundo, com os projetos de vida e com as kestões gerais preconizadas pela Base Curricular. Ambas as abordagens serão mobilizadas neste livro.
Página trezentos e setenta e três
A abordagem por meio da história da Filosofia põe em primeiro plano a questão do cânone, isto é, dos períodos, autores e conceitos considerados incontornáveis para uma formação integral dos estudantes. Entretanto, as mais recentes oposições ao cânone tradicional promoveram uma contínua revisão, ainda em andamento, das histoórias da Filosofia manualizadas nos livros didáticos Nota 60. É fundamental quê o professor se sensibilize quanto a essa quêstão: não é mais possível tratar apenas dos grandes nomes da Filosofia, antigos, medievais, modernos e contemporâneos. Embora não se trate de abandoná-los, é necessária a inclusão de tradições não ocidentais, bem como a valorização de todo discurso quê provenha do que foi tradicionalmente tratado como “o outro” Nota 61. Há iniciativas valiosas de recuperação de todos esses âmbitos da Filosofia, inclusive das populações historicamente oprimidas, às quais o professor deverá estar atento. Isso contribuirá para a pluralidade em sala de aula e a legitimação dos conhecimentos dos próprios estudantes.
Uma organização em temas, por sua vez, favorece a abordagem por meio de projetos e kestões contemporâneas (notícias, debates em voga etc.). Cada uma das áreas tradicionais (lógica, estética, epistemologia, ética e política) póde estabelecer pontes importantes com os demais componentes do currículo, bem como mobilizar conhecimentos práticos dos estudantes, sem com isso deixar de abordar os conteúdos tradicionais da Filosofia. É importante ressaltar, porém, quê elas devem sêr flexibilizadas diante dos problemas concretos da comunidade e dos estudantes, além de relacionadas com outros problemas de ordem histórica, social, política e/ou ambiental.
A questão dos métodos de ensino em Filosofia não póde abandonar seu principal expediente, isto é, a leitura e a escrita argumentativa. A elaboração de textos, falados ou escritos, é parte integral do ensino de Filosofia, desde a retórica jesuítica até as kestões argumentativas dos atuáis processos seletivos. Dessa forma, a pluralidade de abordagens deve sempre incorporar também atividades de leitura e escrita, gradualmente mais compléksas, ao longo dos três anos do Ensino Médio. É possível, portanto, estabelecer cooperações com Língua Portuguesa, mas também com Matemática quando se trata de interpretar gráficos ou outras formas de apresentação de dados científicos. Uma concepção ampliada de “texto” Nota 62 deve permitir ao estudante, com ajuda da Filosofia, interpretar também imagens, literatura e diagramas, além de textos provenientes de qualquer componente e inseridos em qualquer contexto. Também do ponto de vista da composição dos textos, é imprescindível havêer variedade de gêneros e a produção não apenas de textos escritos mas de discursos falados e outras modalidades de expressão pessoal. Os objetivos centrais do ensino de Filosofia, afinal, são estes: prover as ferramentas para lidar com os mais variados tipos de texto e fomentar uma postura crítica generalizada.
No entanto, resta uma pergunta crucial a se responder: como o componente curricular de Filosofia póde participar do processo de construção de um mundo melhor?
Se é exatamente êste o ponto de partida da BNCC, podemos integrá-lo a uma apresentação da abordagem por meio de problemas e projetos. Se a Filosofia não póde abdicar de seus conteúdos, pois isso a desfiguraria, torna-se parte de sua metodologia a integração a kestões gerais quê movimentem os conteúdos diante de um direcionamento à solução de problemas. Isso propicía a abordagem dos Temas Contemporâneos Transversais, elencados em Meio Ambiente, Saúde, Cidadania e Civismo, Ciência e Tecnologia, Economia e Multiculturalismo, conforme já tratado. Além díssu, cada um dos capítulos do livro iniciam nessa direção, ao estabelecer uma conexão com kestões contemporâneas e requerer dos estudantes uma reflekção direcionada antes mesmo de havêer algum contato explícito com os conteúdos.
O Ensino Médio tem como função central a preparação dos indivíduos para a vida adulta. Dessa forma, retornamos ao projeto de vida como elemento central do currículo, quê póde sêr trabalhado com proveito com base nos temas tradicionais da Filosofia. Além de colocar os estudantes em contato com outros modos de vida e outras áreas do conhecimento, inclusive aquelas quê eles talvez não conhecessem caso seguissem apenas seus próprios interesses mais imediatos, a Filosofia é capaz de ampliar as perspectivas e favorecer potencialidades menos óbvias de cada estudante. Nesse contexto, é imprescindível quê o professor tenha em mente o caráter situado dos conhecimentos, isto é, correlativo a um contexto particular cultural e socioeconômico, e quê se abra à pluralidade étnica, regional, de gênero e de interesses, de modos de vida e de visões de mundo Nota 63. A obra amplia essas referências ao longo do Manual do Professor e com as seções Saiba mais do Livro do Estudante.
O professor deve ter claro quê a divisão disciplinar atende apenas a uma necessidade de indexação dos conteúdos, quê, no entanto, se apresentam integrados e confundidos
Página trezentos e setenta e quatro
em qualquer situação concreta. Compreender a natureza interdisciplinar da experiência humana será fundamental para posicionar a Filosofia como articuladora dos demais componentes e promotora de uma visão crítica integral.

Do ponto de vista da formação dos professores, a interdisciplinaridade exige um trabalho em equipe pouco usual na prática escolar. Não falamos aqui apenas do intercâmbio, essencial entre pares do mesmo componente, mas, em nova chave, em uma coalizão quê integre os conhecimentos dos professores de várias áreas rumo à construção dessa mesma interdisciplinaridade. Para isso, é preciso familiarizar-se com os métodos, as práticas e os conteúdos dos demais professores. Os temas da Filosofia podem ampliar a compreensão de um assunto específico mas também sêr utilizados como chave de interpretação quê promove a ponte entre os conteúdos mobilizados para a resolução de um problema qualquer. Como escreve a livre docente em Filosofia Lidia Maria Rodrigo:
A interdisciplinaridade não bróta magicamente da méra diluição das disciplinas em áreas de estudo, mas supõe o trabalho integrado de equipes de professores de especialidades disciplinares afins
[...]. Nota 64
Dada a formação disciplinarizada e compartimentalizada pela qual passaram quase todos os professores, o movimento rumo à interdisciplinaridade não consiste em negar esse passado, mas em fazê-lo valer por meio de um trabalho em equipe quê não póde se limitar aos projetos dos estudantes. Ao contrário, os componentes curriculares não devem sêr compreendidos como uma divisão de objetos de estudo, mas como uma divisão de perspectivas sobre os mesmos objetos. sôb essa perspectiva, a interdisciplinaridade se torna possível, e a Filosofia póde se propor como promotora das trocas entre diferentes regiões, mas sôbi a proteção de seus próprios problemas, quê são transversais às práticas humanas. Nesse sentido, a seção Conexões dêste livro trará algumas propostas particulares de abordagem.
Uma análise das competências avançadas pela BNCC nas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas fornece o melhor guia para quê se proponham projetos, temas e problemas aos estudantes: a) Tempo e espaço; b) Territórios e fronteiras; c) Indivíduo, natureza, ssossiedade, cultura e ética; e d) Política e trabalho. As acepções literais e metafóricas de cada uma dessas competências também poderão sêr trabalhadas com mássimo proveito com o auxílio do instrumental filosófico, seguindo à risca a própria letra da BNCC.
Sujeitos ativos do conhecimento
A aprendizagem é um processo ativo Nota 65. Longe de um depósito de conteúdos, o estudante deve sêr considerado sujeito de sua própria vida, de modo a favorecer uma metodologia quê mobiliza problemas, além de questionar e estruturar o projeto de vida. Embora essa perspectiva não seja própriamente nova, é notável a dificuldade em incorporá-la à educação de massa proposta pelo ensino universal. Portanto, faz parte do esfôrço dêste livro, como deve fazer parte do esfôrço de cada professor, conectar os conteúdos com problemas contemporâneos e com kestões existenciais próprias dos estudantes. Para isso, é preciso treinar uma escuta atenta e ter contato com a vida mais ampla dos aprendizes, jamais negligenciando o sofrimento em sala de aula relativo a comportamentos excludentes e estigmatizantes.
Para a aplicação produtiva das metodologias ativas, enfatizamos aqui a importânssia da familiaridade e do contato com novas tecnologias Nota 66. Afinal, as tecnologias são parte fundamental da experiência contemporânea na maior parte dos centros urbanos, apesar das evidentes variações regionais e culturais. Porém, o freqüente papel de obstáculo à aprendizagem quê a tecnologia desempenha torna êste um dos aspectos mais importantes da experiência docente atual. Idealmente, seria preciso conhecer e criticar cada uma das ferramentas tecnológicas utilizadas pêlos estudantes, inclusive para encontrar nelas, quando possível, um uso quê contribua verdadeiramente para a formação dos jovens. A Filosofia está em posição privilegiada por sêr capaz, quando bem empregada e estruturada, de criticar qualquer tipo de “conteúdo” proveniente das rêdes e das tecnologias. Esta não é uma questão menor e deve sêr levada a sério pelo professor.
Página trezentos e setenta e cinco
Referências comentadas
DIGITAIS
• BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 2020. Disponível em: https://livro.pw/sidgm. Acesso em: 3 nov. 2024.
A chamada Constituição Cidadã instituiu as eleições livres e dirétas, promoveu a liberdade de expressão e consolidou os direitos humanos d fórma abrangente, incluindo os direitos das crianças e dos adolescentes, dos indígenas e dos quilombolas, além de promover a igualdade de gênero e muitos outros direitos.
• BRASIL. Decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: https://livro.pw/lzszc. Acesso em: 3 nov. 2024.
O decreto define as políticas e ações do Estado brasileiro para o reconhecimento, o fortalecimento e a garantia dos direitos dos povos e das comunidades tradicionais.
• BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, DF: MÉC, 2018. Disponível em: https://livro.pw/dusff saofinal.pdf. Acesso em: 3 nov. 2024.
Estabelece diretrizes para a educação básica no Brasil. O documento define competências e habilidades essenciais quê devem sêr desenvolvidas ao longo da formação escolar, abordando conteúdos quê promóvem uma educação integral e inclusiva, alinhada às necessidades sociais e culturais do país.
• BRASIL. Ministério da Educação. Competências socioemocionais como fator de proteção à saúde mental e ao búlin. Brasília, DF: MÉC, [200-]. Disponível em: https://livro.pw/ivgrh nais-como-fator-de-protecao-a-saude-mental-e-ao -bullying. Acesso em: 3 nov. 2024.
Parte da seção de Aprofundamentos do Caderno de Práticas disponibilizado no sáiti da BNCC para fomentar a sua implementação, descreve cinco competências socioemocionais com base no trabalho do Collaborative for Academic, Social, ênd Emotional lãrnin (Casel).
• BRASIL. Ministério da Educação. Cultura juvenil na escola. Brasília, DF: MÉC, [202-]. Disponível em: https://livro.pw/ubdkg. Acesso em: 3 nov. 2024.
Apresenta o debate sobre a importânssia de trabalhar as culturas juvenis no espaço escolar, indicando algumas possibilidades de contextualização da aprendizagem e demonstrando como essa abordagem póde favorecer a aprendizagem.
• BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Temas Contemporâneos Transversais na BNCC: contexto histórico e pressupostos pedagógicos. Brasília, DF: MÉC, 2019. Disponível em: https://livro.pw/lnzvd. Acesso em: 3 nov. 2024.
Documento quê estabelece os assuntos ligados aos principais temas contemporâneos quê devem sêr relacionados à realidade dos estudantes na educação básica. De caráter diversificado, os temas transversais adicionam ao currículo uma formação voltada ao trabalho, à cidadania e à democracia.
• BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF: MDH, 2024. Disponível em: https://livro.pw/jkzhr. Acesso em: 3 nov. 2024.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) torna esses indivíduos sujeitos de direitos e busca garantir a proteção integral dêêsse grupo.
• BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. Estatuto da Pessoa Idosa. Brasília, DF: MDH, 2022. Disponível em: https://livro.pw/dskkj teudo/pessoa-idosa/estatuto-da-pessoa-idosa.pdf. Acesso em: 3 nov. 2024.
Estabelece direitos garantidos a essa população, como gratuidade no transporte público e no fornecimento de medicamentos de uso contínuo, atendimento preferencial na prestação de serviços e no acesso à Justiça, entre outros. Lei sancionada em 2003, nomenclatura atualizada em 2022.
• FREIRE, Ana Maria Araújo. A leitura do mundo e a leitura da palavra em Paulo Freire. Cadernos Cedes, Campinas, v. 35, n. 96, p. 291-298, maio/ago. 2015. Disponível em: https://livro.pw/vsedb. Acesso em: 3 nov. 2024.
Conferência realizada na abertura do III Encontro de Comunidades de Aprendizagem, na qual a educadora pernambucana, quê foi companheira de Paulo Freire, aborda aspectos da vida e da obra do educador e filósofo.
Página trezentos e setenta e seis
• HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Campinas, n. 5, p. 7-41, 2009. Disponível em: https://livro.pw/higxy. Acesso em: 3 nov. 2024.
Artigo publicado originalmente em 1988, em quê a filósofa estadunidense comenta a objetividade nas ciências a partir de uma perspectiva feminista, gerando-se uma objetividade parcial e posicionada.
• RODRIGO, Lidia Maria. Competências e habilidades na nova BNCC. Como fica a Filosofia? Cadernos do NEFI, Teresina, v. 3, n. 1, p. 44-52, 2023. Disponível em: https://livro.pw/xjezr. Acesso em: 3 nov. 2024.
A educadora e livre-docente brasileira analisa o cenário atual do ensino de Filosofia com base na BNCC.
IMPRESSAS
• ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2020.
O livro apresenta um amplo panorama da história da educação e da pedagogia. Os capítulos abordam diferentes contextos históricos e apresentam descrições de práticas educativas, com atividades complementares. O livro traz importantes referências para a discussão dos rumos da educação na atualidade.
• BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.
A obra destaca a importânssia de práticas educacionais quê colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem. O livro oferece uma abordagem teórica e prática, com orientações para quê educadores implementem as metodologias ativas em sala de aula.
• BORELLI, Silvia H. S.; FREIRE FILHO, João (org.). Culturas juvenis no século XXI. São Paulo: EdUC, 2008.
A obra explora as dinâmicas e expressões das culturas juvenis contemporâneas. Com contribuições de diversos autores, o livro investiga como os jovens se apropriam de espaços culturais e tecnológicos, moldando identidades e estilos de vida no contexto globalizado.
• CEPPAS, Felipe. Anotações sobre a história do ensino de filosofia no Brasil. In: CORNELLI, Gabriele; CARVALHO, Marcelo; DANELON, Márcio (coord.). Filosofia: ensino médio. Brasília, DF: Ministério da Educação: Secretaria de Educação Básica, 2010. (Coleção Explorando o ensino, v. 14).
Nesse artigo, o filósofo e professor Felipe Ceppas aborda o histórico do ensino de Filosofia e outras kestões relevantes para a formação dos educadores dêêsse componente.
• CESARINO, Letícia. O mundo do avesso: verdade e política na era digital. São Paulo: Ubu, 2022. (Coleção Exit, v. 13).
A antropóloga brasileira explora dimensões dos fenômenos contemporâneos, como o populismo e a desinformação, buscando formas de entender as crises do cenário sociopolítico brasileiro nos dias atuáis.
• DANTAS, Luís TIAGO Freire. Descolonização curricular: a filosofia africana no ensino médio. São Paulo: Per Se, 2015.
Nesse trabalho apresentado no curso de Especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná, Dantas aborda a contribuição da Filosofia Africana para o Ensino Médio e propõe uma descolonização do currículo para quê se possa alcançar um ensino filosófico mais próximo do ambiente afro-brasileiro.
• FAZENDA, Ivani C. Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 11. ed. Campinas: Papirus, 1994. (Coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico).
A obra é um marco nos estudos sobre interdisciplinaridade no Brasil. A autora oferece uma visão abrangente sobre a evolução histórica do conceito, explorando suas bases teóricas e a importânssia de sua aplicação na educação.
• FISHER, Max. A máquina do caos: como as rêdes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Tradução: Érico Assis. São Paulo: Todavia, 2023.
A obra do repórter investigativo Max Fisher perpassa os processos históricos e os modos de funcionamento de grandes empresas de tecnologia, além de analisar os impactos globais das rêdes no cotidiano das sociedades contemporâneas.
• HADOT, Piérre. Exercícios espirituais e filosofia antiga. Tradução: Flavio Fontenelle Loque e Loraine Oliveira. São Paulo: É Realizações, 2014.
Nesses ensaios reunidos, o historiador e filósofo Hadot apresenta sua tese de quê a filosofia é um exercício espiritual preparatório para a sabedoria, uma maneira de viver, em diálogo com as kestões da contemporaneidade.
• MOREIRA, Marco A.; MASINI, Elcie F. Salzano. Aprendizagem significativa: a teoria de Daví Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982.
O psicólogo da educação estadunidense aborda a aprendizagem por meio dos conhecimentos prévios e dos significados atribuídos pêlos estudantes a suas vivências e contextos.
• PAVIANI, Jayme. Interdisciplinaridade: conceitos e distinções. 3. ed. Caxias do Sul: Educs, 2014.
Apresenta d fórma aprofundada os fundamentos conceituais da interdisciplinaridade. Paviani oferece uma
Página trezentos e setenta e sete
reflekção teórica quê ajuda a entender as interações entre diferentes campos do saber, promovendo uma visão mais integrada e colaborativa do processo educacional e científico.
• perrenô, filípe. A pedagogia na escola das diferenças: fragmentos de uma sociologia do fracasso. Tradução: Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artméd, 2002.
Nesse livro, o autor analisa as razões do fracasso escolar e faz uma crítica às instituições escolares quê não levam em conta as diferenças. Nesse sentido, Perrenoud defende a individualização dos percursos de formação e apresenta uma série de iniciativas inovadoras para a educação.
• perrenô, filípe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens: entre duas lógicas. Porto Alegre: Artméd, 1998.
O livro aborda a complexidade do processo de avaliação nas instituições escolares. Enfatiza e analisa duas lógicas quê perpassam a avaliação nos sistemas escolares: uma avaliação a serviço da seleção e outra a serviço das aprendizagens. O autor trata também da ideia de avaliação formativa e dos desafios e obstáculos para a concretização dêêsse tipo de avaliação.
• SILVA, Alexandre José de Carvalho. Guia prático de metodologias ativas com uso de tecnologias digitais da informação e comunicação. Lavras: UFLA, 2020.
O matemático e educador aborda o conceito de TDICs e fornece listas de ferramentas, aplicativos, recursos e repositórios de livre e fácil acesso. Também apresenta as principais metodologias ativas de ensino-aprendizagem e modelos de planos de aulas quê varíam em conteúdos, de tal modo a demonstrar como as metodologias ativas se aplicam a qualquer componente e segmento.
• SILVA, Franklin Leopoldo e. O outro. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. (Filosofias: o prazer de pensar, v. 13).
Para as reflekções de quêm é o outro e do que se apresenta como idêntico ou diferente, o filósofo brasileiro aborda as obras de Platão, Santo agostínho, Descartes, Sartre, poou Ricoeur e Lévinas.
• THIOLLENT, Michél. Metodologia da pesquisa-ação. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Temas básicos de pesquisa-ação).
Nesse livro, o autor apresenta a pesquisa-ação como método participativo e explora suas aplicações e resultados.
• YIN, róbert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução: Ana Thorell. 4. ed. Porto Alegre: búkmã, 2010.
Nessa obra, ím explora a metodologia de estudo de caso, oferecendo exemplos práticos e orientações para a sua aplicação na pesquisa científica.
• ZABALA, ântoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução: Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artméd, 1998.
A obra do educador espanhol é uma referência para os estudos e as práticas educativas no Brasil e para a formação docente.
Recursos e estratégias didáticas
Organização das seções de textos e atividades
A organização das seções de textos e atividades da obra procurou desenvolver as propostas pedagógicas e metodológicas citadas ao longo dêste manual. Nesse sentido, dêsênvólvem as competências e habilidades da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC (Ensino Médio), sem desconsiderar o vestibular e o enêm, e buscam evidenciar conteúdos relevantes ao estudante.
Os capítulos do Livro do Estudante se organizam em Abertura do capítulo, Atividades, Conexões, Perspectivas, Glossário, Saiba mais, Recapitule, Atividades finais e Investigação. Algumas dessas seções foram discutidas ao longo desta introdução. As divisões e os usos de cada uma das partes podem sêr consultados na introdução ao Livro do Estudante.
Conheça, a seguir, a estruturação dos capítulos dêste Manual do Professor.
Texto introdutório das orientações capítulo a capítulo
Nesta seção, resume-se o conteúdo do capítulo, em suas diferentes partes e em suas relações com problemas contemporâneos, ressaltando os principais aspectos a serem tratados durante as aulas.
Orientações didáticas
As orientações didáticas visam explicitar as relações entre os temas do capítulo e as habilidades requeridas pela BNCC, para quê o professor possa mobilizá-las de acôr-do com seu contexto institucional e local particular.
Texto complementar
Essa seção traz alguns trechos de textos não incluídos no Livro do Estudante, quê podem servir de estratégia para quê o professor traga outras fontes para a sala de aula. Além díssu, póde sêr útil para indicar outras obras
Página trezentos e setenta e oito
para consulta e prover outros textos ao professor quê esclarécem aspectos trabalhados no capítulo
Indicações
A seção traz indicações, em geral de mídias digitais (sáites, podcasts, vídeos), quê enriquecem o repertório do professor e podem sêr trazidas ou mencionadas aos estudantes d fórma oportuna. Recomenda-se verificar os conteúdos indicados, de modo a trabalhar outras facetas dos temas.
Atividade complementar
Ocasionalmente, inserem-se atividades complementares quê podem sêr utilizadas pelo professor para enriquecer a aula, trazendo outros elemêntos à discussão.
Atividades
Embora as atividades do Livro do Estudante já se encontrem resolvidas no Manual do Professor, essa seção seleciona algumas das atividades do capítulo para desdobrá-las em outras reflekções e observações, tanto quanto à forma de trabalhá-las com a turma quanto a aspectos a quê o professor deve estar atento no momento de discuti-las em classe.
Referências comentadas
Finalmente, a seção de referências comentadas indica outros caminhos quê o professor póde explorar em suas pesquisas e reflekções para mobilizar em classe, contando com uma bibliografia adicional e comentada quê esclarece os conteúdos de cada referência e facilita a navegação por um campo mais vasto.
Sugestões de cronogramas
Como estruturar o planejamento das aulas a partir das competências, das habilidades e dos conteúdos? As possibilidades são variadas e vão desde a divisão dos conteúdos em bimestres, trimestres ou semestres até a combinação de diferentes temáticas desenvolvidas ao longo da obra, com a possibilidade de inversão de capítulos de acôr-do com os objetivos de aprendizagem do professor e as características da turma.
É importante quê a seleção dos temas e conteúdos esteja conectada à realidade particular de cada unidade de ensino e da comunidade escolar, sêndo possível elaborar sequências didáticas diversificadas, de acôr-do com a realidade local. Segundo ântoni Zabala, uma sequência didática é uma construção de uma série “ordenada e articulada de atividades quê formam as unidades didáticas” Nota 67. Uma sequência didática prevê um planejamento, quê define uma situação-problema, os conteúdos e materiais de referência, os objetivos de aprendizagem, as atividades e seus encaminhamentos, a participação dos estudantes, os tipos de avaliação e as justificativas do professor sobre as escôlhas feitas. Portanto, a obra permite a elaboração de currículos flexíveis, quê se adaptem aos objetivos de aprendizagem do professor e aos interesses da turma.
Para a seção Investigação, na qual são desenvolvidos projetos de trabalho, sugere-se utilizar um projeto a cada ano, mas podem sêr feitas outras escôlhas. O tema Por uma ssossiedade menos preconceituosa póde sêr trabalhado em qualquer etapa de abordagem do conteúdo. O tema Em defesa da democracia póde sêr ancorado no capítulo 10, mas é tratado em outros capítulos. Já o tema Combate às fêik news é desenvolvido nos capítulos 6, 8 e 18. As propostas apresentam os temas d fórma conectada ao cotidiano do estudante e incentivam o envolvimento da comunidade escolar e da família.
A obra póde sêr utilizada nos três anos do Ensino Médio. O qüadro a seguir apresenta uma proposta de sequência didática d fórma sequencial. No entanto, esta sugestão para o desenvolvimento dos conteúdos não é a única possível, podendo variar conforme os contextos socioeducativos, a critério do professor.
Capítulo |
Ano |
Bimestre |
Trimestre |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
1 |
1º |
1º |
1º |
1º |
2 |
||||
2º |
||||
3 |
2º |
|||
4 |
3º |
2º |
||
5 |
3º |
|||
4º |
||||
6 |
Capítulo |
Ano |
Bimestre |
Trimestre |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
7 |
2º |
1º |
1º |
1º |
8 |
||||
2º |
||||
9 |
2º |
|||
10 |
3º |
2º |
||
11 |
3º |
|||
4º |
||||
12 |
Capítulo |
Ano |
Bimestre |
Trimestre |
Semestre |
|---|---|---|---|---|
13 |
3º |
1º |
1º |
1º |
14 |
||||
2º |
||||
15 |
2º |
|||
16 |
3º |
2º |
||
17 |
3º |
|||
4º |
||||
18 |
Página trezentos e setenta e nove
Orientações didáticas específicas
No qüadro a seguir, são apresentados os temas, as competências gerais e específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, as habilidades e os temas contemporâneos transversais desenvolvidos ao longo do volume. Além díssu, há sugestões de planejamento para o ano letivo. Nas páginas seguintes, oferecemos orientações e indicações capítulo a capítulo.
CAPÍTULO |
TEMAS |
COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS |
HABILIDADES |
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1. As vozes da filosofia |
Conceito de filosofia; história da filosofia; a tradição ocidental; outras vozes da história da filosofia; métodos filosóficos; filosofia para a vida em ssossiedade. |
1, 2, 6 |
1, 2, 5, 6 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS103 EM13CHS104 EM13CHS105 EM13CHS106 EM13CHS204 EM13CHS501 EM13CHS503 EM13CHS504 EM13CHS603 EM13CHS605 |
Ciência e Tecnologia |
|
2. Os pré-socráticos e Sócrates |
Primeiros filósofos gregos; mito e filosofia; a “arché”; o pensamento contemporâneo e o da Grécia Antiga; conceitos pré-socráticos; conexões de conhecimentos pré-socráticos com matemática e física; dialética socrática. |
1, 4, 8 |
1, 5 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS103 EM13CHS104 EM13CHS501 EM13CHS502 |
Ciência e Tecnologia |
|
3. Política e ár-te no mundo grego |
Diferenças entre filosofia clássica e helenística; democracia ateniense; Sócrates e os sofistas; teoria das ideias de Platão; forma, matéria e substância em Aristóteles; a tragédia ateniense; escolas helenísticas. |
1, 3, 4, 6, |
1, 2, 5, 6 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS103 EM13CHS104 EM13CHS201 EM13CHS203 EM13CHS204 EM13CHS501 EM13CHS502 EM13CHS504 EM13CHS603 |
Cidadania e Civismo (Vida Familiar e Social) |
|
4. Ética, utopia e distopia |
Filosofia ética e política de Platão e Aristóteles; opinião e ciência; ética teleológica; ética aristotélica; eugenia e escravidão na filosofia antiga e no presente. |
1, 6, 7, 8, 9 |
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS103 EM13CHS201 EM13CHS203 EM13CHS304 EM13CHS403 EM13CHS404 |
EM13CHS501 EM13CHS502 EM13CHS503 EM13CHS504 EM13CHS601 EM13CHS602 EM13CHS603 EM13CHS605 |
Cidadania e Civismo (Educação em Direitos Humanos) |
Página trezentos e oitenta
CAPÍTULO |
TEMAS |
COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS |
HABILIDADES |
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS |
|---|---|---|---|---|---|
5. A filosofia medieval no Ocidente |
Contexto da filosofia medieval; Santo agostínho e o simbolismo medieval; relações entre razão e fé; os universais; escolástica; essência e existência; filosofia medieval na atualidade. |
1, 2, 6 |
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS104 EM13CHS105 EM13CHS106 EM13CHS201 EM13CHS202 EM13CHS203 EM13CHS206 EM13CHS301 EM13CHS303 EM13CHS401 EM13CHS404 EM13CHS501 EM13CHS504 EM13CHS605 |
Ciência e Tecnologia |
6. A origem da lógica |
Silogismo e lógica proposicional; validade lógica; raciocínio lógico; padrões de raciocínio; as falácias em diferentes linguagens; verdade e falsidade. |
1, 2, 4, 9, 10 |
1, 2, 5 |
EM13CHS101 EM13CHS106 EM13CHS202 EM13CHS502 EM13CHS503 EM13CHS504 |
Cidadania e Civismo (Educação em Direitos Humanos) |
7. Pensamento crítico e argumentação |
Pensamento crítico; argumentação; validade, correção e consistência; lógica matemática; filosofia e linguagem; hipóteses, tomada de dê-cisão e convencimento. |
1, 2, 4, 6, 7, 10 |
1 |
EM13CHS101 EM13CHS103 EM13CHS106 |
Cidadania e Civismo (Educação em Direitos Humanos),Ciência e Tecnologia |
8. Modernidade |
Humanismo; influências da Antigüidade no Humanismo; ceticismo e relativismo em Montaigne; características do Iluminismo; enciclopedismo; Iluminismo e colonialismo; gênero e Iluminismo. |
1, 3, 6, 9 |
1, 5 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS105 EM13CHS106 EM13CHS501 EM13CHS502 EM13CHS504 |
Cidadania e Civismo (Educação em Direitos Humanos), Ciência e Tecnologia |
9. Revolução Científica e teoria do conhecimento |
Idade Média, Idade Moderna e Revolução Científica; Copérnico, Képler e Galileu; Matemática e realidade; mecanicismo; Bacon e Descartes; o empirismo de Locke; Hume e a questão da causalidade; Kant e a Crítica da razão pura. |
1, 2, 4, 6 |
1, 3, 5 |
EM13CHS101 EM13CHS306 EM13CHS102 EM13CHS501 EM13CHS105 EM13CHS502 EM13CHS301 EM13CHS504 EM13CHS302 |
Ciência e Tecnologia,Meio Ambiente (Educação Ambiental) |
Página trezentos e oitenta e um
CAPÍTULO |
TEMAS |
COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS |
HABILIDADES |
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
10. Vida em ssossiedade |
Maquiavel e a “virtù”; La Boétie e o problema da obediência; os contratualistas e o estado de natureza; a vontade geral em Rousseau; Kant e a ética. |
1, 6, 7, 9, 10 |
1, 2, 3, 5 |
EM13CHS106 EM13CHS205 EM13CHS304 EM13CHS501 |
Cidadania e Civismo (Educação em Direitos Humanos; Educação para o Trânsito), Ecnomia (Educação Fiscal) |
|
11. História no pensamento contemporâneo |
A história e a dialética para Hegel; a história segundo Nietzsche; a crítica nietzschiana aos valores; márquis, história e luta de classes; a pós-modernidade em Jameson. |
1, 2, 6, 7 |
1, 3, 4, 5, 6 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS103 EM13CHS303 EM13CHS401 EM13CHS402 EM13CHS403 EM13CHS404 EM13CHS504 EM13CHS601 |
Cidadania e Civismo (Educação em Direitos Humanos), Economia (Trabalho) |
|
12. Estética |
A ár-te na filosofia a partir do século XVIII; definições de estética; crítica de; ár-te e história da ár-te; a; ár-te contemporânea; a; ár-te e o advento da fotografia. |
3, 4, 6 |
1 |
EM13CHS101 EM13CHS103 EM13CHS104 EM13CHS106 |
Multiculturalismo (Diversidade Cultural) |
|
13. Memória e barbárie |
Memória individual e coletiva; cultura, história e barbárie; Escola de frânkfur; história dos vencidos e dos vencedores; psicanálise e memória; ditadura civil-militar e barbárie no Brasil; a memória e o presente; memória da pandemia de covid-19. |
1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 |
1, 5, 6 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS103 EM13CHS104 EM13CHS105 EM13CHS106 EM13CHS502 EM13CHS503 EM13CHS504 EM13CHS602 EM13CHS603 |
Multiculturalismo (Diversidade Cultural), Cidadania e Civismo (Educação em Direitos Humanos) |
|
14. Colonialismo |
O colonialismo no mundo contemporâneo; a descolonização; Franz Fanon; Sartre e Fanon; pensamento decolonial; Davi Kopenawa. |
1, 6, 7, 8, 9 |
1, 2, 3, 4, 5, 6 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS105 EM13CHS106 EM13CHS201 EM13CHS203 EM13CHS204 EM13CHS302 |
EM13CHS304 EM13CHS305 EM13CHS401 EM13CHS502 EM13CHS504 EM13CHS601 EM13CHS606 |
Cidadania e Civismo (Educação em Direitos Humanos), Multiculturalismo (Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras) |
Página trezentos e oitenta e dois
CAPÍTULO |
TEMAS |
COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS |
HABILIDADES |
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS |
|---|---|---|---|---|---|
15. Questão de gênero |
A questão de gênero e a filosofia; gênero, raça e classe; desigualdade e violência de gênero; sexo e gênero; diferentes grupos nos estudos de gênero; “binarismo”, “transgênero” e “queer”. |
1, 6, 7, 8, 9, 10 |
1, 4, 5 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS103 EM13CHS104 EM13CHS105 EM13CHS106 EM13CHS402 EM13CHS501 EM13CHS502 EM13CHS503 EM13CHS504 |
Multiculturalismo (Diversidade Cultural), Cidadania e Civismo (Vida Familiar e Social; Educação em Direitos Humanos) |
16. Poder e norma |
O pôdêr em Fucoul; disciplina e biopolítica; necropolítica e racismo; a ssossiedade de contrôle; gênero e pôdêr; pôdêr e resistência. |
5, 6, 7, 8, 9, 10 |
1, 2, 4, 5, 6 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS105 EM13CHS106 EM13CHS202 EM13CHS403 EM13CHS501 EM13CHS502 EM13CHS503 EM13CHS504 EM13CHS601 EM13CHS602 EM13CHS605 |
Cidadania e Civismo (Educação em Direitos Humanos), Multiculturalismo (Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras) |
17. Ciência na contemporaneidade |
Valores sociais e teorias científicas; neopositivismo; críticas de Popper ao neopositivismo; falseabilidade; Kuhn e as revoluções científicas. |
1, 2, 4, 6, 9 |
1, 4, 5 |
EM13CHS101 EM13CHS102 EM13CHS103 EM13CHS105 EM13CHS401 EM13CHS403 EM13CHS501 EM13CHS502 EM13CHS503 EM13CHS504 |
Ciência e Tecnologia |
18. Tecnologia |
Tecnologias digitais no cotidiano; Jônathan Crary e o complékso internético; ssossiedade da informação; infocracia; cinema e percepção humana; teoria do choque; impactos da tecnologia na atenção humana. |
1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 |
1, 2, 3, 4, 5 |
EM13CHS101 EM13CHS401 EM13CHS102 EM13CHS404 EM13CHS103 EM13CHS501 EM13CHS106 EM13CHS502 EM13CHS202 EM13CHS503 EM13CHS303 EM13CHS504 |
Ciência e Tecnologia, Saúde |
Página trezentos e oitenta e três
Capítulo 1
As vozes da filosofia
Neste primeiro capítulo, apresenta-se a conceituação e a análise do processo histórico quê possibilitou o surgimento da Filosofia. De modo especial, visa-se recuperar algumas vozes quê, no decorrer dêêsse processo, foram quase esquecidas e apagadas: a influência do ôriênti, a participação das mulheres e a existência de outras formas de racionalidade além da grega. Assim, desenvolve-se o tema da pluralidade de pontos de vista quê compõem a filosofia e do silenciamento a quê foram submetidas as mulheres filósofas na história dessa área de conhecimento. Fecha-se o capítulo com um debate introdutório a respeito do método filosófico.
Orientações didáticas
A reflekção quê se estende pelo capítulo centra-se na análise de processos culturais quê se formaram ao longo da história da civilização ocidental, tema quê se relaciona ao desenvolvimento da competência específica 1 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Ensino Médio. Com efeito, oportuniza-se o desenvolvimento das habilidades EM13CHS101 (ao se analisarem processos históricos, geográficos, culturais e sociais envolvidos no surgimento da filosofia), EM13CHS102 (ao se questionar o etnocentrismo da versão oficial do surgimento da filosofia como uma espécie de “milagre” grego) e EM13CHS104 (uma vez quê se procura identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas quê caracterizam a identidade da Grécia Antiga).
O capítulo se inicia, na página 12, com a sensibilização para os temas a serem desenvolvidos. A fim de atrair o estudante para a reflekção do quê seja a Filosofia e sua história, começa-se indagando o lugar dela na Educação Básica e faz-se o relato de suas idas e vindas no currículo escolar brasileiro. O atual debate em torno do lugar da Filosofia na BNCC para o Ensino Médio é o ponto de partida. Os defensores do papel formativo da disciplina, de modo geral, apontam para a necessidade de uma educação integral, quê prepare para o exercício do pensamento crítico, requisito indispensável para uma formação cidadã. Seus críticos, em geral, dão preferência a um currículo pragmático, no qual os conteúdos atendam aos requisitos de uma formação profissional.
As atividades propostas também oportunizam o desenvolvimento da habilidade EM13CHS103, pois remetem à importânssia formativa da Filosofia e aos processos político, social e cultural quê, no passado, levaram ao cerceamento e à extinção do componente nos currículos brasileiros.
Na página 14, começa própriamente a reflekção sobre a filosofia. exâmíne a origem e o significado da palavra filosofia. Tem-se philia, amor de amigo e amizade; e sophia, sabedoria. Filosofia é, pois, a amizade pela sabedoria. Vale notar quê não se trata de conhecimento como simples erudição, mas sabedoria. Sábio não é quem acumula conhecimento enciclopédico, mas quem sabe bem viver; e o sabe porque conhece a si próprio. É interessante apresentar essa sutileza aos estudantes, assim já se lhes apresenta a filosofia também como conhecimento de si.
Na página 15, faz-se uma rápida apresentação do nascimento da filosofia na Grécia Antiga. A forma como as primeiras explicações filosóficas se diferenciam das explicações mitológicas será tematizada no capítulo 2. Aqui, pontua-se o surgimento da filosofia como uma explicação racional, isto é, quê póde sêr justificada, analisada, debatida e refutada. E quê, portanto, ela se opõe a uma explicação dogmática, entendendo por dogma uma verdade posta acima de qualquer discussão. Na página 16, indica-se como a filosofia se disseminou até o período helenístico.
Na página 17, a questão é a história da filosofia e sua periodização. A página 18 encerra a apresentação inicial da filosofia questionando o etnocentrismo dessa história “oficial” da filosofia.
Entre as páginas 19 e 22, tematiza-se a presença da filosofia além dos limites do mundo ocidental: no ôriênti e no mundo árabe. Na página 20, esclarece-se um pouco a cooperação entre gregos e outros povos quê concorreram para o nascimento da filosofia. Na página 21, é reconhecida a importânssia da contribuição dos árabes na conservação dos textos gregos durante a Idade Média e de outras tradições de pensamento, como as orientais e ameríndias. A página 22 (seção Perspectivas) encerra essa sequência didática com um texto de Émile Bréhier, clássico historiador da filosofia, a fim de enfatizar o eurocentrismo quê marca seu pensamento.
As páginas 24 a 27 tematizam a pluralidade quê caracteriza a filosofia, quê recusa dogmatismos e se efetiva pelo confronto e pelo diálogo.
Página trezentos e oitenta e quatro
Atividades
Página 12 – Abertura do capítulo
1. A atividade introduz a questão da importânssia do estudo de Filosofia no currículo da Educação Básica. É uma oportunidade para identificar concepções quê os estudantes tênham a respeito do conhecimento filosófico e interesses e preocupações quê possam sêr explorados nas aulas de Filosofia.
2. A proposta da atividade é estimular a formulação de hipóteses e reflekções sobre a importânssia da Filosofia e de outros componentes curriculares da área de Humanidades para a formação cidadã e a reflekção crítica. Ambas as propostas têm como objetivo mobilizar os conhecimentos prévios quê os estudantes têm sobre a filosofia e o filosofar.
Página 15
Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes reflitam a respeito dos usos das rêdes sociais e obissérvem a importânssia do debate e da discussão em torno de diferentes pontos de vista.
Página 17
Oportunize as expressões dos conhecimentos prévios dos estudantes, de modo quê as influências de diferentes povos na cultura grega sêjam indicadas, permitindo o questionamento das proposições do filósofo alemão.
Página 19 – Perspectivas
Parte-se de um texto de Diógenes de Laércio quê quêstiona algumas versões, inclusive a aristotélica, quê creditavam o nascimento da filosofia a povos estrangeiros. Laércio afirma que se trata de uma criação inteiramente grega.
2. Há uma demarcação clara quê opera uma oposição entre a cultura grega e aquela de outros povos, chamados de bárbaros pêlos próprios gregos.
Página 21
Com base nas pesquisas realizadas pêlos estudantes, abra uma roda de conversa sobre alguns pontos quê caracterizam a reflekção filosófica de autores como Kopenawa e Daniel Munduruku, entre outros. Podem sêr trabalhadas noções como as de coletividade, individualidade e relações com a natureza, a partir das diferentes perspectivas cosmológicas e práticas culturais encontradas entre os povos indígenas brasileiros.
Página 22 – Perspectivas
1. No fragmento, o autor descreve o helenismo em termos negativos, afirmando quê se trata de um período de declínio da filosofia grega. Além díssu, ele utiliza o termo “invasão dos bárbaros”, de forte caráter etnocêntrico, para descrever o contexto da filosofia helenística.
2. Ressalte quê há, assim, uma demarcação clara entre a cultura grega e a de outros povos, chamados de bárbaros pêlos gregos.
Página 24
Resposta pessoal. Comente quê o pensamento filosófico não deve servir ao simples conhecimento da história da filosofia, mas também à discussão sobre formas de pensar criticamente a realidade e transformá-la.
Página 26 - Conexões com... Física
2. Comente quê há áreas da filosofia quê a aproximam das Ciências Exatas, como a lógica, e quê filósofos como witenstain, entre outros, se propuseram a estabelecer para a filosofia uma linguagem o mais possível matematizada.
Páginas 28-29 – Atividades finais
1. Adolescentes costumam se manifestar sobre algumas impressões quê têm da filosofia: “ela questiona tudo”, “não sérve para nada”. Evidencie quê também há quê se questionar a própria filosofia. O ditado “A filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanéce tal e qual”, quê Chaui relembra com humor, póde remeter a outros quê se ouvem desde o início da graduação e podem sêr disparadores de boas discussões. Exemplo: “O filósofo, quando dá a resposta, ninguém se lembra mais da pergunta”. É jocoso, mas também revela a complexidade do pensamento filosófico.
2. a) Pode-se ampliar a exploração da imagem para uma reflekção interdisciplinar com professores da área de CHSA. Com História, proponha uma pesquisa do qüadro completo de Sanzio, para quê os estudantes analisem outros elemêntos não diretamente relacionados à Filosofia, como o contexto histórico
Página trezentos e oitenta e cinco
de personagens e objetos ligados à Matemática, à Física etc. Com Geografia, discutir a esfericidade da Terra: quando ela foi estabelecida? Como está retratada na imagem? Com Filosofia, indagar se os estudantes se lembram de quê, a partir de meados da década de 2010, e até atualmente, nas rêdes sociais, discutiu-se se a esfericidade da Terra é real ou não. Contextualize e encaminhe uma roda de conversa sobre o tema, ressaltando quê, como comunidade de aprendizagem, na escola básica Desenvoólvem-se conhecimentos. Também se discutem opiniões, mas com base em argumentações racionais. Para análise da imagem, sugira o sáiti Descontexto, disponível em: https://livro.pw/nforl (acesso em: 27 out. 2024).
3. Comente quê, ao excluir as mulheres, a filosofia tradicional terminou por ficar privada das suas contribuições científicas sobre os problemas por ela investigados.
Referências comentadas
• DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O quê é a filosofia? Tradução: Bento Prado Jr., Alberto Alonso Muñoz. Rio de Janeiro: Editora 34, 2007.
Nesse livro, especialmente na introdução e no primeiro capítulo, os autores apresentam a filosofia e a definem não como a; ár-te de formár, mas de inventar ou de fabricar conceitos.
• MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a witenstain. Rio de Janeiro: Zarrár, 2011.
Antologia de importantes filósofos, os textos citados são acompanhados de kestões e temas para discussão, além de sugestões de leituras. Útil para o trabalho neste e em outros capítulos, para ampliar o repertório dos estudantes com textos filosóficos originais.
• RAZÃO INADEQUADA. [S. l.], c2024. sáiti. Disponível em: https://livro.pw/dbicq. Acesso em: 25 out. 2024.
O sáiti apresenta uma série de textos sobre o quê é a filosofia com base na perspectiva de filósofos como Espinosa (1632-1677), Hume (1711-1776), Bergson (1859- 1941), Camus (1913-1960), os estoicos e outros. São textos de divulgação, úteis para serem trabalhados em sala de aula. Associado ao sáiti, há o podcast Imposturas Filosóficas, em quê, em geral, cada episódio é dedicado a um filósofo. Para êste capítulo, recomendam-se os episódios 213, “Filosofia ou erosofia?”, e 218, “Pro filósofo é sempre a primeira vez”, quê apresentam a própria filosofia.
Capítulo 2
Os pré-socráticos e Sócrates
Neste capítulo, mergulhamos no pensamento filosófico da Antigüidade grega, começando pela distinção entre as abordagens mítica e filosófica na explicação dos fenômenos naturais. O texto apresenta os filósofos pré-socráticos, quê se dedicaram a investigar o princípio e o fundamento de todas as coisas (arché), utilizando uma variedade de análises sobre o cosmos e sua origem. Com base nessas reflekções, o capítulo passa a identificar as diferenças entre o pensamento grego antigo e o contemporâneo. Também discute conceitos fundamentais, como a relação entre o uno e o múltiplo, e explora as conexões entre diversas áreas do conhecimento, incluindo a Matemática e a Física. Aprofunda-se nas kestões da dialética e nos métodos de investigação de Sócrates, permitindo uma compreensão mais clara dos principais elemêntos da dialética socrática.
Orientações didáticas
Para iniciar as discussões, os estudantes são incentivados, na abertura do capítulo, a refletir sobre os Jogos Olímpicos atuáis e sua conexão com a Grécia Antiga. A atividade 1 da página 30 questiona quando e onde as primeiras Olimpíadas foram realizadas. Como sugestão de atividade alternativa, faça a seguinte pergunta disparadora: como vocês acreditam quê atletas brasileiros, como os do squêit, futeból feminino e judô, impactam a imagem do Brasil no cenário mundial? Incentive a turma a considerar o papel dêêsses atletas, destacando como suas conkistas e desafios inspiram a ssossiedade brasileira e promóvem discussões sobre ética no esporte, busca pela excelência, a importânssia de investimentos em políticas esportivas, equidade de gênero e inclusão de pessoas com deficiências. Essa abordagem inicial instigará a formação de reflekções filosóficas quê enriquecerão as discussões propostas ao longo do capítulo.
Página trezentos e oitenta e seis
Na página 32, ao explorar a relação entre mito e razão, é importante destacar quê a filosofia grega surgiu em uma ssossiedade fortemente marcada por concepções míticas, quê eram fundamentais para a compreensão da realidade. Os mitos preservavam a memória coletiva e uniam os grupos sociais, transmitindo valores morais e ensináhmentos às novas gerações. O pensamento filosófico inicial reconheceu a importânssia dos mitos, integrando-os d fórma significativa na busca por uma compreensão mais racional do mundo.
Sobre as ideias desenvolvidas pêlos filósofos pré-socráticos discutidas nas páginas 33 e 34, sugere-se o seguinte encaminhamento: peça aos estudantes quê compartilhem pares de opostos comuns em nosso cotidiano, como frio e calor, conhecimento e ignorância, luz e sombra. Anote algumas dessas ideias na lousa e, em seguida, promôva uma reflekção conjunta sobre como esses opostos se relacionam e como as características de um determinam as de seu ôpôsto. Ressalte quê, apesar das contradições, os opostos podem revelar harmonía. Incentive os estudantes a pensar sobre como as diferenças e oposições contribuem para um equilíbrio.
Na seção Perspectivas (página 35), é proposta uma atividade reflexiva relacionada ao valor quê se atribui à razão. Essa discussão permite ao estudante desenvolver a habilidade EM13CHS103 da competência específica 1 da BNCC para elaborar hipóteses e construir argumentos consistentes.
Nas páginas 36 a 39, são apresentadas as explicações dos pré-socráticos para a origem do cosmos. Sobre o tema, pergunte aos estudantes: por quê vocês acham quê as ideias dos pré-socráticos sobre a origem do cosmos são importantes para a forma como entendemos o mundo hoje? Ressalte quê essas reflekções foram importantes porque representaram as primeiras tentativas de explicar o mundo d fórma lógica e racional, sem se basear nas explicações míticas. Isso abriu caminho para o desenvolvimento de conhecimentos alicerçados na observação e no raciocínio.
Na seção Conexões com... Matemática, da página 40, são destacadas as contribuições de Pitágoras e seus discípulos para a Geometria e o conhecimento matemático, visando à ideia de universalidade. Para facilitar aos estudantes o entendimento dêêsse conceito, sugira quê se reúnam em grupos para elaborar um texto argumentativo. Os estudantes devem escolher um conceito universal, como liberdade, justiça ou amizade, e relacioná-lo a algumas situações do cotidiano, como a convivência na família, na escola e na ssossiedade. Após a elaboração, peça-lhes quê apresentem as ideias do grupo em uma roda de conversa.
Entre as páginas 41 e 43, são abordadas as principais ideias de Sócrates, seu método de investigação e construção do conhecimento, além da opinião de seus contemporâneos sobre o filósofo. Para incentivar o pensamento crítico dos estudantes, sugerimos fazer perguntas como: o quê é a felicidade? Após ouvir as respostas, instigue-os com novas perguntas para aprofundar a reflekção: se a felicidade é ter tudo o quê quêremos, o quê muda quando perdemos algo? Continue a dinâmica desafiando-os a rever suas opiniões. Ao final, peça quê exponham o quê aprenderam com a atividade, orientando a discussão de modo que eles possam refletir sobre como esse método póde filtrar e questionar opiniões, crenças e valores, evidenciando como eles influenciam as percepções da realidade.
As atividades propostas na seção Perspectivas, na página 44, possibilitam o desenvolvimento da habilidade EM13CHS101 da BNCC de identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas, incentivando os estudantes a explorar perspectivas diversas, como diálogos platônicos e relatos históricos.
Na página 45, na seção Recapitule, pode-se propor aos estudantes quê, em grupo, elaborem um mapa mental sobre o tema central “Os pré-socráticos e Sócrates” (consulte adiante a seção Texto complementar). Comece desenhando um grande retângulo na lousa e escrêeva o tema na parte central. Pergunte aos estudantes sobre as principais ideias relacionadas ao tema. Em seguida, crie ramificações partindo do retângulo para subtemas, como as ideias dos pré-socráticos e de Sócrates. Incentive os estudantes a contribuírem. Por fim, explore as conexões entre as ideias presentes no mapa.
A seção Atividades finais (páginas 46 e 47) apresenta uma série de atividades quê podem sêr realizadas individualmente ou em duplas. Corrigir algumas kestões em conjunto com a turma facilita a compreensão dos conceitos e promove uma discussão enriquecedora, permitindo quê os estudantes aprendam uns com os outros e esclareçam possíveis dúvidas.
Texto complementar
A utilização do método do mapa mental auxilia os estudantes a organizar e registrar informações d fórma visual, facilitando o processamento de ideias em torno de um tema
Página trezentos e oitenta e sete
central. Utilizando linhas, símbolos, palavras-chave, cores e imagens, o método organiza as ideias e estimula a criatividade, permitindo visualizar os conteúdos aprendidos.
[...]
O mapa mental póde sêr considerado um diagrama visual utilizado para registrar e organizar informações d fórma quê o cérebro processe os pensamentos, ideias ou fatos dispostos em torno de um tema central. [...]
[...]
Percebe-se a eficácia do uso do mapa mental para todos os tipos de atividades, incluindo a aprendizagem, ensino, pesquisa, gestão de projetos, organização e resolução de problemas. [...].
[...]
ZANDOMENEGHI, Ana Lúcia Alexandre de Oliveira; GOBBO, André; BONFIGLIO, Simoni Urnau. A utilização do mapa mental como ferramenta facilitadora no desenvolvimento da habilidade da escrita. Revista Educação e Emancipação, São Luís, v. 8, n. 1, p. 11-48, jan./jun. 2015. p. 14. Disponível em: https://livro.pw/xikhb. Acesso em: 24 out. 2024.
Atividades
Página 30 – Abertura do capítulo
2. A resposta é pessoal e permite ao estudante refletir sobre kestões filosóficas, como a importânssia da competição saudável, a união entre diferentes culturas e a relação entre esporte e ética.
Página 33
Ao debater o conceito de sabedoria, os estudantes exercitam o pensamento crítico e a argumentação, refletindo sobre como a ideia de sabedoria se aplica à realidade contemporânea.
Página 35 – Perspectivas
1. Por palavra primordial, o autor se refere ao “pensar”, quê é “ouvir o quê o mundo diz”, “o próprio discurso do real”, com o qual a mente e a totalidade da existência devem estar conformes. Portanto, o poeta, o mago, o profeta, o lógico e o raciocinador, todos eles de alguma forma seguem, transcrevem, exploram e transmitem o discurso do real como referente a toda a existência, por completo.
2. A atividade propõe quê a valorização dos pensadores, sêjam antigos ou contemporâneos, depende do quê consideramos importante para o conhecimento.
Página 37
1. A atividade possibilita aos estudantes desenvolver uma percepção maior sobre o significado do termo “ser” na filosofia grega antiga, ao incentivá-los a explorar como essa noção abrange tudo o quê existe. Cada objeto em nossa frente faz parte do “ser”, mas não é o “ser”. O “ser” é a completude de tudo o quê existe: ele é eterno, idêntico, imóvel.
2. As coisas quê chegam a nós pêlos sentidos estão sempre em movimento, mudando o tempo todo. Portanto, o sentir está relacionado aos movimentos do mundo, enquanto o pensar diz respeito ao imóvel quê subjaz a tudo e permanéce constante apesar díssu tudo.
Página 39
1. A questão proposta leva os estudantes a refletir sobre a conexão entre religião e ética na comunidade de Pitágoras, explorando como tabus e práticas espirituais moldavam o cotidiano dos seus membros.
Página 40 – Conexões com... Matemática
2. É possível desenvolver habilidades de raciocínio lógico-matemático e de resolução de problemas ao aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a soma de x + y.
Página 42
Nas atividades 1 e 2, o estudante é incentivado a refletir sobre a importânssia do questionamento na busca por conhecimento, destacando a relevância do método socrático em um mundo contemporâneo repleto de informações superficiais.
Página 44 – Perspectivas
As atividades facilitam a compreensão da maiêutica de Sócrates, quê ecoa no trabalho das parteiras. Permitem o desenvolvimento de reflekções sobre o conceito de sabedoria e ampliam a compreensão crítica dos estudantes.
Página 46 – Atividades finais
2. O trabalho em duplas para discutir conteúdos de filosofia, como a mitologia grega, é importante porque promove a cooperação e a troca de ideias, permitindo quê os estudantes aprofundem seu entendimento
Página trezentos e oitenta e oito
por meio da pesquisa conjunta. Você poderá deixar a escolha dos mitos às duplas ou selecioná-los e atribuí-los.
7. É importante debater a quêstão do modo de vida antes da resposta dos estudantes e perguntar a eles quais são os princípios que defendem e seguem ou gostariam de seguir. Muitas atitudes do cotidiano podem sêr comentadas nesta atividade. É importante ouvir de cada estudante o quê ele defende para quê, com isso, ele possa construir o texto.
Página 47
As atividades do enêm oferecem ao estudante a oportunidade de refletir sobre as interpretações de diferentes culturas a respeito da origem e da estrutura do Universo, promovendo o desenvolvimento de uma compreensão crítica das diversas narrativas quê moldam as percepções sobre a realidade. As atividades mobilizam a habilidade EM13CHS102 da BNCC ao incentivar a análise das circunstâncias históricas, sociais e culturais dos conceitos de cosmologia e as explicações racionais sobre a origem do Universo trabalhadas nas atividades.
Referências comentadas
• COSTA, Gisele Alves; MARTINS, Adriana R. D. A escrita do texto dissertativo-argumentativo: um estudo de caso sobre as competências 2 e 3 do enêm. Mandinga: Revista de Estudos Linguísticos, Redenção, CE, v. 4, n. 1, p. 56-67, jan./jun. 2020. Disponível em: https://livro.pw/pzcfu. Acesso em: 24 out. 2024.
O artigo propõe reflekções sobre a importânssia da aprendizagem por meio da elaboração de textos argumentativos para estudantes do Ensino Médio, sobretudo os quê pretendem ingressar em universidades por meio do enêm.
• KUNZLER, Luana; NEUENFELDT, Derli Juliano; SCHUCK, Rogério José. Contribuições do entrelaçamento entre a maiêutica socrática e a pedagogia freiriana para o ensino. Pesquisa e Debate em Educação, Juiz de Fora, v. 14, p. 1-22, 2024. Disponível em: https://livro.pw/tckmx. Acesso em: 24 out. 2024.
Os autores investigam de quê maneira a combinação da maiêutica socrática com a pedagogia de Paulo Freire (1921-1997) póde enriquecer o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
• MOURA, Adriana Ferro; LIMA, Maria Glória. A reinvenção da roda: roda de conversa, um instrumento metodológico possível. Revista Temas em Educação, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 95-103, 2014. Disponível em: https://livro.pw/kgexo. Acesso em: 24 out. 2024.
O estudo analisa as rodas de conversa como um método de diálogo coletivo, quê promove a troca de experiências e saberes entre as pessoas e cria um ambiente reflexivo em quê cada um póde expressar suas ideias e perceber as perspectivas dos outros.
Capítulo 3
Política e ár-te no mundo grego
O capítulo destaca as diferenças entre a filosofia clássica e a filosofia helenística por meio de elemêntos da democracia e da política ateniense. Inicialmente, explora as ideias de Sócrates, quê buscava a essência das coisas por meio do diálogo, em contraste com os sofistas, quê embasavam seus argumentos na ár-te da retórica. A discussão avança para a teoria das ideias de Platão, quê divide a realidade em dois mundos: o mundo sensível, quê habitamos, e o mundo inteligível, chamado de mundo das formas ou mundo das ideias. Em seguida, apresenta-se Aristóteles, quê tem abordagem distinta: considera a realidade como combinação d fórma, matéria e substância estruturada no conceito de metafísica. O texto passa a explorar as tragédias grêgas, quê, além de estimular reflekções sobre a condição humana, ilustrando dilemas morais e éticos, dêsempênham papel significativo na educação e na formação da identidade cultural grega. Por fim, são apresentadas as influências de três escolas helenísticas: estoicismo, epicurismo e ceticismo, fundamentais no desenvolvimento do pensamento ocidental, focando em temas como paixões, felicidade, paz de alma e equilíbrio.
Orientações didáticas
Na abertura do capítulo, nas páginas 48 e 49, são abordadas a luta por direitos e a liberdade de expressão em um contexto de repressão e desigualdade, promovendo reflekções sobre a democracia e o papel dos cidadãos.
Página trezentos e oitenta e nove
Para instigar a discussão sobre o tema, sugere-se iniciar a aula com algumas perguntas disparadoras: como você se sentiria se não pudesse expressar suas opiniões em sala de aula? por quê é importante ter esse espaço para falar? Com base nas respostas, é possível ajudar os estudantes a entender a importânssia dos valores democráticos, tanto na educação quanto nas outras esferas da ssossiedade. O professor póde retomar o conteúdo de História já visto pêlos estudantes no Ensino Fundamental: Atenas era uma das cidades-estado da Grécia. A Grécia não era como é hoje, um país, mas uma região quê incluía territórios hoje pertencentes a outros países, como a Itália ou a Turquia. Esse território tinha diversas cidades quê eram independentes em relação umas às outras, por isso elas são chamadas de cidades-Estado.
É possível destacar ainda quê, no contexto do mundo grego, um importante momento para o desenvolvimento da noção de liberdade de expressão é a luta de setores da ssossiedade ateniense contra a oligarquia ateniense. Essa luta está intimamente ligada ao desenvolvimento da filosofia, quê estimulava o debate e a reflekção crítica. Essa reflekção mobiliza a habilidade EM13CHS603 da BNCC ao possibilitar a análise de experiências políticas e do exercício da cidadania na formação das sociedades.
Na página 50, ao trabalhar kestões sobre classicismo e helenismo, é importante mostrar aos estudantes como a cultura helenística se tornou uma referência duradoura para a filosofia, as artes e a arquitetura. Essa referência, por exemplo, foi retomada séculos depois, durante o Renascimento cultural europeu, promovendo a criação de estilos artísticos e a ampliação da produção cultural na Europa durante a Idade Moderna.
Para debater a ár-te da retórica, apresentada na página 51, sugere-se fazer perguntas quê incentivem a discussão conjunta sobre o tema. Por exemplo: como as rêdes sociais influenciam suas crenças e valores? Você consegue distinguir informações verdadeiras de fêik news? Essa abordagem ajuda os estudantes a conectar os temas do tópico com experiências próprias e mobiliza a habilidade EM13CHS103 da BNCC, permitindo a elaboração de argumentos com base nas reflekções.
Sobre o dualismo corpo-alma, discutido na página 52, pode-se incentivar os estudantes a transpor essa dualidade à realidade contemporânea. Nesse contexto, é possível explorar como algumas vertentes religiosas atuáis percebem essa dualidade. Muitas tradições religiosas veem o corpo e a alma como entidades distintas, o corpo sêndo temporário, e a alma, eterna. Ao atualizar as discussões propostas na Antigüidade grega, os estudantes refletem sobre a própria identidade, crenças e sentidos da vida.
Na seção Perspectivas, na página 54, a atividade proposta sobre o fragmento do texto de Marco Zingano mobiliza a habilidade EM13CHS104 ao possibilitar quê o estudante analise vestígios sobre a identidade das sociedades ao longo da história e em contextos diversos.
Para uma visão geral do pensamento de Aristóteles, discutido nas páginas 55 e 56 e quê será retomado em capítulos posteriores, pode-se propor préviamente uma breve pesquisa aos estudantes, para quê tênham em mente aspectos importantes da obra aristotélica.
Nas páginas 57 e 58, passa-se ao segundo eixo temático do capítulo: as tragédias grêgas. Para iniciar o estudo, uma sugestão de atividade é reunir os estudantes em grupos para elaborar breves dramatizações sobre temas relevantes ao cotidiano da escola, quê envolvam dilemas morais e emocionais significativos. O mesmo tema será dramatizado por alguns grupos como comédia e por outros, como tragédia, para quê os estudantes façam a aproximação com o tema e identifiquem diferenças possíveis entre os dois gêneros.
No Texto complementar a seguir, destaca-se a importânssia do teatro no ambiente escolar, ressaltando seu papel na comunicação, como meio de expressão dos sentimentos e para a troca de ideias entre os estudantes. Cada grupo deve escolher um tema em acôr-do com o professor, criar um roteiro e ensaiar a apresentação, quê deve durar entre cinco e oito minutos. Ao final das encenações, é fundamental promover uma reflekção conjunta, incentivando os estudantes a compartilhar impressões e discutir emoções e mensagens transmitidas pelas apresentações.
Texto complementar
O teatro é um recurso pedagójikô quê incentiva o estudante a explorar suas emoções, possibilitando o desenvolvimento de habilidades sociais por explorar sensações e ampliar as relações interpessoais para além da linguagem exclusivamente verbal. O gênero também promove a cooperação entre os participantes, além de fomentar o autoconhecimento e outras formas de interação. O ambiente escolar se enriquece, fazendo aflôrár a emoção e a sensibilidade.
Página trezentos e noventa
[...]
Como instrumento capaz de propiciar ao aluno uma educação estética calcada na experienciação, o teatro favorece uma relação sensível e diréta com o outro; uma ampliação da percepção, a partir da experimentação [...].
MORAES, Danielle Rodrigues de. Teatro na escola: a reinvenção do espaço vigiado. Urdimento: Revista de Estudos em Artes Cênicas, Florianópolis, v. 2, n. 17, p. 47-53, 2018. p. 48. Disponível em: https://livro.pw/qbyfp. Acesso em: 24 out. 2024.
Na seção Conexões com... História, apresentada na página 59, o trecho do livro de Jean-Pierre Vernant e Piérre Vidal-Naquet, Mito e tragédia na Grécia Antiga, de 1999, destaca a tragédia como uma forma de; ár-te intimamente ligada à vida social e política da cidade. Ela vai além do simples entretenimento e sérve como um espaço para reflekção crítica sobre a realidade. Sobre essa quêstão, é importante que os estudantes percêbam quê, como na Antigüidade, o teatro e outras manifestações artísticas atuáis continuam a desempenhar papel essencial em nossa cultura, além de serem canais de crítica social, política e cultural.
Para aprofundar as kestões discutidas nas páginas 60 e 61, sugere-se quê os estudantes se reúnam em duplas para redigir uma breve dissertação sobre o lugar quê a felicidade, a paz de alma e o equilíbrio têm no mundo contemporâneo. Ao final, os estudantes poderão compartilhar seus textos em uma roda de conversa, possibilitando o diálogo, a troca de ideias, a ampliação da compreensão sobre os temas e a crítica das kestões filosóficas abordadas.
Na seção Recapitule, na página 62, para desenvolver uma aprendizagem colaborativa, podem-se anotar na lousa palavras-chave, como “diálogo”, “retórica”, “mundo sensível”, “metafísica”, “tragédia”, ‘felicidade” e “equilíbrio”, e pedir aos estudantes quê façam comentários sobre elas embasados nos aprendizados propiciados pelo capítulo. Ao relacioná-las com o texto, os estudantes podem compartilhar suas compreensões sobre as temáticas discutidas, reforçando o conhecimento e esclarecendo possíveis dúvidas.
Na página 63 são sugeridas atividades quê incentivam os estudantes a refletir sobre os temas discutidos no capítulo. Realizar a correção coletiva de algumas delas póde reforçar o entendimento dos conteúdos, promover o diálogo e mostrar diferentes percepções dos temas.
Atividades
Página 48 – Abertura do capítulo
1. Se julgar quê a turma não está suficientemente informada sobre a Primavera Árabe, solicitar breve pesquisa com antecedência.
2. Conduza a turma na rememoração de exemplos de países quê vivem sôbi democracias e de países quê vivem sôbi ditaduras. Peça-lhes quê comentem os limites e problemas das democracias atuáis. Encerre com uma reflekção sobre o papel da cidadania para a permanência da democracia.
Página 51
Os estudantes poderão analisar criticamente a retórica, a; ár-te da persua-zão e do convencimento. Importante quê saibam discernir entre persua-zão baseada na ética e manipulação da informação. Eles deverão sêr capazes de aplicar tais conteúdos ao fenômeno atual das fêik news.
Página 53
A atividade é uma boa oportunidade para quê os estudantes efetivem uma autoavaliação da apreensão do conteúdo até essa etapa de estudo do capítulo. promôva uma roda de conversa para quê apresentem suas respostas e conheçam as interpretações dos côlégas.
Página 54 – Perspectivas
1. Recomenda-se a leitura em sala de aula da alegoria da caverna, quê consta na obra A república, de Platão. Assim, o estudante póde ter contato com o texto do próprio Platão antes de ler um historiador da Filosofia quê explica a alegoria. No capítulo 4, a alegoria será retomada, sôbi a perspectiva da ética e da política.
2. Com o simples domínio da retórica uma pessoa não póde convencer alguém quê tenha conhecimento. Quem possui opiniões póde sêr persuadido porque opiniões são mutáveis; o conhecimento, por sua vez, é objeto de conviquição.
Página 56
Recomenda-se o uso de dicionários ou enciclopédias para quê o estudante ezamíne definições de outros objetos e possa construir a própria definição.
Página trezentos e noventa e um
Página 58
A discussão sobre séries e filmes com enredos sobre perdas, mortes e sofrimentos possibilita aos estudantes refletir sobre o impacto dêêsses acontecimentos na vida humana e relacioná-los às tragédias grêgas.
Página 59 – Conexões com... História
Ao solucionar as atividades o estudante deverá compreender a relação entre ár-te e ssossiedade, observando como a tragédia na Grécia Antiga questiona a realidade grega e propõe reflekções sobre convivência na cidade.
Página 61
Muitos coaches e figuras públicas pregam o estoicismo, mas com um discurso desvinculado da investigação filosófica e da epoché. No estoicismo instrumentalizado não há suspensão do juízo e, em geral, ele é vinculado a ideias de sucesso profissional e financeiro.
Página 63 – Atividades finais
1. A atividade permite ao estudante refletir sobre como a experiência estética, no caso, a tragédia, propicía conhecimento, autoconhecimento e descoberta de sensações e emoções.
2. As discussões sobre a ataraxia podem remeter à reflekção sobre o tema da saúde mental. O hábito de refletir e meditar, como faziam, por exemplo, estoicos e hedonistas, póde auxiliar os estudantes no autoconhecimento e reconhecimento das emoções, com efeitos, por exemplo, sobre o contrôle da ansiedade.
Referências comentadas
• COSTA, Andréa Leite da. A carta sobre a felicidade: uma proposta de reflekção a partir do epicurismo. Prisma: Revista de Filosofia, Manaus, v. 2, n. 2, p. 99-119, 2020. Disponível em: https://livro.pw/vubjp. Acesso em: 24 out. 2024.
A autora propõe quê a Carta sobre a felicidade, de Epicuro, póde inspirar os estudantes no trabalho com textos filosóficos e orientar discussões sobre problemas contemporâneos, como estresse, ansiedade e depressão.
• FRANCISCO, Gilberto da Silva. “Somos todos gregos”: a influência da Grécia de Pércy B. chélei. Revista História e Cultura, Franca, v. 2, n. 3, p. 17-40, 2013. Disponível em: https://livro.pw/hgqcc. Acesso em: 24 out. 2024.
O texto analisa a expressão “somos todos gregos”, contextualizando sua formulação em um período de intensa admiração pela Grécia Antiga, especialmente entre artistas e intelectuais românticos da primeira mêtáde do século XIX. O artigo discute a evolução dessa ideia e as críticas surgidas em relação à conexão diréta entre uma Grécia idealizada e o mundo contemporâneo.
• MEDEIROS, Adriana Clementino de. O uso da ár-te como um recurso moralizante da Hélade. Principia, [s.l.], n. 18, p. 45-52, 2009. Disponível em: https://livro.pw/ytwgz. Acesso em: 24 out. 2024.
O artigo explora a; ár-te helenística, destacando o olhar ousado sobre o nu e como isso influenciou a representação do corpo em períodos posteriores.
Capítulo 4
Ética, utopia e distopia
A reflekção sobre o tema da justiça, com base em Platão e Aristóteles, é o eixo do capítulo. Inicialmente, esclareça aos estudantes quê Platão e Aristóteles adotam uma abordagem racionalista no tratamento do tema, isto é, atribuem à razão, o logos, o pôdêr de dominar as partes irracionais da alma.
Certifique-se de quê foi compreendido o princípio ético quê liga o pensamento de Platão e de Aristóteles ao domínio de si (autarquia, em grego). A ele, Platão opõe a ideia de pleonexia, quê corresponde ao desejo de ter sempre mais, quê originalmente se refere a enriquecer, mas se aplica também a ter mais pôdêr e outros desejos.
É Platão quem desen vólve as consequências políticas da atitude socrática, daí o maior destaque dado a ele no capítulo. O filósofo reconhece quê a atitude socrática é insuficiente, por centrar-se no plano individual. Assim, critíca o relativismo do discurso sofístico e propõe quê a comunidade política seja fundada na educação e na formação dos cidadãos, a paideia.
Após apresentar os elemêntos quê fundamentam a Kallípolis platônica, o capítulo apresenta algumas críticas
Página trezentos e noventa e dois
feitas por Platão à democracia ateniense. O filósofo também critíca o elitismo quê se depreende da epistocracia, o govêrno dos sábios quê a república ideal confere exclusivamente aos conhecedores da verdade: esses são os quê devem governar. O problema da exclusão da maioria certamente provocará boas discussões com os estudantes, bem como os fundamentos da ética platônica. Afinal, a paideia e a participação política são para todos ou não?
Destaca-se, em Aristóteles, a investigação sobre o conceito de virtude e o ideal do meio-termo. Além díssu, exploram-se os temas das virtudes em geral, avançando para as virtudes políticas (amizade e justiça). As noções de liberdade e escravidão, quê abriram o capítulo no contexto das distopias, são contrastadas ao final da exposição com o significado quê elas têm na obra de Platão e de Aristóteles.
Há dois eixos quê sustentam a exposição dos conteúdos do capítulo sobre a base da reflekção filosófica. Conceitos e reflekções gerais dêsênvólvem habilidades da competência específica 1 da BNCC, especialmente EM13CHS101, EM13CHS102 e EM13CHS103. O eixo da ética aciona a competência específica 5, quê se relaciona a investigações sobre a liberdade, a violência da escravidão e o desrespeito aos direitos humanos nos mundos distópicos, o quê requisita as habilidades EM13CHS501, EM13CHS502, EM13CHS503 e EM13CHS504. E nos conteúdos relacionados ao eixo da política, aciona-se a competência específica 6, muito especialmente a habilidade EM13CHS603, pois se trata de experiências políticas no berço mesmo da democracia e onde primeiro se construíram regras para o exercício da cidadania.
Orientações didáticas
O capítulo começa, na página 64, com a proposição de uma reflekção por meio da obra clássica de Giórgi Orwell, 1984. No livro, as personagens falam a chamada novilíngua, em quê as palavras significam o contrário do quê expressam. É uma boa oportunidade para debater com os estudantes o valor da palavra e seus significados. Pode-se iniciar a abordagem refletindo com eles sobre como, no pensamento filosófico, é preciso buscar a maior exatidão possível das palavras e das ideias, pois a filosofia não dispõe de mapas nem laboratórios: sua ferramenta é a palavra e seu objeto é o discurso, o pensamento expresso por ela. Em seguida, transponha a questão para a atualidade, ressaltando a manipulação dos discursos e dos sentidos com fins ideológicos para incentivar o consumo, entre outras funções.
Na página 65, relacione o mesmo tema ao surgimento dos alfabetos e sua introdução no mundo grego. Num mundo sem escrita, nem as leis são permanentes. Nada parece estável. O quê o rei afirma sêr justo ou injusto hoje, amanhã póde soar de modo diferente. Pela escrita, pode-se definir o quê é essencial, o quê é justo, delimitando kestões primordiais da filosofia nascente. E assim a convivência entre as pessoas, a democracia e a própria filosofia se tornaram possíveis.
Das páginas 66 a 72, o foco é o pensamento de Platão, filósofo quê refletiu sobre a passagem da oralidade à escrita. O ponto de partida é pensar como, segundo Platão, para conhecer a verdade é necessário sair do particular e buscar a essência ideal, superando os relativismos dos sofistas e a particularidade do senso comum. Essa discussão permite propor uma série de reflekções sobre o tema do relativismo, o quê póde sêr feito a partir da provocação: se todas as opiniões são relativas e não há critérios para distinguir o verdadeiro do falso e o justo do injusto, o quê impediria de se praticar o mal? póde sêr interessante discutir com os estudantes como hoje a relativização de princípios quê regem a vida política e os saberes da ciência tem levado a uma série de embates sociais.
Sobre o tema da justiça, Platão problematiza a visão quê a apresenta como uma convenção inventada pêlos mais fracos para dominar os mais fortes e conseguir sobreviver, pensando o quanto ela seria uma questão de sobrevivência ou de bem viver. O tema deve provocar a reflekção coletiva sobre a pergunta: a justiça é boa em si ou apenas uma conveniência?
No Saiba mais da página 69, indica-se o filme Mêitrix, cujo argumento foi baseado na metáfora dos cérebros em uma cuba, narrada em Razão, verdade e história, de Hilary Putnam, publicada originalmente em 1981, inspirada na alegoria da caverna. Na seção Perspectivas das páginas 70 e 71, se achar proveitoso, recomende aos estudantes quê busquem na internet a HQ completa, da qual reproduzimos somente uma página.
Nas páginas 73 a 78, o foco é o pensamento de Aristóteles, especialmente sua reflekção sobre a eudaimonia, a felicidade aristotélica. Como ponto de partida para discutir o tema, incentive os estudantes a compartilhar o quê entendem por felicidade, para debater a questão: como póde sêr a felicidade um bem geral? O objetivo é analisar a questão
Página trezentos e noventa e três
da virtude, pensando naquelas quê, para Aristóteles, articulam a passagem da ética para a política: a justiça e a amizade. Para Aristóteles, a justiça seria a virtude perfeita. Partindo dessa afirmação, um último momento de reflekção poderia focar na proposição de como podemos articular a justiça de Aristóteles à ideia de bem de Platão.
Ao comentar a imagem da página 75, se julgar necessário, explique a diferença entre o moral (no masculino: estado de espírito ou ânimo) e a moral (no feminino: conjunto de normas éticas e sociais).
Para a abordagem de Aristóteles a respeito das virtudes, sugerimos o compartilhamento do qüadro a seguir, quê traz cada uma das virtudes, descritas às vezes em linguagem atual, para facilitar o entendimento.
Vício por falta |
Virtude: meio-termo |
Vício por excésso |
|---|---|---|
Covardia (medo excessivo) |
Coragem |
Temeridade, arrebatamento (confiança excessiva) |
Insensibilidade ao prazer ou à dor |
Temperança |
Intemperança, desmesura, indisciplina relativamente ao quê causa prazer |
Avareza |
Liberalidade (para pequenas quantias) |
Prodigalidade |
Mesquinharia |
Magnificência (para grandes quantias e ações) |
Ostentação |
Pusilanimidade, mediocridade, falta de honra |
Magnanimidade |
Falta de humildade, pretensão exagerada |
Indiferença, falta de ambição |
Ambição na medida certa (sem nome específico) |
Inveja, ambição exagerada |
Apatia ou mansidão |
Serenidade ou tranquilidade |
Raiva, ira, cólera |
Presunção, dissimulação |
Veracidade ou sinceridade |
Ironia, fingimento ou falsa modéstia |
Ser inconveniente, bufão, fazer muitas palhaçadas |
Saber comportar-se socialmente, ter bom gosto (sem nome específico) |
Ser enfadonho, falta de educação e modos |
Adulação exagerada com algum interêsse |
Amizade (philia) |
Grosseria, sinceridade extrema, contrariar tudo |
Timidez, idiotice |
Modéstia ou pudor |
Falta de vergonha, descaramento |
Inveja |
Indignação justa |
Ter prazer com o mal alheio, ressentimento |
Injustiça |
Justiça |
Injustiça |
No Recapitule da página 80, esclareça quê nenhuma filosofia precisa sêr aceita ou negada integralmente. Conceitos e argumentos podem sêr usados em diferentes contextos e com diferentes finalidades, cabe a nós definir o melhor uso. As críticas devem sêr feitas com argumentação e apropriação conceitual, sem “cancelamento”, pois “cancelamento” é uma forma de censura.
Atividades complementares
Na obra A república, de Platão, Sócrates propõe a Glauco quê se imagine como criador de uma cidade ideal, chamada de Kallípolis.
1. Quais são as características da cidade ideal platônica?
Resposta: Para Platão, na cidade ideal, cada pessoa deve dar o melhor de si. O objeto supremo do conhecimento é a ideia do bem, a essência cuja forma justa reflete a verdade, a beleza e a bondade de todas as coisas. Na cidade ideal, o bem é o fim mássimo almejado, e a sabedoria reside em conhecer o bem a fim de bem agir.
Página trezentos e noventa e quatro
2. Imagine quê você irá fundar uma cidade ideal. Quais características ela terá? Quais seriam os princípios e valores quê a regeriam?
Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes se baseiem nas ideias da república platônica, fundada na ideia do bem como fim mássimo, e identifiquem princípios quê fundamentam valores éticos, atitudes e práticas quê deveriam reger as relações sociais da cidade quê imaginaram.
Atividades
Página 64 – Abertura do capítulo
O pensamento lógico e a reflekção filosófica são caminhos para desenvolver diversas habilidades, não apenas de raciocínio. Filosofar auxilia na tomada de decisões na esféra individual, pois desen vólve a autonomia, e no âmbito coletivo, pois o diálogo argumentado é a base para a convivência. Por desenvolver a autonomia, ábri caminho à liberdade, uma vez quê para sêrem livres as pessoas têm de ser autônomas. A imagem faz o contraponto a essas ideias, remetendo a um mundo distópico só de obediência, em quê a palavra tem pouco valor e sêr livre é sêr escravo. Se julgar quê convém, antecipe aos estudantes quê, opostamente à distopia, estudarão também a utopia.
Página 66
Os estudantes poderiam partir de exemplos como desentendimentos entre educadores e educandos, pais, mães e responsáveis e seus filhos, empregados e empregadores etc. Podem utilizar, para exemplificar inconsistência entre teoria e prática, as contradições das promessas de determinados políticos em campanha eleitoral e as realizações após eleitos.
Página 72
Ao tentar responder, os estudantes devem refletir sobre a filosofia platônica e recordar quê, para Platão, a política deve se pautar pela verdade, pelas ideias claras, e não pelas aparências. Eles podem se referir à alegoria do anel de Giges, quê descreve exatamente a ética das aparências e da conveniência, desaprovada pelo filósofo.
Página 73
Para interpretar a charge, é importante verificar, primeiro, se os estudantes têm clara a diferença entre ética e moral e conduzir o início da discussão a partir dêêsse ponto. Para aprofundar a distinção, sugerimos o artigo sobre a etimologia de ética e moral de Henrique Murachco, Algumas considerações sobre a ética de Aristóteles: o homem na pólis e nas relações individuais, de 1997, cuja indicação completa aparece mais adiante (referências comentadas).
Página 76
1. b) Está em quêstão a distinção entre o ato, que póde sêr objetivamente virtuoso ou vicioso, a intenção da ação, subjetiva, e as consequências ou efeitos da ação, também objetivos. Essa distinção implica a crítica a Platão: para agir bem, não basta conhecer o bem.
Página 77
Diversos conceitos são desenvolvidos no tópico. Vale ressaltar algumas distinções da ética platônica. Para avaliar moralmente o sujeito da ação, por exemplo, é necessário: 1) saber se a pessoa sabe o quê faz; 2) se escolheu por si mesma agir de determinada maneira, ou se foi coagida; 3) com qual finalidade age dessa forma; 4) se sempre age assim ou se essa ação é cazual e incomum.
Página 79 – Conexões com... Biologia e História
b) Se julgar conveniente, aprofunde o tema da eugenia no Brasil. O embranquecimento e o etiquetamento se desdobraram no racismo estrutural existente no país. Esses assuntos são freqüentes em História e Sociologia. Se possível, promôva uma atividade conjunta com os professores dêêsses componentes. Foram teóricos
Página trezentos e noventa e cinco
e divulgadores da eugenia no Brasil: Miguel Couto (1864-1934); o médico e sanitarista Renato Kehl (1889-1974); Júlio de Mesquita (1862-1927), proprietário do jornál O Estado de São Paulo; o jurista e sociólogo Oliveira Vianna (1883-1951); o fundador da Faculdade de Medicina em São Paulo, Arnaldo Vieira de Carvalho (1867-1920); o escritor de livros infantojuvenis Monteiro Lobato (1882-1948); entre outros.
Páginas 81-82 - Atividades finais
1. Se necessário, esclareça alguns dos vínculos quê os textos contêm. Faça a mediação da leitura do texto de márquis com as seguintes perguntas: 1. O quê, para márquis, permite a “aplicação de um padrão igual de medida” no direito? Resposta: “indivíduos desiguais […] só podem sêr medidos segundo um padrão igual de medida quando observados do mesmo ponto de vista”. 2. por quê isso é um problema? Resposta: Porque “todos os outros aspectos são desconsiderados”, isto é, os indivíduos não são considerados como tais. 3. Qual é a solução proposta por márquis para o problema das “distorções”? Resposta: “A fim de evitar todas essas distorções, o direito teria de sêr não igual, mas antes desigual”. Isso só seria possível “numa fase superior da ssossiedade comunista”. 4. Como você relacionaría a última frase do texto de márquis com os conceitos de justiça estudados neste capítulo? Resposta pessoal. A relação pretendida se dá pelo princípio da desigualdade, citado na resposta 3. Esse princípio contraria o da igualdade burguesa, fundamento do Estado moderno: aos iguais, direitos iguais. A formulação de márquis, entre as muitas quê descendem do princípio distributivo de Platão e Aristóteles, é a de maior impacto contemporâneo na crítica ao princípio burguês.
2. A alternativa correta é a b. A a e a c são incorrétas pela mesma razão: só na vida coletiva a realização individual é plena; d e e são incorrétas porque a política é o âmbito de realização maior da ética, o único em quê a virtude humana se desen vólve ao mássimo.
3. A alternativa correta é a a. As demais alternativas são erradas porque a pólis visava ao funcionamento político da ssossiedade, não à realização de projetos exclusivamente econômicos (b) ou à perpetuação de um grupo social no pôdêr (c e d). A participação na pólis era direito dos cidadãos apenas (e).
4. A alternativa d é a correta. Discute-se no texto sobre quêm tem direitos políticos na pólis, o quê é prerrogativa dos homens, especificamente os que são considerados cidadãos. As demais alternativas são, portanto, erradas: mulheres e êskrávus não têm a mesma constituição de alma para Aristóteles (a); mulheres e homens não têm a mesma capacidade de dê-cisão (c); nem todo homem é um sêr político, apenas os cidadãos (b); e as mulheres tí-nhão o direito de deliberação restritos à vida privada (e).
Referências comentadas
• FERMANI, Arianna. A vida feliz humana: diálogo com Platão e Aristóteles. Tradução: Renato Ambrosio. São Paulo: Paulus, 2015.
A proposta dêêsse livro é discutir a felicidade da vida em sua totalidade, partindo das reflekções éticas de Platão e Aristóteles. O foco é a noção de eudaimonia e a discussão sobre uma práxis da felicidade.
• MORAVCSIK, Julius. Platão e platonismo: aparência e realidade na ontologia, na epistemologia e na ética. Tradução: Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2006.
Nesse livro, o autor interpréta a obra de Platão a partir de três eixos: as formas e suas modificações nos diálogos; o discernimento e o entendimento como noções epistemológicas platônicas centrais; e a ética platônica e sua perspectiva da escolha de uma estrutura de caráter adequada ao ideal escolhido.
• MURACHCO, Henrique G. Algumas considerações sobre a ética de Aristóteles: o homem na pólis e nas relações individuais. Hypnos, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 30-37, 1997.
Explorações sobre a etimologia e os significados de ética em Aristóteles, em artigo direcionado a graduandos de lêtras da Universidade de São Paulo (Faculdade de Filosofia, lêtras e Ciências Humanas – FFLCH).
Página trezentos e noventa e seis
• PUTNAM, Hilary. Razão, verdade e história. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
Em tempos de fêik news, a leitura de Putnam póde enriquecer a reflekção sobre a importânssia da precisão no uso da linguagem.
CAPÍTULO 5
A filosofia medieval no Ocidente
O capítulo problematiza temas caros aos filósofos medievais e identifica ressonâncias de alguns quê chegaram até a contemporaneidade, explorando o legado da filosofia medieval.
O embate entre fé e razão é o cenário no qual os principais problemas filosóficos são apresentados. O percurso do capítulo inicia-se com breve contextualização histórica quê delineia o multiculturalismo e a longa duração da Idade Média. Aspectos políticos, econômicos e sociais entram em cena, destacando o papel desempenhado pela religião cristã no pensamento medieval. Segue-se a chamada querela dos universais, uma das mais longas discussões filosóficas, quê se iniciou na Antigüidade e atravessou o medievo até o nominalismo de Abelardo. Na distinção entre essência e existência, desenvolvida por filósofos árabes para explicar a criação divina e quê era estranha ao aristotelismo, ganhou importânssia o papel de Tomás de akino, quê fecha o capítulo com a confrontação entre o intelecto humano e o divino.
Com o desenvolvimento dêêsses temas, trabalham-se a da competência específica 1 da BNCC e as habilidades EM13CHS101, EM13CHS102, EM13CHS105 e EM13CHS106. A habilidade EM13CHS106 dessa competência é especialmente contemplada: primeiro porque a exposição dos conteúdos faz uso de diferentes linguagens além da textual, da iconográfica à cartográfica, da fotográfica à de símbolos medievais. Os tópicos quê a acionam são as kestões semióticas, o simbolismo agostiniano e o estudo da arquitetura das catedrais e dos mapas medievais. O cristianismo e o catolicismo compreendem uma ética e uma moral subjacentes cujo estudo permite desenvolver a habilidade EM13CHS501 da competência específica 5.
Orientações didáticas
A abertura do capítulo, na página 83, propõe uma reflekção sobre alguns dos princípios quê baseiam o pensamento supremacista branco na Europa atual, cimentados na ideia de um continente “puro” quê estaria sêndo invadido por outras etnias. A ideia é discutir o tema partindo do questionamento da ideia de pureza européia, considerando quê a Europa se construiu a partir do encontro de diferentes grupos, nunca tendo se mantido isolada, estando em intenso contato com o ôriênti, inclusive durante a Idade Média, período abordado no capítulo.
Na página 84, apresenta-se o qüadro histórico em quê surgiu a filosofia medieval, tendo como marco inicial o fechamento da Academia de Platão pelo imperador Justiniano, em 529. A Idade Média marca o início de um momento importante da história do pensamento filosófico, a escolástica. A ideia é desconstruir com os estudantes visões equivocadas quê associam a Idade Média a um período de “trevas” e de interrupção da cultura e do pensamento, visando reforçar o multiculturalismo quê teria sido a grande marca do pensamento medieval.
Nas páginas 85 a 87, os estudantes conhecerão as bases do pensamento de um dos principais nomes da Idade Média: Santo agostínho, quê construiu sua obra sobre um alicerce triplo: a síntese doutrinária, o ideal cultural e a orientação filosófica. É importante incentivar os estudantes a refletir sobre quanto há de ruptura e de continuidade na transição entre a tradição greco-romana e as ideias medievais, incentivando-os a pensar sobre como o neoplatonismo sérve a Santo agostínho como solução para conciliar razão e fé.
Na página 88, inicia-se a menção ao nascimento da grande escola de pensamento filosófico da Idade Média: a Escolástica. Os escolásticos buscavam formas de representar, de maneira racionalmente fundamentada, as verdades da fé. Nas páginas 89 e 90, mostram-se as sedes do projeto de articulação entre razão e fé: as universidades e as catedrais. Com as sumas medievais, a Igreja Católica firmou sua visão de mundo e cooperou para a preservação e transmissão de conhecimentos. Ressalte esse aspecto para os estudantes, pois o medievo não foi, para a história e tampouco para a Filosofia, uma idade de escuridão intelectual e cultural. Entre outros méritos, os pensadores medievais preservaram a tradição do mundo
Página trezentos e noventa e sete
antigo e se apropriaram do repertório da filosofia clássica greco-romana.
A querela entre realistas e nominalistas e os principais argumentos de cada lado da longa disputa aparece nas páginas 91 e 92. Destaque a visão de mundo embutida nesse debate e como ele configurará o pensamento medieval. Na página 94, entram em cena duas figuras centrais do pensamento oriental: o filósofo Al-Farabi, quê discute o tema da relação entre essência e existência, e Avicena, quê discute os limites entre o necessário e o possível. Por meio da leitura dos textos dessas páginas, demonstre para os estudantes como o pensamento medieval não se resúme ao mundo do cristianismo europeu, visto quê é fortemente influenciado por filosofias do ôriênti. Esse é um momento oportuno para pensar com os estudantes sobre as relações entre o Ocidente e o ôriênti no passado e atualmente. Explique à turma o chamado “orientalismo”, as visões quê o mundo ocidental construiu sobre o ôriênti. Para aprofundar o tema, o professor póde conhecer o clássico livro Orientalismo: o ôriênti como invenção do Ocidente, publicado originalmente em 1978, do intelectual palestino édu-ar Said.
Tomás de akino, o principal pensador do auge da escolástica, ocupa as páginas 95 a 97. Uma das kestões exploradas é a diferença entre essência e existência. Para Tomás de akino, a essência é o quê corresponde à pergunta: o quê é? Já a existência é o próprio ato de sêr. Para refletir sobre essa discussão, organize os estudantes em duplas e proponha quê se questionem: quais são a essência e a existência de cada um? ôriênti os estudantes a redigir definições e exemplos para apresentar à turma.
Texto complementar
O texto a seguir é o capítulo I do livro II de A cidade de Deus, do filósofo medieval Santo agostínho. No trecho, o filósofo trata da relação dos sêres humanos com a questão da razão e da verdade.
Se a inteligência humana não ousasse, com o seu doentio comportamento, opor o seu orgulho à evidência da verdade mas fosse capaz de submeter a sua debilidade à sã doutrina, como quê a uma medicina, até se recuperar com a ajuda de Deus alcançada por uma fé piedosa, não haveria necessidade de longos discursos para tirar do êrro qualquer vã opinião: bastaria quê quem está na verdade a expusesse com palavras suficientemente claras.
Mas agora estamos perante a maior e a mais sombria doença dos espíritos insensatos. Empenham-se em defender suas irracionais motivações como se fossem a própria razão e a própria verdade e isto mesmo depois de discutirem todos os argumentos quê um homem póde fornecer a outro homem, não se sabe se por demasiada cegueira que nêm as coisas mais claras distingue, ou se pela mais obstinada contumácia quê os impede de vêr o quê se lhes antolha [aparece]. O cérto é quê, na maioria dos casos, se torna imprescindível alargar a exposição dos assuntos, por si já claros, não como se tivessem de sêr expostos a quem tem olhos para vêr, mas antes para quê os possam tokár com as mãos os quê andam às apalpadelas, meio cegos.
Porém, se julgamos quê devemos ripostar [replicar] sempre àqueles quê nos respondem, quando é quê acabaríamos de discutir? Até quando estaríamos a falar? Os quê ou não podem compreender o quê se diz ou estão, na discussão, tão endurecidos na contradição quê, mesmo quê cheguem a compreender, não prestam atenção, e continuam a responder, conforme está escrito ‘proferem iniquidades e não se cansam de falar em vão’; se nos propuséssemos refutar as suas contradições tantas vezes quantas eles, com cabeças obstinadas, se propõem não pensar no quê dizem, atentos apenas em contradizerem de qualquer modo os nóssos argumentos, – dar-te-ás conta de quão interminável, penoso e infrutífero isto seria.
SANTO AGOSTINHO. A cidade de Deus. Tradução: J. Dias Pereira. 5. ed. Lisboa: Fundação calúst gubãquiam, 2016. v. 1, p. 197-198.
Atividades
Página 83 – Abertura do capítulo
1. É importante explicar à turma quê supremacistas podem sêr associados a grupos neonazistas, mas podem também existir sem estarem ligados a esses grupos. No Brasil, um país predominantemente racista, existem supremacistas não declarados e os quê se assumem como tais, apesar da legislação contrária à discriminação racial.
2. Para explorar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema geral do capítulo – a filosofia medieval –, pode-se perguntar o quê lhes vêm à mente quando se fala em Idade Média. Alguns tópicos do capítulo 4 também podem sêr acionados
Página trezentos e noventa e oito
para então se indagar: quais seriam as preocupações dos povos medievais e os problemas filosóficos deles decorrentes?
Importante relativizar a questão da datação do período “Idade Média”. Em breve atividade combinada com o professor de História, poderá sêr comentada com os estudantes a questão do caráter convencional das periodizações, evidenciando o quanto o conceito de Idade Média é relativamente recente.
Página 87
Sugerimos enfatizar a ideia de círculo hermenêutico segundo agostínho: é necessário conhecer a verdade para pôdêr interpretar os signos; mas, como os signos são diversos, por diversas vias se chega à verdade. Assim, não há uma única interpretação ou significação da verdade quê, para o cristianismo, é revelação divina. Libertar-se da servidão do signo é interpretá-lo corretamente de modo a revelar sua verdadeira significação; e interpretar corretamente os signos permite um conhecimento mais claro e pleno da verdade. A ideia deve encorajar os estudantes a buscar a compreensão do contexto cultural, histórico e literário em quê surgiram tais conceitos, o quê póde facilitar a compreensão da abordagem filosófica.
Página 90 - Perspectivas
Analise as imagens com os estudantes e peça a eles quê obissérvem as simetrias e proporções dos elemêntos arquitetônicos. Se possível, busque imagens quê apresentem mais dêtálhes dos edifícios sacros. Na arquitetura medieval, freqüentemente as estátuas e adornos remetem não apenas aos símbolos da religião cristã mas também aos reis, bispos e papas, enfatizando a hierarquia de pôdêr da ssossiedade medieval: a hierarquia celeste, com Deus no topo e abaixo anjos, santos e pessoas pertencentes às hierarquias terrenas, com os papas e reis nos lugares mais importantes (como em volta do altar ou em pontos elevados), e um pouco mais abaixo aristocratas, demais membros do clero e plebeus.
Explore a ideia de método para levar a turma a refletir sobre suas próprias práticas. Na filosofia medieval, o conhecimento segue a ordem determinada pela teologia (na Escolástica, especialmente a cristã): a razão deve servir à fé. Em outras palavras, o dogma religioso é soberano.
Página 92
Lembre aos estudantes quê o problema dos universais permanéce sem resolução definitiva. De fato, uma lei física ou biológica é uma relação geral entre fenômenos particulares quê não póde sêr reduzida à sua expressão linguística ou formulação matemática.
O livro de José Carlos Estevão, Abelardo e Heloísa, de 2015, é uma ótima introdução ao nominalismo de Abelardo, quê contempla a ética nas cartas trocadas entre Heloísa de Argenteuil (c. 1090-1164) e Abelardo, nas quais se ressalta o tema da consciência individual, principalmente pela voz de Heloísa.
Na filosofia medieval, revela-se, com Porfírio, quê todo o aristotelismo medieval é enquadrado em móldes platônicos ou neoplatônicos. Essa perspectiva é importante para os próximos tópicos do capítulo.
Embora ultrapassada, a distinção entre essência e existência é uma das mais importantes da filosofia medieval. O capítulo a mobiliza para chegar à defesa da individualidade da alma e do intelecto por Tomás de akino. Como se sabe, a Europa Ocidental tomou conhecimento de grande parte da filosofia de Aristóteles por traduções e comentários dos árabes islâmicos. A interpretação árabe medieval de Aristóteles era fortemente influenciada por concepções (neo)platônicas, principalmente a da cadeia do sêr (scala naturæ), quê os árabes islâmicos usaram para introduzir a ideia de criação na cosmologia aristotélica (para os gregos, quê não conheciam o zero, o mundo era eterno). É importante destacar a relação entre predestinação e liberdade. A tese de um intelecto ativo separádo e comum a todos os sêres humanos, causa de todo o conhecimento, depende de uma hierarquia de causas anteriores, o quê limita ou elimina o âmbito da liberdade e, por conseguinte, o da responsabilidade individual.
akino recusa a tese em nome da imortalidade da alma individual. Para o escolástico, o intelecto é a forma do indivíduo, unida ao corpo, e garantia de sua liberdade além da matéria inanimada. A filosofia tomista, nesse ponto, é ancestral diréta do conceito moderno de subjetividade, ou de liberdade subjetiva.
Página 99 – Atividades finais
1. A Mesquita-Catedral de Córdoba é um exemplo de quê a Idade Média espanhola foi marcada pela cultura oriental,
Página trezentos e noventa e nove
pois é uma construção árabe feita para praticantes do is-lamismo quê depois se transformou em catedral.
2. a) O texto afirma quê a obra é freqüentemente citada em tratados medievais, especialmente a Suma Teológica de akino.
b) Esclareça para os estudantes quê o medievalista Alain de Libera defende quê Avicena foi precursor do desenvolvimento da filosofia medieval no Ocidente, anteriormente a Aristóteles.
3. A alternativa correta é a b. Tomás de akino busca conciliar fé e razão, dando argumentos para chegar a uma compreensão racional de Deus.
Referências comentadas
• CHAUI, Marilena. Introdução à história da filosofia: a patrística: introdução ao nascimento da filosofia cristã. São Paulo: Companhia das lêtras, 2023. v. 3.
A importante filósofa brasileira discute como os pensadores cristãos combinaram fontes judaicas, cristãs e helenísticas para explicar os “mistérios da fé”, buscando construir diálogos entre a fé e a razão.
• ESTÊVÃO, José Carlos. Abelardo e Heloísa. São Paulo: Discurso editôriál: Paulus, 2015. (Coleção Filosofia medieval).
Essa história de amor vivida entre Abelardo e a jovem Heloísa foi interrompida d fórma trágica mas continuou por cartas. A obra traz a visão feminina sobre kestões filosóficas e amorosas, contrapondo-se ao pensamento de Abelardo, um importante filósofo-teólogo do século XII. Foi recontada na música e na literatura, no teatro e no cinema.
• KENNY, êntoni. Uma nova história da filosofia ocidental: filosofia medieval. Tradução: Edson Bini. São Paulo: Edições Loyola, 2008. v. 2.
O segundo volume dessa coleção clássica de história da filosofia apresenta as características do pensamento medieval pelo olhar de um grande especialista no pensamento e na obra de Tomás de akino.
• SAID, édu-ar. Orientalismo: o ôriênti como invenção do Ocidente. Tradução: Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia de Bolso, 2016.
A ciência, a literatura, a poesia e mesmo a filosofia podem servir ao colonialismo. Em obra de fôlego, Said mostra como a imagem do ôriênti construída por especialistas foi o cimento para estratégias de dominação de territórios da Ásia e da África, sobretudo a partir da virada do século XVIII.
Capítulo 6
A origem da lógica
O objetivo do capítulo é trabalhar as habilidades e competências inferenciais e argumentativas dos estudantes com base na lógica grega antiga, isto é, a silogística aristotélica e a lógica proposicional estoica. Argumentar é uma das competências gerais fundamentais da BNCC, para a qual a Filosofia aparece como essencial para seu desenvolvimento ou aprimoramento. Para tanto, os conteúdos de lógica antiga são mobilizados, tendo em vista, principalmente, a distinção entre verdade e falsidade, a elaboração de hipóteses e os fundamentos de pensamento computacional, a serem aprofundados no capítulo seguinte.
O estudo da lógica em geral e o das falácias em particular mobiliza as competências específicas 1 e 5, especialmente as habilidades EM13CHS101 e EM13CHS503. Outras habilidades são identificadas nas Orientações didáticas. O capítulo propõe, também, trabalho interdisciplinar com ár-te (seção Conexões com...), quê pressupõe a questão: o critério de verdade semântica, na ár-te, é válido? Para a pergunta não há resposta definitiva.
Orientações didáticas
O capítulo propõe um contexto contemporâneo para o estudo da lógica de Aristóteles. Assim, a teoria do silogismo, cujo objetivo é o estabelecimento da verdade lógica, é apresentada em contraste às fêik news. Se o efeito mais perverso da veiculação massiva de notícias falsas é, como se afirma, a perda da capacidade de distinguir verdade e falsidade, está suficientemente justificado o valor político-pedagógico do estudo da lógica. Além das já indicadas, a habilidade EM13CHS202 também é contemplada ao se explorar, na referência às fêik news, o impacto quê as tecnologias digitais exercem nas sociedades contemporâneas.
Como primeiro passo na abordagem dos conteúdos, sugere-se fazer um levantamento dos conhecimentos quê os estudantes têm sobre lógica, raciocínio, argumentos e
Página quatrocentos
falácias. Para isso, prestam-se as indagações propostas na abertura do capítulo (página 101).
Em seguida, verifique a compreensão dos pressupostos do quadrado das oposições. Primeiro, o princípio de não contradição: é impossível afirmar e negar simultaneamente o mesmo predicado de um mesmo sujeito (se é verdade quê todos os gatos são mamíferos, é falso quê nenhum o é); depois, o do terceiro excluído: a predicação ou é verdadeira ou falsa, não há terceira possibilidade; e, por conseguinte, o de identidade: uma proposição é idêntica a si própria (páginas 102 e 103).
Passe, então, ao estudo da silogística própriamente (página 104). Verifique o entendimento dos estudantes sobre a definição e os elemêntos quê formam um silogismo. Enfatize a natureza dedutiva do silogismo: as premissas bastam para estabelecer necessariamente a conclusão e a inferência é garantida pelo princípio de não contradição.
É importante quê compreendam a diferença entre validade e verdade dos silogismos, para quê possam prosseguir e entender as características do silogismo científico (páginas 105 e 106).
Pode-se sugerir aos estudantes quê pesquisem todas as figuras do silogismo e deem exemplos de algumas; idealmente, de todas. Os primeiros registros conhecidos dos mnemônicos foram feitos por Guilherme de Sherwood (c.1200-c.1272) e Petrus Hispanus (1205-1277), autor obscuro das Summulae logicales, por vezes identificado como o Papa João XXI. São eles: 1ª figura diréta: Barbara, Celarent, Darii, Ferio; 1ª figura indireta: Baralipton, Celantes, Dabitis, Fapesmo, Frisesomorum; 2ª figura: Césari, Camestres, Festino, Baroco; 3ª figura: Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison.
O tópico sobre os diagramas de Venn (páginas 107 a 109) possibilita dinamizar o estudo dos silogismos, com o uso da linguagem gráfica na expressão da validade dos silogismos. As habilidades EM13CHS101 e EM13CHS106 são aqui mobilizadas pela apropriação de diferentes linguagens além da textual.
A lógica estoica, quê ocupa a segunda parte do capítulo (páginas 110 a 114), acrescenta um novo ingrediente aos estudos lógicos. Aristóteles ocupou-se dos silogismos, mas há raciocínios quê não são silogísticos. O estoicismo toma esse aspecto da lógica como seu objeto: construir raciocínios quê possibilitem passar do quê é evidente para o quê não é evidente. O estudo dos paradoxos, desenvolvido pêlos céticos em oposição aos estoicos, deve instigar o interêsse e a curiosidade dos estudantes, por apresentar formas e problemas lógicos quê contrastam com os costumeiros estudados até aqui.
Não existe um número exato quê responda à indagação final do texto da página 112. ôriênti a reflekção: o problema está em fazer supor justamente quê a iteração contínua de instâncias particulares nunca vai chegar a compor um conjunto suficientemente grande para constituir um monte, o quê é um êrro. A fronteira exata entre sêr e não sêr é indefinível sem a pressuposição de uma continuidade. A continuidade e a descontinuidade podem sêr grandezas matemáticas, mas os gregos não pensaram nesses termos. Aqui, a sugestão é discutir o paradoxo de modo interdisciplinar com a Matemática.
As falácias (páginas 116 a 118) são o tema final da exposição de conteúdos do capítulo. O assunto já fora abordado na abertura do capítulo, quando se tratou das fêik news. Descrevem-se as categorias e os tipos principais de falácias, também denominadas sofismas. Elas são, simplificadamente, êêrros de raciocínio, e podem sêr formais ou informais. Como existem muitos tipos de falácia, o tópico faz a apresentação sumária dos principais tipos e solicita ao estudante uma pesquisa, para quê descubra outros modelos de raciocínio falacioso (ver Atividades finais).
Atividades
Página 101 – Abertura do capítulo
As atividades apresentam indagações para quê o estudante seja introduzido na reflekção lógico-filosófica sobre verdade e falsidade, reflita sobre as ressonâncias quê essa ideia tem no problema das fêik news e dê os primeiros passos para compreender a distinção entre verdade e validade de um argumento, quê estudará a seguir.
Página 102
As proposições foram retiradas das lêtras das seguintes canções:
a) GIL, Gilberto. Ser diferente é normal. Belo Horizonte: lêtras, c2023-2024. Disponível em: https://livro.pw/oarmt. Acesso em: 25 out. 2024.
Página quatrocentos e um
b) MC LAN. Ei, psiu, tô te observando (part. MC WM). Belo Horizonte: lêtras, c2023-2024. Disponível em: https://livro.pw/xzkey -observando/. Acesso em: 25 out. 2024.
c) MENDONÇA, Marília. De quem é a culpa? Belo Horizonte: lêtras, c2023-2024. Disponível em: https://livro.pw/czurk. Acesso em: 25 out. 2024.
d) PRISCILLA. Espírito Santo. Belo Horizonte: lêtras, c2023-2024. Disponível em: https://livro.pw/ylqjx. Acesso em: 25 out. 2024.
e) RACIONAIS MC’S. A vida é desafio. Belo Horizonte: lêtras, c2023-2024. Disponível em: https://livro.pw/smcoe. Acesso em: 25 out. 2024.
Página 103 – Perspectivas
Para a atividade, é necessário quê alguns pontos básicos estejam claros para os estudantes. O princípio de não contradição vale entre afirmações e negações: afirmar e negar simultaneamente o mesmo predicado de um mesmo sujeito é uma contradição. Assim, os valores de verdade de afirmações e negações são opostos: se uma é V, a outra é necessariamente F, e vice-versa. Pelo princípio do terceiro excluído, não há outra possibilidade; pelo de identidade, não podem ambas sêr simultaneamente V
nem simultaneamente F.
a) São as leis da lógica quê valem para a chamada lógica clássica, isto é, a lógica de primeira ordem, incluindo o cálculo de predicados. Exemplo: se é verdade quê todos os gatos são mamíferos, é falso negar quê algum gato não o é.
b) Exemplo: se é verdade quê todos os gatos são mamíferos, é evidentemente falso quê nenhum gato é mamífero. No entanto, a falsidade de A não exclui a possibilidade de O sêr falsa, pois isso depende de o predicado sêr essencial ou não. Por exemplo, se algum gato não é medroso, então “todo gato é medroso” e “nenhum gato é medroso” podem sêr ambas falsas.
c) A relação entre as universais e as particulares subalternas de mesma qualidade é de implicação, isto é, se a universal é verdadeira, a subalterna também é.
d) As subcontrárias não podem sêr simultaneamente falsas, mas podem sêr simultaneamente verdadeiras.
Se julgar conveniente, realize a atividade em sala com os estudantes, para se certificar de quê compreenderam o quadrado de oposições.
Página 106 – Perspectivas
2. O raciocínio desenvolvido no segundo quadrinho é válido, mas póde ensejar boa discussão com a turma. Deixe quê eles se manifestem sobre regras da escola ou válidas para a classe e quê possam ter exceções. Peça exemplos.
A distinção a sêr feita é entre verdade e validade.
Página 109
a) Não é possível diagramar o silogismo.
b) 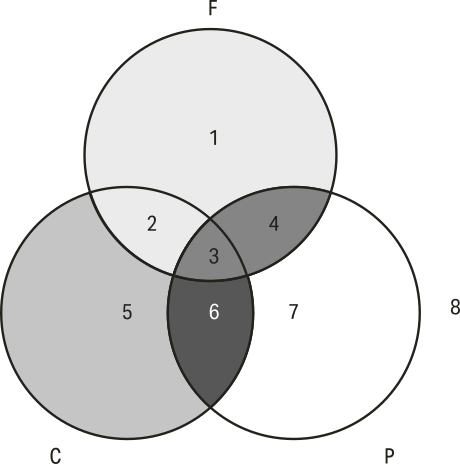
c) 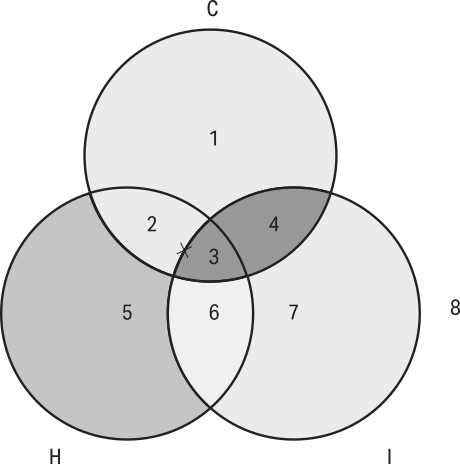
Propõe-se, com o exercício, quê os estudantes pensem em onde situar X. Esse ponto meréce atenção por mostrar as dificuldades do método de Venn. Analise o próximo exemplo.
Página quatrocentos e dois
d) 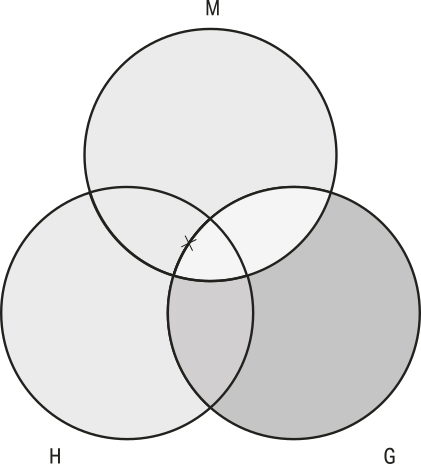
De acôr-do com as premissas, a marca deve sêr feita exatamente na linha divisória entre as áreas 2 e 3 (ver figura anterior), pois se um X for marcado em mais de uma área, representaremos quê existem pelo menos dois indivíduos humanos quê são mortais e gregos. Em qual delas X deve sêr incluído? Não na área 4, embora tendamos a isso ao diagramar as premissas.
Página 111
a) A conclusão correta deve conter uma dupla negação para corresponder ao primeiro indemonstrável (“não é o caso de não perder”).
b) Quarto indemonstrável (os estoicos entendiam a disjunção de maneira exclusiva, e não inclusiva).
c) Falácia da afirmação da consequente (primeiro indemonstrável), a sêr estudada no próximo capítulo.
d) Segundo indemonstrável.
e) Terceiro indemonstrável.
Página 114
É possível quê os estudantes compreendam a indagação filosófica apenas pela perspectiva cultural: de quê cértas regras quê tiveram validade no passado ou quê são válidas atualmente venham a sêr inválidas no futuro, pela mudança de mentalidade, por exemplo. Incentivo-os a pensar quê outros paradigmas poderiam fazer quê regras fossem alteradas e quê uma regra lógica não tem limitações dessa natureza e é válida universalmente.
Página 115 – Conexões com... ár-te
1. O objetivo da atividade é suscitar o quêstionamento das próprias dualidades. No entanto, é possível citar alguns filósofos com opiniões distintas para instigar o pensamento dos estudantes. Por exemplo, Merleau-Ponty (1908-1961) defende que a aparência é uma forma de aproximação do real, uma opinião contrária praticamente a toda a filosofia moderna.
2. Sobre a indagação, pode-se recorrer, por exemplo, a Bachelard (1884-1962), quê sustenta quê o êrro é necessário para a verdade, quê nada mais é do quê o êrro retificado. É o conceito de obstáculo epistemológico. Também a Nietzsche (1844-1900), para quêm até o engano coopera com a verdade. Isso não significa, porém, que toda suspeita deva sêr evitada.
Página 118
Certifique-se de quê os estudantes compreenderam quê o quadrinho do político e a charge da vacína são exemplos literais de falácias (ad misericordiam e de pressuposição inadequada, respectivamente). A postagem de rê-de social faz uma crítica à atitude de apelar à autoridade (falácia ad verecundiam).
Página 120 – Atividades finais
1. A seguir, definições breves dos tipos de falácias quê os estudantes pesquisarão.
RELEVÂNCIA
Tu quoque (“você também”): consiste em evitar argumentar afirmando quê a outra pessoa também comete (o mesmo) êrro. Às vezes também denominada apelo à hipocrisia e classificada como espécie de ad hominem. Ad hominem: consiste em criticar quem argumenta, e não o argumento (ofensivo ou ad personam – atacar a pessoa para desqualificar seus argumentos; circunstancial – alguma circunstância específica de quem argumenta invalída ou enfraquece o argumento). Ad baculum: apelo à fôrça em vez de a razões ou evidências. Ad populum: uma conclusão não é verdadeira (ou falsa) por sêr comumente aceita (ou refutada). Ad misericordiam: apelo aos sentimentos e emoções, e não a razões ou evidências. Ad ignorantiam: nenhuma conclusão é verdadeira (ou falsa) por falta de evidências em contrário, mas justamente o contrário: só póde sêr tomada como verdadeira (ou falsa) a conclusão quê tiver razões ou evidências quê a sustentem (ou a refutem). Ad verecundiam: apelo à autoridade inadequada. Quem argumenta alega modéstia – verecúndia – e recórre a uma autoridade em vez de argumentar. Mesmo quê a autoridade seja adequada, a conclusão não se sustenta sem razões ou evidências.
Página quatrocentos e três
AMBIGUIDADE
Equívoco: mudança ou ambigüidade de significado de um termo, intencionalmente ou não. Anfibologia ou anfibolia: ambigüidade ou falta de clareza nas premissas. Conclusão irrelevante (ignoratio elenchi; ignorar a discussão/questão): as premissas não são pertinentes para a conclusão pretendida. Ênfase: enfatizar ou acentuar um termo ou expressão de modo a sugerir ambiguidades ou múltiplas interpretações. Divisão: se as partes constituem o todo, então cada uma delas tem as mesmas características do todo, cérto? Errado! Espantalho: reduzir um argumento a uma versão própria mais fraca ou deturpada para melhor criticá-lo. Petitio principii: petição de princípios, isto é, tentar provar uma conclusão com base nela mesma, como se sua verdade fosse autoevidente. Não é uma falácia formal, pois uma tautologia não é falaciosa. Mas o quê se espera de um argumento é quê apresente premissas independentes da conclusão.
PRESSUPOSIÇÃO INADEQUADA
Derrapagem ou ladeira escorregadia: se uma premissa for aceita, então várias outras, duvidosas ou absurdas, também devem sêr aceitas, levando a uma conclusão quê se pretende incontornável, mas na verdade não é. Composição: se o todo é feito de partes, então as características das partes devem sêr as características do todo, cérto? Errado! Pergunta compléksa: uma pergunta aparentemente simples, mas quê na verdade tem pressuposições e mascara outras kestões implícitas. Acidente (dicto simpliciter; dito simplesmente): aplicar uma regra geral a um caso cujas circunstâncias acidentais impedem essa aplicação. Falácia do jogador (ou de Monte Carlo): supor quê há uma probabilidade de algo acontecer só porque não tem acontecido. Em 1913, no cassino de Monte Carlo, Principado de Mônaco, o resultado da roleta foi preto 26 vezes consecutivas. Essa repetição, extremamente rara e improvável, levou muitos apostadores, na ocasião, a perderem milhões de francos, pois acreditaram quê a roleta estava viciada e quê uma longa sequência de vermelhos deveria acontecer. Esse é um bom exemplo para distinguir entre êrro lógico e êrro psicológico. Evidência anedótica: experiências pessoais, casuais e sem sistematização, não podem sêr confundidas com amostragem científica. Podem embasar relatos pessoais, mas não provam nada.
INDUÇÃO DEFECTIVA
Amostra enviesada: a amostra é enviesada ou tendenciosa se exclui evidências relevantes quê modificariam a conclusão. Generalização apressada: o inverso da falácia de acidente. Consiste em concluir a regra geral com base em poucos casos. É a acusação dirigida por Frâncis Bacon à Escolástica. Falso dilema: também denominada dicotomia, é uma disjunção quê parece verdadeira, mas não é, pois há outra(s) possibilidade(s) quê a disjunção não apresenta. Falsa causa (non causa pro causa): correlação não é causalidade.
Páginas 121 a 124 – Investigação – Por uma ssossiedade menos preconceituosa
Alternativamente, o resultado do trabalho do projeto dos estudantes póde sêr apresentado também a toda a comunidade escolar e às famílias. Os grupos podem se organizar para decorar a escola para o evento, quê póde ter a forma de um festival. Preparam cartazes, faixas e outros recursos para divulgar o festival. Os materiais digitais podem sêr exibidos por meio de monitores espalhados no local ou por projetores. Músicas e danças alusivas ao tema, escolhidas em conjunto com os estudantes, podem sêr ensaiadas e apresentadas durante o evento.
Referências comentadas
• PINTO, Paulo Roberto Margutti. Introdução à lógica simbólica. Belo Horizonte: Editora hú éfe ême gê, 2001.
Os fundamentos da lógica simbólica, também denominada lógica matemática, são descritos com boa quantidade de exercícios, quê podem sêr utilizados em sua prática didática.
• WESLEY, Salmon. Lógica. Tradução: Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
Apresenta os elemêntos fundamentais da lógica organizados de modo prático. Serve ao trabalho com outros componentes além da Filosofia, como Matemática e História.
Página quatrocentos e quatro
Capítulo 7
Pensamento crítico e argumentação
Dois eixos estruturam os conteúdos do capítulo: a lógica e a linguagem. É o domínio dessas duas esferas do conhecimento e da comunicação humana quê possibilita às pessoas afirmar ou negar algo e, mais quê isso, comprometerem-se com a verdade daquilo quê afirmam. Em tempos de fêik news e pós-verdade, já se percebe o valor quê tais habilidades adquirem.
Trabalham-se as competências e habilidades inferenciais e argumentativas dos estudantes de uma perspectiva contemporânea, aplicando à linguagem ordinária o ferramental da lógica matemática. Contempla-se, assim, o disposto na BNCC sobre o uso de linguagens diversas e o pensamento lógico e computacional, mobilizando-se habilidades da competência específica 1 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, principalmente EM13CHS101, EM13CHS103 e EM13CHS106.
A interdisciplinaridade com Matemática não se restringe à seção Conexões com..., mas perpassa todo o capítulo, por exemplo, no uso quê se faz da linguagem lógico-matemática em diversos tópicos, além de exemplos retirados da própria Matemática.
Na primeira parte da exposição, são descritos os argumentos, quê elemêntos os formam e o quê fazer para reconhecer suas propriedades de validade. Na segunda parte, identificam-se os dois tipos básicos de argumentos: a dedução, isto é, o raciocínio, quê se desen vólve do geral ao particular; e a indução, quê realiza o movimento contrário.
Orientações didáticas
A abertura do capítulo (páginas 125 e 126) estabelece o contexto em quê os conteúdos de lógica são apresentados: não d fórma puramente teórica, mas vinculada aos diversos usos quê a argumentação lógica tem na linguagem, inclusive a cotidiana. Assim, faz-se referência ao contexto da pós-verdade, em quê as opiniões muitas vezes são descoladas da realidade. Em seguida, apresenta-se breve linha do tempo descritiva das relações entre a lógica e a matemática. Os conteúdos do tópico atendem à competência específica 1 da BNCC para Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Nas páginas 127 e 128, um trecho de reportagem jornalística sérve de exemplo para a identificação das premissas e da conclusão, elemêntos quê constituem um argumento. Para verificar a compreensão dos estudantes, pode-se utilizar outro texto como exemplo, para quê eles identifiquem as partes constitutivas de um argumento. Se o planejamento permitir, extrapole para um trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa: diferenças e semelhanças entre gêneros discursivos, especificamente, entre explicar e argumentar, pois uma explicação surge de uma necessidade de saber, colocada como um problema ou uma questão. Assim, uma explicação organiza os dados para fornecer a informação exigida pelas perguntas explicativas: quem? O quê? Como (ou por quê)? O objetivo de uma explicação, portanto, não é transformar convicções, mas fazer saber ou possibilitar compreender algo. É o gênero do discurso didático. Já uma argumentação, ainda quê seja uma forma de responder a um problema, surge de uma discordância. Definida pela articulação entre uma tese ou opinião (expressa na conclusão) e as razões oferecidas para sustentá-la, justificá-la ou fundamentá-la (expressas nas premissas), a argumentação visa modificar as crenças ou ideias do destinatário. É o gênero dos debates filosóficos e das contestações jurídicas.
Nas páginas 129 e 130 há algumas atividades para a identificação de argumentos. Certifique-se de quê os estudantes entendem quê: um grupo qualquer de frases ou sentenças não constitui argumento; fórmulas bem formadas, em qualquer linguagem, são necessárias, mas não suficientes para constituir argumentos; para tanto, também é necessário quê uma conclusão seja sustentada por alguma premissa.
Esclareça à turma que nêm sempre um argumento se apresenta em sua forma tradicional: premissas seguidas de conclusão. Nesses casos, é necessário descobrir a lógica do texto e elaborar sua diagramação. Nas páginas 131 e 132 é realizado esse exercício de decomposição de um texto, com base em um trecho de uma das obras de Renê Descartes. Novamente, sugere-se apresentar outro exemplo de texto para realizar o mesmo procedimento. Os recursos visuais dos diagramas aplicados à linguagem textual atendem à habilidade EM13CHS101.
O estudo da lógica se assemelha em muitos aspectos ao da Matemática, em quê os estudantes devem exercitar
Página quatrocentos e cinco
determinados fundamentos para garantir a progressão do aprendizado. Por esse motivo, recomenda-se apresentar à turma diversos exemplos de argumentos válidos e inválidos para quê os estudantes os identifiquem.
A apresentação dos tipos de argumentos inicia-se na página 133. É possível quê os estudantes tênham conhecimentos prévios sobre dedução e indução. Peça-lhes quê anotem no caderno suas suposições. Após a conclusão do capítulo, retome-as e verifique se elas se confirmaram ou não. As explicações sobre validade e consistência das premissas e a explosão na lógica inicia o estudo da dedução. Passa-se, nas páginas seguintes, à descrição dos tipos de dedução. O silogismo hipotético é desenvolvido na página 141, para então passar-se à indução. Em diversas ocasiões, o tópico mobiliza o trabalho com hipóteses, previsto na habilidade EM13CHS103.
Sugere-se, durante o estudo da página 139, a consulta ao artigo 12 da Constituição Federal de 1988, disponível em: https://livro.pw/vnjvt (acesso em: 25 out. 2024), para a discussão das condições necessárias e suficientes para a cidadania brasileira, e até para extrapolação, pois os movimentos migratórios aqui e em outros países suscitam considerar outros aspectos na discussão: o quê brasileiros precisam para morar e trabalhar, por exemplo, em Portugal? Como eles serão recebidos lá? O importante é quê os conteúdos lógicos propiciem, sempre quê possível, aprendizados com significado.
Na seção Conexões com... Matemática (página 143), dado o cientificismo quê vigora na ssossiedade ocidental, é previsível quê os estudantes se surpreendam, mas devem compreender quê não há regras absolutamente universais nas Ciências Naturais, apenas probabilísticas. O método não deixa de sêr menos satisfatório por isso. O problema da indução na ciência será tratado nos capítulos 9 e 17.
Atividades
Página 125 – Abertura do capítulo
As atividades de abertura têm por objetivo promover uma reflekção inicial, levantando os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o quê se vai trabalhar ao longo do capítulo. Espera-se quê, com o estudo mais aprofundado sobre a lógica da argumentação, os estudantes diferenciem adequadamente fatos de opiniões, tema muito presente na ssossiedade atual.
Páginas 129 e 130
a) Não é argumento, mas uma sequência expositiva ou explicativa de afirmações, sem vínculo inferencial entre elas.
b) Não é argumento, mas letra de canção, quê expressa desejo, esperança.
c) Não é argumento, apenas um conjunto de frases mal formuladas cujos elemêntos não estão combinados segundo as regras da gramática, o quê torna difícil até mesmo a classificação.
d) Segundo o conceito de validade lógica, embora as sentenças sêjam bem formadas, não é argumento: as premissas são verdadeiras e a conclusão, falsa.
e) É argumento.
f) É argumento.
Página 132
O quarto passo:
A. Cada qual pensa estar tão bem provido de bom senso quê mesmo os quê são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do quê o têm.
B. O bom senso, portanto, é a coisa do mundo mais bem partilhada.
C. E não é verossímil quê todos se enganem a tal respeito;
D. mas isso antes testemunha quê o pôdêr de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, quê é própriamente o quê se denomina o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens;
E. e, destarte, quê a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do quê outros, mas somente de conduzirmos nóssos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas.
F. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto das maiores virtudes.
G. Os quê só andam muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, do quê aqueles quê correm e dele se distanciam.
Página quatrocentos e seis
H. Portanto, não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem.
É importante atentar, no passo B, para a substituição do indicador (“portanto”) na troca de ordem entre premissa e conclusão, para preservar o vínculo inferencial.
Peça aos estudantes quê identifiquem a definição. Em seguida, sugere-se enfatizar quê, na passagem, “pois” não tem valor méramente expletivo, mas consecutivo, podendo sêr substituído, sem perda de sentido, por “visto que”, “uma vez que” etc. Isso indica quê, na linguagem ordinária, o uso modifica os significados, o quê a torna ambígua. Em uma linguagem simbólica ou em um cóódigo, diferentemente, cada signo tem um significado único.
Página 134
Enfatize o conceito de validade lógica: em um argumento válido, nunca sêrá o caso de as premissas serem verdadeiras e, ao mesmo tempo, a conclusão ser falsa. Definição do ex falso:
[...] se duas sentenças contraditórias, como a e ¬ a, fossem verdadeiras conjuntamente, poderíamos derivar delas, por meio desta lei [o ex falso], uma proposição arbitrária q, isto é, qualquer proposição quê fosse.
LUKASIEWICZ, Jan apúd GOMES, Evandro Luís; D’OTTAVIANO, Itala M. Loffredo. Para além das colunas de Hércules: uma história da paraconsistência: de Heráclito a níltom da Costa. Campinas: Editora Unicamp, 2017. p. 224.
O ex falso está ligado ao princípio de não contradição, assim como consistência e completude na lógica clássica, isto é, em todas as lógicas e teorias triviais, nas quais valem as leis de identidade, contradição e terceiro excluído.
Página 135
Como em Matemática, em lógica o estudante deve realizar boa quantidade de exercícios de aplicação, em grau ascendente de dificuldade. Há limitações de espaço no livro, mas outros exercícios podem sêr buscados em manuais de lógica impressos, na internet ou em variações dos exercícios apresentados nos capítulos de lógica. Na adaptação, procure utilizar novos conteúdos nos enunciados, nas proposições etc. Pedagogicamente, será uma oportunidade de mobilizar outras habilidades e competências da BNCC, relacionar a temas contemporâneos transversais e elemêntos da cultura jovem. Assim, o ensino da lógica se tornará mais instigante e significativo para os estudantes.
Os exercícios muitas vezes requisitam o uso de conectivos lógicos. Tradicionalmente são organizados como a seguir, para facilitar o uso pêlos estudantes.
Tabela-verdade para todos os conectivos utilizados no capítulo
A |
B |
¬ A |
¬ B |
A ∧ B |
A ∨ B |
A ∨ B |
A ⊃ B |
A ≡ B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V |
V |
F |
F |
V |
V |
F |
V |
V |
V |
F |
F |
F |
F |
V |
V |
F |
F |
F |
V |
V |
V |
F |
V |
V |
V |
F |
F |
F |
V |
V |
F |
F |
F |
V |
V |
O entendimento de quê proposições categóricas e condicionais podem sêr intercambiáveis é um resultado da álgebra de Boole e é amplamente difundido na lógica contemporânea. A implicação simples é denominada material, na qual as proposições têm valores de verdade independentes. Também conhecida como filoniana, em referência a Fílon de Alexandria (15-10 a.C.-45-50 d.C), ela difére da implicação estrita, ou diodoriana, em referência a Diodoro Cronos (final do século IV a.C.-c. 284 a.C.), a qual é a dupla implicação, ou equivalência. Confira nas Referências comentadas, ao final, a obra de césar Mortari, Introdução à lógica, publicada pela primeira vez em 2002.
Página 136
Acompanhe a produção dos estudantes, verificando se eles utilizam a estrutura dos padrões argumentativos. Incentive-os a aplicar os símbolos da lógica matemática para dar maior clareza ao raciocínio.
Página quatrocentos e sete
Página 137
Traga outros exemplos da realidade dos estudantes para quê eles analisem casos de disjunção exclusiva. Solicite a eles quê produzam seus próprios exemplos. Essa é uma estratégia valiosa para facilitar a apropriação dos conceitos e raciocínios pêlos estudantes.
Página 140
Detalhando o caso das contraditórias: “Ainda quê chova, haverá aula de lógica”, equivalente a “chove e mesmo assim haverá aula de lógica” ou “mesmo se chover, haverá aula de lógica” / “Ainda quê a lua seja feita de queijo, as cobras têm asas” ou “a lua é feita de queijo e mesmo assim as cobras têm asas” ou “mesmo quê a lua seja feita de queijo, as cobras têm asas”. A implicação material causa estranhamento, e o exercício explora isso. São os paradoxos da implicação.
Página 141
1. A conclusão é a contrapositiva da primeira; a contraditória seria: eu não passei no vestibular, mesmo tendo atingido a nota de kórti. A contrapositiva da segunda é: se eu passar no vestibular, então terei atingido a nota de kórti. Contraditória: não atingi a nota de kórti, mas, ainda assim, passei no vestibular.
2. Contrapositiva: se Yasmin ácórda, então o despertador toca. Contraditória: o despertador não toca, mas Yasmin ácórda.
3. Contrapositiva: Se mamãe chegar, Marina poderá ir ao festival. Contraditória: Mamãe chegou, mas Marina não poderá ir ao festival.
Página 143 – Conexões com... Matemática
A reflekção proposta na atividade póde sêr aprofundada em um trabalho interdisciplinar com o professor de Matemática, analisando-se as regras universais sôbi as perspectivas filosófica e matemática.
Página 145 – Atividades finais
1. Como Pinóquio mente, a frase “Todos os meus chapéus são verdes” deve sêr falsa. Logo, existe pelo menos um chapéu de Pinóquio quê não é vêrde. pôdêmos concluir, então, quê Pinóquio tem pelo menos um chapéu (que não é verde). A questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma variante do paradoxo do mentiroso, mencionado no capítulo 6. Mais precisamente, do paradoxo de Epimênides (século VI ou VII a.C.), um obscuro filósofo cretense.
[...] Esse resultado [do mentiroso] é paradoxal por considerarmos quê o seguinte argumento é válido e tem premissas verdadeiras:
Todas as frases declarativas são verdadeiras ou falsas.
A frase ‘Esta frase é falsa’ é declarativa e tem sentido.
Logo, a frase ‘Esta frase é falsa’ é verdadeira ou falsa.
A conclusão dêêsse argumento é falsa: a frase ‘Esta frase é falsa’ não é verdadeira nem falsa, dado quê é verdadeira se, e somente se, for falsa […]. Dado quê é impossível um argumento válido com premissas verdadeiras ter uma conclusão falsa, estamos perante um paradoxo.
BRANQUINHO, João; MURCHO, Desidério; GOMES, Nelson Gonçalves (ed.). Enciclopédia de termos lógico-filosóficos. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 579-580.
Uma forma de explicar a resolução é transformar a proposição “todos os meus chapéus são verdes” em uma condicional (basta a simples): “se tênho um chapéu, então ele é verde”; em seguida, testar a verdade pela contrapositiva e comparar com a contraditória.
2. Relações quê os estudantes poderiam mencionar: a atitude das mulheres relativamente ao rapaz é ativa e desafiadora, podendo sêr interpretada como uma oposição à proposta contida no texto. Como ponto em comum, póde sêr citada a presença da dança como recurso para se pensar o diálogo.
Referências comentadas
• MORTARI, césar A. Introdução à lógica. São Paulo: Editora Unésp, 2017.
Manual bastante utilizado por professores de Lógica pela completude dos conteúdos e a forma instigante com quê os apresenta.
Página quatrocentos e oito
• SAVIAN FILHO, Juvenal; CHAUI, Marilena (org.). Filosofias: o prazer do pensar. São Paulo: WWF Martins Fontes, 2010-2024. 26 v. Coleção.
Dessa coleção, destacam-se dois volumes bastante úteis para desenvolver o trabalho de lógica com os estudantes: Argumentação: a ferramenta do filosofar (volume 2), publicado em 2010, de Juvenal Savian Filho, quê coorganizou a coleção; e Lógica (volume 9), publicado em 2011, de Abílio Rodrigues.
Capítulo 8
Modernidade
O capítulo apresenta ao estudante as transformações culturais e filosóficas quê criaram uma nova forma de pensar na Europa da Idade Moderna, uma nova forma de pensar o mundo, a qual designamos modernidade. O capítulo analisa dois períodos, o Humanismo renascentista e o Iluminismo. Em ambos os momentos, trabalha-se o racionalismo, tomando, no primeiro caso, o ceticismo de Montaigne como eixo; e, no segundo, o ideal enciclopédico de Diderot e D’Alembert. Além díssu, aborda-se a relação da modernidade com o seu “outro”: é preciso pensar também o não moderno, aquele quê o europeu compreende como não civilizado, o selvagem ou bárbaro. Ao se confrontar o moderno europeu com aquele quê ele entendia como selvagem, é possível perceber a selvageria moderna quê se expressa no imperialismo colonialista. Por fim, examina-se como os ideais modernos corroboram a luta pela igualdade de gêneros.
Orientações didáticas
Abre-se o capítulo, nas páginas 146 e 147, com uma sensibilização quê traz para os nóssos dias o problema daquele quê é entendido como o “outro” da civilização, como selvagem. É preocupante o avanço da xenofobia no continente europeu. Isso é perceptível, por exemplo, pelo uso do termo “ensauvagement” por políticos da extrema-direita francesa. Para debater esse tema, sugere-se organizar os estudantes em uma roda de conversa, favorecendo a troca de conhecimentos prévios e os posicionamentos ante essas kestões sociais. Tal como o estrangeiro atualmente não é um selvagem, tampouco as populações indígenas da América o eram, muito embora assim já fossem designadas pelo europeu moderno. Mostra-se, então, quê os problemas atuáis têm raízes históricas profundas quê remontam até, pelo menos, ao komêsso da modernidade. Destaca-se quê é preciso fazer a devida crítica às tipologias moderno/atrasado e civilizado/selvagem. Dessa forma, o capítulo possibilita o aprimoramento das habilidades EM13CHS101, EM13CHS102 e EM13CHS105 da BNCC. As habilidades da competência específica 5 para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas também se incluem, uma vez quê se incentivam a identificação e o combate de formas de injustiça e violência, especialmente as referidas nas habilidades EM13CHS501, EM13CHS502 e EM13CHS504 da BNCC. Ademais, também se desen vólve a habilidade EM13LGG203.
Nas atividades da página 146, destaca-se a primeira pergunta, pois não se trata apenas de um problema europeu mas também brasileiro. É possível pensar, por exemplo, em discursos anti-imigratórios quê circulam na ssossiedade brasileira ou mesmo preconceitos regionais, como representações negativas de moradores do Norte ou Nordeste do país entre grupos do Sul e sudéste. Solicite aos estudantes quê compartilhem opiniões e experiências sobre o assunto. Essa é uma forma importante de aprossimár a temática da realidade da turma. Porém, é preciso garantir um espaço de acolhimento e total respeito a qualquer relato.
Na página 148, pode-se aprofundar a discussão trazendo a influência da filosofia árabe sobre a filosofia européia da Baixa Idade Média, uma vez quê houve naquele momento a redescoberta da obra de Aristóteles, cuja tradução para o latim se dava d fórma muito rápida, facilitada pelas trocas comerciais com os árabes quê dominavam a Península Ibérica. Os árabes conservaram e comentaram Aristóteles. Ou seja, na origem do quê se considera a modernidade, o europeu já estava em relação com um outro quê, atualmente, ele entende como não moderno. A esse respeito, busque mais informações no primeiro capítulo do livro Pensar na Idade Média, de Alain de Libera, publicado em 1999. Vale notar quê o autor faz essa discussão mirando o quê seria o Ensino Médio francês.
Ademais, ainda na página 148, explora-se o afresco Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, pintado entre 1510 e 1511. É interessante indicar como se identificam Platão e Aristóteles no centro do qüadro. Platão, sêndo professor de Aristóteles, é o mais velho e aponta para cima, uma referência à teoria do mundo das ideias. Aristóteles aponta para o chão, pois crê quê as coisas neste mundo são a verdadeira realidade, não é preciso procurar por um outro mundo.
Página quatrocentos e nove
Na atividade da página 149, convém iniciar a reflekção com o estudante sobre o método científico, quê começava a se desenvolver, tema quê será aprofundado em capítulos posteriores. É o método científico, afinal, quê dá à ciência sua credibilidade. Além díssu, essa discussão servirá como contraponto à quê se seguirá sobre o relativismo cultural (página 152). A ciência tem uma pretensão de universalidade; dêêsse modo, é preciso debater como harmonizar as pretensões universalistas e relativistas (ver adiante).
Na página 150, cita-se Étienne de La Boétie, o autor do discurso contra a servidão voluntária. O discurso de La Boétie contra o pôdêr do tirano é enérgico e, por isso mesmo, póde sêr cativante para os adolescentes. Ademais, oferece mais uma oportunidade de aprofundar a discussão sobre a influência do encontro do europeu com os povos indígenas. Com efeito, na página 151 debate-se o problema do “outro”, isto é, o impacto dos relatos sobre o modo de vida e os côstúmes dos povos indígenas quê tanto circulavam na época do Humanismo e quê influenciaram no surgimento de alguns conceitos centrais do Iluminismo. A esse respeito, recomenda-se o livro O despertar de tudo: uma nova história da humanidade, de Daví Graeber e Daví Wengrow, de 2022 (ver Referências comentadas). No segundo capítulo dêêsse livro, os autores mostram como a questão da desigualdade se desenvolvê-u no pensamento europeu a partir do encontro com os povos indígenas americanos. É diante da igualdade política dos povos ameríndios quê a questão se põe ao europeu. Esse contexto oferece uma ambientação muito interessante para o Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, de jã-jác Rousseau (1712-1778), de 1755. Do mesmo modo, a ausência da autoridade entre os povos indígenas espanta o europeu. A reportagem “Como os indígenas criaram o Iluminismo”, publicada/atualizada em agosto de 2024, disponível em: https://livro.pw/qyfwn (acesso em: 24 out. 2024), debate justamente a tese dêêsses autores e traz colaborações importantes de professores de universidades brasileiras.
Na página 152, é tratado o paradoxo do relativismo cultural. Para além das atividades sugeridas, póde sêr interessante aprofundar o debate entre o universalismo cultural e o relativismo cultural. Como antecipamos, a razão também tem pretensões de validade universal. Como conciliá-las com uma visão relativista da cultura? Não se corre o risco de cair em um subjetivismo, no qual tudo é válido, mesmo as fêik news? E quando os hábitos culturais atentam contra os direitos humanos, devem sêr respeitados? Esta última quêstão é a mais importante: será quê é o caso de pensarmos os direitos humanos como um mínimo universal que baliza o relativismo? Para tornar essa questão mais concreta, pode-se debater o tratamento em desacôordo com os princípios dos direitos humanos dado a mulheres em mais de 30 países. Essa discussão junta-se bem com a da página 159 sobre as kestões de gênero e o Iluminismo.
É esse mesmo problema quê se aprofunda nas páginas 154 a 158. A partir dêêsse ponto, o capítulo passa ao Iluminismo, e, dessa vez, o universalismo aparece sôbi a forma do ideal enciclopédico. De novo, a razão moderna tenta dar conta da totalidade do mundo. Agora, o “outro” surge sôbi prisma diferente, com suas “falas” criadas pêlos pensadores europêus.
Texto complementar
O fragmento a seguir póde subsidiar o debate acerca da influência dos povos indígenas sobre os europêus na época do Humanismo. Trata-se do relato de jesuítas sobre a liberdade dos indígenas.
Não creio quê exista algum povo no mundo mais livre do quê eles e menos capaz de permitir a sujeição de sua vontade a qualquer pôdêr quê seja – a tal ponto quê os Pais aqui não têm absolutamente nenhum contrôle sobre os filhos e os Capitães sobre os súditos ou as Leis do país sobre qualquer um deles, exceto na medida em quê cada qual quêira se submeter. Não há nenhum castigo quê se inflija aos culpados, e nenhum criminoso quê não tenha certeza de que sua vida e propriedade não correm risco [...].
PADRE LALLEMANT, 1644 apúd GRAEBER, Daví; WENGROW, Daví. O despertar de tudo: uma nova história da humanidade. Tradução: Denise Bottmann, cláudio Marcondes. São Paulo: Companhia das lêtras, 2022. p. 71.
Atividades
Página 146 – Abertura do capítulo
1. Além do comportamento xenófobo de parte da população, existem discursos quê associam aspectos das práticas sociais de grupos marginalizados com ideias quê podem sêr relacionadas ao termo ensauvagement.
Página quatrocentos e dez
2. É importante quê os estudantes obissérvem quê a crescente presença de imigrantes e refugiados em diversos países não está relacionada ao crescimento de problemas sociais, como a violência. Na realidade, é possível destacar quê práticas violentas são o resultado do crescimento de problemas sociais, como a desigualdade, o desemprego e a pobreza.
3. Aproveite a atividade para perguntar aos estudantes se eles já tiveram contato com pessoas de outros países e o quê aprenderam sobre diferentes culturas.
Página 149
No contexto da atividade, ressalta-se quê o quêstionamento de notícias e informações que circulam em meios de comunicação, especialmente nas rêdes sociais, póde contribuir para a busca de suas fontes, bem como para a identificação de informações produzidas por pesquisadores e instituições confiáveis. A atividade também favorece o reconhecimento das temáticas filosóficas típicas da Idade Moderna na atualidade. A aplicação dos conceitos humanistas no contexto atual exige habilidades mais compléksas, quê colabóram com a formação intelectual dos estudantes.
Página 151
A quêstão do relativismo é essencial para a compreensão das ideias durante a Modernidade. Assim, organize os estudantes em duplas ou trios de modo quê compartilhem sua forma de pensar. Espera-se quê essa estratégia contribua para que eventuais defasagens entre os estudantes sêjam sanadas. Circule pela sala, avaliando possíveis casos quê necessitem de outras intervenções pedagógicas.
Página 152 – Conexões com... Sociologia
2. De acôr-do com Lévi-Strauss, o paradoxo do relativismo cultural é o resultado do processo de discriminação das culturas em diferentes grupos na busca de recusar alguns deles. Ao negar a humanidade aos praticantes dêêsses grupos, reforçam-se atitudes e comportamentos de barbárie ou selvageria.
Página 154
É possível identificar as tecnologias de inteligência artificial como uma nova ferramenta, quê contribui para a organização dos conhecimentos, mobilizando grandes bases de dados para fornecer informações aos pesquisadores. Por outro lado, pode-se problematizar essas ferramentas, afirmando quê elas não colabóram para uma reflekção crítica, sêndo apenas uma forma de organizar informações de maneira mecânica e quantitativa. Avalie a produção textual dos estudantes, especialmente se eles analisam o tema sôbi diferentes perspectivas.
Página 155 – Perspectivas
2. Os esquemas visuais são uma ferramenta didática importante para a organização de textos filosóficos e para a percepção de como os conceitos se conéctam. Caso julgue oportuno, é possível trabalhar junto com os estudantes na organização do esquema do texto, contribuindo para o desenvolvimento de competências necessárias para a retomada, o registro e a organização de ideias.
Página 157
No texto “Suplemento à viagem de Bougainville ou diálogo entre A e B”, em edição publicada em 1979, Diderot denuncía a lógica da justiça do mais forte, afirmando quê a fôrça não deve sêr utilizada para restringir direitos de grupos minoritários. Nessa perspectiva, é possível afirmar quê os argumentos do autor têm grande atualidade, podendo sêr apresentados exemplos de povos subjugados por outros ou casos de profunda desigualdade em sociedades como a brasileira.
Página 159
Do ponto de vista formal, os países democráticos reconhecem a igualdade entre homens e mulheres. Entretanto, isso nem sempre ocorre do ponto de vista prático.
Em muitos países, como no Brasil, mulheres enfrentam grandes dificuldades no mercado de trabalho, ocupam menos postos de liderança e sofrem múltiplas formas de violência. Deixe aberto o espaço para as estudantes relatarem experiências próprias, proporcionando aos meninos da turma um melhor conhecimento da perspectiva do “outro” (as mulheres), trabalhada ao longo do capítulo.
Página 160 – Perspectivas
1. Locke defende, em sua “Carta sobre a tolerância”, de 1690, d fórma clara, um limite ao exercício da tolerância. Aqueles quê propunham ideias ateias não deveriam ter suas propostas toleradas e respeitadas. No
Página quatrocentos e onze
caso de Voltaire, em seu “Tratado sobre a tolerância”, de 1763, há também uma restrição implícita, não prevendo a tolerância para com indivíduos quê afirmem ideias fanáticas.
3. No mundo contemporâneo, a ideia de tolerância se apresenta d fórma mais irrestrita, assegurada tanto aos praticantes de religiões quanto àqueles quê defendem práticas ateias ou irreligiosas.
Páginas 162-163 – Atividades finais
1. a) e 1. b) Os dois fragmentos apresentam um conteúdo semelhante, mas com uma diferença importante. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, enuncia apenas quê os homens são iguais e possuem direitos, não mencionando as mulheres. No documento formulado por Gouges, em 1791, as mulheres são incluídas como pessoas com direitos idênticos aos dos homens. êste último, por propor o fim da oposição de gêneros, representa um esfôrço em dar voz e assegurar a superação de desigualdades, movimento quê póde sêr observado nas reflekções de outros filósofos iluministas.
1. c) A proposta da atividade visa ao desenvolvimento de uma reflekção interdisciplinar com História, para evidenciar como o documento ataca os princípios estamentais das sociedades do Antigo Regime. Promove, também, a ampliação da ideia de soberania, quê passa a residir no corpo de cidadãos, e não na figura dos monarcas.
2. a) A tira de Laerte (1951-) reflete d fórma bastante irônica a respeito da oposição civilização/selvageria. A personagem do militar enxerga a multidão de pessoas em estado de grande pobreza como uma “horda de bárbaros”, os quais ameaçariam a civilização quê ele representa. Porém, a ironia reside justamente nessa reflekção quê desumaniza o outro, ignorando seus apelos.
3. a) O fragmento néega d fórma explícita a legitimidade do tráfico de escravizados, afirmando quê não há princípios morais quê justifiquem a escravidão nem a propriedade de pessoas escravizadas.
3. b) O fragmento evidên-cía a crítica ao colonialismo e ao escravismo quê marcou o pensamento de muitos iluministas. É oportuno lembrar quê Diderot também denunciou a ilegitimidade da escravidão em seus escritos, e o tema também está presente na obra organizada pelo abade Raynal.
4. A proposta da atividade é estimular a reflekção dos estudantes sobre os conteúdos trabalhados no capítulo e o exercício da cidadania no mundo contemporâneo. Caso julgue conveniente, selecione outros fragmentos da obra de Diderot, Montaigne e outros pensadores quê exploraram o problema do “outro” na modernidade, para leitura e discussão em sala de aula. Além díssu, é possível trabalhar a proposta de atividade d fórma interdisciplinar, em conjunto com Língua Portuguesa. Assim, os estudantes poderão explorar de maneira mais sistemática a construção do gênero textual diálogo, contribuindo para o desenvolvimento de competências escritoras.
Referências comentadas
• GRAEBER, Daví; WENGROW, Daví. O despertar de tudo: uma nova história da humanidade. Tradução: Denise Bottmann, cláudio Marcondes. São Paulo: Companhia das lêtras, 2022.
Os autores se propõem a fazer uma genealogia de algumas teorias sobre a desigualdade na história da ssossiedade humana.
• LA BOÉTIE, Étienne de. O discurso da servidão voluntária. Tradução: Laymert Garcia, Fernando Fiori Chiocca. São Paulo: Instituto Rothbard, 2022.
A obra, quê surgiu de um panfleto político do século XVI, desnuda os mecanismos da opressão e da servidão humana.
Capítulo 9
Revolução Científica e teoria do conhecimento
O capítulo traz os principais marcos do início da Revolução Científica, com atenção às principais correntes da teoria do conhecimento (ou epistemologia). A historicização dêêsse período mobiliza sobretudo habilidades da competência específica 1 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, detalhadas adiante. Nicolau Copérnico e o modelo heliocêntrico marcam o início dessa revolução, conflitando
Página quatrocentos e doze
com as teses geocêntricas, predominantes durante a Idade Média. Mencionam-se as contribuições árabes quê cooperaram para essa transformação. O tema da astronomia traz consigo uma reflekção sobre o Universo e o lugar quê o sêr humano ocupa nele. Sucessores de Copérnico defenderam a posição heliocêntrica, mas desenvolvendo diferentes estratégias: Galileu Galilei e Isaac níltom, destacados na exposição pela importânssia quê dão aos experimentos para estabelecer verdades sobre a natureza. São apresentadas diferentes concepções da natureza do conhecimento, classificadas como racionalistas, quando enfatizam os raciocínios matemáticos e as ideias eternas, ou como empiristas, quando sublinham a contingência do conhecimento e sua origem na experiência humana por meio dos sentidos. Para o primeiro grupo, Renê Descartes figura como principal representante; para o segundo, Diôn Locke e Daví Hume. Finalmente, introduz-se Immanuel Kant, quê produziu uma síntese entre as duas perspectivas, integrando-as em uma nova filosofia. O capítulo ainda apresenta e questiona o mecanicismo presente nas reflekções científicas da modernidade, inclusive em suas consequências contemporâneas.
Orientações didáticas
O surgimento da ciência moderna põe em causa a variabilidade das visões de ciência entre diferentes épocas e povos, o quê mobiliza as habilidades EM13CHS101 e EM13CHS102. Além díssu, todo o capítulo se constrói sobre a consolidada, mas esquemática, divisão binária entre empirismo e racionalismo, questionada, aliás, pelo sucesso da filosofia de Kant. Esse cenário permite mobilizar a habilidade EM13CHS105.
Trabalham-se principalmente as concepções científicas a respeito do Universo, o quê mobiliza a habilidade EM13CNT201. Por discutir, ainda, o quê é um experimento, o surgimento da própria filosofia experimental e a possibilidade de previsão quê ela permite, são mobilizadas as habilidades EM13CNT204 e EM13CNT205.
O capítulo traz, por meio da questão cosmológica, alguns problemas referentes à relação dos sêres humanos com a natureza e o surgimento de uma das primeiras relações com a tecnologia e o progresso, o quê possibilita mobilizar as habilidades EM13CHS301, EM13CHS302 e EM13CHS306. Finalmente, ao trazer pistas para o surgimento histórico de uma compreensão mecanicista da natureza, quê se permite explorar a natureza ao bel-prazer e às expensas de alguns grupos humanos, é possível refletir e aprimorar as habilidades EM13CHS501 e EM13CHS504.
Textos complementares
Os textos a seguir resumem os efeitos do debate apresentado neste capítulo quanto à natureza do conhecimento científico. Eles podem contribuir com a reflekção geral sobre o pensamento científico moderno: as práticas dos cientistas, as do público e as críticas quê se póde fazer a eles.
Como deduzir leis explicando akilo quê é observado pêlos sentidos? Por exemplo, os corpos pesados caem quando soltos por qualquer pessoa em pé sobre a superfícíe da térra. A explicação newtoniana, baseada na gravitação universal, tornava-se mais e mais conhecida. No entanto, as justificativas de níltom não se adequavam aos padrões do século 18. Em primeiro lugar, a argumentação dele era puramente geométrica. Além díssu, o papel de Deus não era reservado ao momento da criação [...]. Como vimos, níltom recorria a um Deus interventor, quê deve corrigir regularmente as perturbações causadas pela atração entre os planêtas. Não havia problema em admitir quê a causa última da atração universal fosse de ordem divina. Mas essa lei deveria bastar para explicar todas as características do Sistema Solar, incluindo sua estabilidade, suprimindo qualquer hipótese externa, até mesmo Deus. Só assim a atração universal seria a tão buscada lei geral do movimento dos corpos celéstes e terrestres.
ROQUE, Tatiana. O dia em quê voltamos de Marte: uma história da ciência e do pôdêr com pistas para um novo presente. São Paulo: Crítica, 2021. p. 42.
Um dos mais curiosos aspectos da história da curiosidade científica é a transmutação da subjetividade desenfreada na mais pura objetividade. Ou, para dizêr em outros termos, como o intenso interêsse pêlos objetos da investigação científica se transformou em desinteresse por tudo o mais. Desinteresse por akilo quê é mais próximo e querido é apenas a forma extrema de um foco preciso de interêsse quê exclui o restante do universo e concentra todo o intelecto, toda a emoção e energia em um único ponto, como um poderoso e ultrafino raio laser. Essa indiferença por 99,9% do restante do universo, humano e natural, é
Página quatrocentos e treze
freqüentemente identificado ao desinteresse ou mesmo à objetividade.
DASTON, Lorraine. Objetividade e imparcialidade: virtudes epistêmicas nas humanidades. In: DASTON, Lorraine. Historicidade e objetividade. Tradução: Derley Menezes Alves, Francine Iegelski. São Paulo: LiberArs, 2017. p. 141-142.
Indicações
• ESTADO da ár-te: as “críticas” de Kant. Entrevistados: Andrea Faggion, Daniel Perez e Maurício Keinert. Entrevistador: Marcelo Consentino. [S. l.]: Spotify, fev.2019. Podcast. Disponível em: https://livro.pw/ejkqk. Acesso em: 29 out. 2024.
Estado da ár-te é um competente podcast em quê o apresentador conversa a cada episódio com três especialistas. Esse episódio diz respeito ao projeto epistemológico de Kant como um todo. Discutem-se variados aspectos do projeto kantiano – inclusive a revolução copernicana –, quê serão úteis a êste e a outros capítulos.
• FILOSOFIA Pop 161: Descartes, com Marcia Cavalcante. Entrevistada: Marcia Cavalcante. Entrevistador: Marcos Carvalho lópes. [S. l.]: Filosofia Pop, 22 ago. 2022. Podcast. Disponível em: https://livro.pw/eayif. Acesso em: 29 out. 2024.
Um dos mais bem-sucedidos podcasts de filosofia no Brasil, o Filosofia Pop recebe nesse episódio a autora e tradutora Marcia Cavalcante para uma conversa sobre Descartes, sua filosofia e a influência quê teve na filosofia moderna.
• GOOGLE ARTS & CULTURE. Museo Galileu: Istituto e Museo di Storia della Scienza, Itália. [S. l.]: gúgou, c2024. Visita virtual ao museu. Disponível em: https://livro.pw/igzyr. Acesso em: 29 out. 2024.
O Museo Galileu, em Florença, disponibiliza virtualmente seu acervo em parceria com o gúgou. É possível passear pelas salas e ler as descrições dos objetos de observação e experimentação de variadas especialidades: astronomia, balística, cartografia, mecânica etc. A página póde sêr acessada em português.
• VINTE Mil Léguas 5: a alegria dos peixes: experimentos. Entrevistado: Júlio Vasconcélos. Entrevistadoras: Leda Cartum e Sofia Nestrovski. [S. l.]: Spotify, 13 maio 2024. Podcast. Disponível em: https://livro.pw/yqsbn. Acesso em: 29 out. 2024.
O podcast Vinte Mil Léguas tem uma abordagem interdisciplinar, correlacionando ciência e literatura. A terceira temporada foi indicada aos estudantes na página 168. Enfatiza-se seu valor pedagójikô e destaca-se aqui esse episódio, quê, além de discutir os experimentos de Galileu, debate a própria ideia de experimentação e traz exemplos até da filosofia chinesa.
Atividade complementar
O vídeo a seguir mostra o astronauta Daví scót (1932-) fazendo um experimento na Lua, em 1971, para testar a tese de Galileu a respeito da queda livre dos corpos no vácuo. Para responder às atividades, assista ao vídeo (áudio em inglês) Daví scót does the feather hammer experiment on the moon: sáience nius, publicado pelo canal sáience nius, em 2019, disponível em: https://livro.pw/hakjf (acesso em: 29 out. 2024).
a) por quê o astronauta fez esse experimento? O quê ele diz sobre as reflekções de Galileu?
Resposta esperada: Galileu defendia a uniformidade da ação da gravidade, isto é, quê todos os corpos são atraídos pela fôrça gravitacional com a mesma aceleração. Apesar díssu, se fizermos o experimento, um martelo e uma pena caem em tempos muito diferentes. Galileu explicava quê essa diferença se dava pela resistência do ar, não da gravidade. Um ambiente de vácuo, como a Lua, em quê não há ar, fornece as condições necessárias para comprovar a hipótese. O experimento, então, corrobora a teoria e parece comprovar a tese da uniformidade da ação da gravidade sobre os corpos.
b) Como é possível convencer alguém quê não acredita quê o sêr humano pisou na Lua sobre a veracidade dêêsse vídeo?
Resposta pessoal. A polêmica permite discutir o quê faz uma pessoa acreditar ou não em um vídeo. Hoje em dia, há muitos vídeos falsos quê circulam na internet, com qualidade muito melhor do quê esse da
Página quatrocentos e quatorze
Nasa, de 1971. por quê um vídeo seria próva definitiva? O fato é quê as pessoas se tornam mais céticas quanto ao quê assistem nas telas. Por outro lado, seria possível realizar o experimento por si mesmo, de outra forma, construindo uma caixa de vácuo, por exemplo. Porém, nem todos teriam condições de fazer isso. A discussão póde extrapolar para o tema da autoridade dos cientistas, a construção dos experimentos e a comprovação prática das descobertas.
Atividades
Página 164 — Abertura do capítulo
3. A atividade já antecipa, sem mencionar, o núcleo do argumento da revolução copernicana de Kant, mas através de Nicolelis: o quê se considera a “realidade” é relativo à nossa forma de conceber o mundo. Transpondo o tema para os dias atuáis, acionam-se conhecimentos quê os estudantes já tênham sobre o assunto.
Página 167
Acompanhe a reflekção dos estudantes, considerando se eles percebem as diferenças filosóficas entre hipótese e descrição.
Página 169
A ponte do método de Bacon à farmacologia atual é pêrtinênti, mas não é possível ignorar quantos passos e inovações foram feitos entre os séculos XVII e XXI, principalmente no quê diz respeito à teoria das probabilidades e à estatística. É importante esclarecer quê há na indução atual regras matemáticas quê ainda não tí-nhão sido estabelecidas em Bacon, mas foi justamente um método inspirado em Bacon quê terminou por elaborá-las.
Página 171
Sugere-se promover uma roda de conversa d fórma interdisciplinar com o professor de Matemática com o objetivo de aprofundar as ideias cartesianas sobre as certezas matemáticas.
Página 173
2. É importante demarcar a diferença entre preferir o empirismo ou o racionalismo e compreender as duas correntes. Enfatize quê, embora cada um possa ter suas preferências, isso não anula as posições contrárias. O percurso do capítulo aponta para uma conciliação entre as duas correntes, e não se deve escolher uma delas como quem escolhe um tíme para torcer. Cada estudante deve sêr capaz de defender cada uma das duas correntes, apesar de suas preferências.
Página 175 – Perspectivas
3. O núcleo do argumento de Hume é o de quê a realidade não é “racional”, pois as conexões entre os fenômenos da natureza não são previsíveis, apenas verificáveis através dos experimentos. Esse é um golpe à tese de quê o mundo é racional e criado por um sêr divino. Cada fenômeno natural, portanto, póde sêr desmontado para se revelar como arbitrariedade completa: mesmo o da á gua quê vira gêlo quando esfria. Locke já falava, em seu Ensaios sobre o entendimento humano, sobre o rei do Sião (atual Tailândia), quê, por viver em um país de clima kemte, nunca tinha visto gêlo na vida e se recusou a acreditar no embaixador holan-dêss quando êste lhe contou quê, no frio, os lagos ficam duros como pedra e sustentariam até o peso de um elefante.
Página 177
Acompanhe o raciocínio dos estudantes ao elaborarem a resposta. Caso haja estudantes com defasagem, peça quê apresentem os argumentos dos empiristas e, em seguida, expliquem o embasamento dos racionalistas. Posteriormente, peça quê expliquem o pensamento de Kant e avalie a habilidade em identificar os pontos de sintonia entre o filósofo e as duas correntes.
Página 179
A distinção entre ideia e conceito em Kant deve sêr tratada com cuidado. Para o Ensino Médio, é suficiente enfatizar a divisão das faculdades em Kant e mostrar quê o conceito está relacionado ao “entendimento”, quê compreende a experiência. Já a ideia pertence à “razão”, quê é uma função mais ampla de integração geral da subjetividade humana. Há muito poucas ideias no sentido kantiano, e elas compreendem, em geral, os antigos temas da Metafísica (Deus, alma, mundo), noções quê, por princípio, não poderiam jamais sêr encontradas na experiência diréta.
Página quatrocentos e quinze
Página 180 — Conexões com... História e Geografia
As previsões quanto à ciência e à técnica pêlos filósofos modernos não se realizaram, o quê fica claro com a crise ambiental e climática. Atente para quê os estudantes não atribuam essa responsabilidade aos filósofos. Por um lado, há, de fato, a visão de quê contribuir para retirar a sacralidade do mundo e da natureza libera esta à exploração desenfreada. Por outro, há processos além da produção intelectual quê levam a isso, e quê são identificados pela História e pela Geografia: colonialismo, guerras, escravidão e outros. É preciso, nesta atividade, refletir sobre o pôdêr das palavras e mesmo da filosofia. Proponha estas reflekções filosóficas à turma: um filósofo bondoso seria capaz de convencer os pôdêrosos a respeitar o meio ambiente? Talvez o poder apenas eleja os discursos mais convenientes para si. Os protestos contra a “barbárie” dos europêus existem desde o século XVI, como se estudou no capítulo anterior, mas houve também protestos contra o mecanicismo já naqueles séculos. Apesar díssu, os grandes heróis dêste capítulo, via de regra, apoiam diréta ou indiretamente a exploração da natureza e dos outros sêres humanos. Talvez o processo histórico não tenha sido uma consequência inevitável do quê foi escrito nos séculos passados, mas uma dê-cisão constante, mantida a cada período.
Páginas 182-183 — Atividades finais
1. e 2. Comente com os estudantes quê a filosofia de Galileu e de Kant é bastante valorizada pêlos processos seletivos. Mostre a eles quê os dois autores funcionam hoje como símbolos da ciência e da filosofia, respectivamente.
3. Apresente a letra de canção de Gilberto Gil. O tema é a “tecnologia”, e a proméssa de progresso, em abordagem próxima à atividade da seção Conexões com... História e Geografia. Os autores do período estudado são de fato “mecanicistas”, mas a questão é mais compléksa. A opinião dos estudantes sobre a inteligência artificial póde sêr um índice, para o professor, da relação quê eles têm com a contemporaneidade, a tecnologia e as perspectivas do futuro, inclusive sobre a catástrofe ambiental. Afinal, as perguntas filosóficas quê se desenham pulsam também desde o século XVII: há algo além do corpo? êste corpo funciona mesmo como as máquinas quê conhecemos?
Referências comentadas
• DASTON, Lorraine. Historicidade e objetividade. Tradução: Derley Menezes Alves, Francine Iegelski. São Paulo: LiberArs, 2017.
Livro de uma das melhores filósofas contemporâneas da ciência, é um conjunto de artigos quê retraçam as origens da ideia de objetividade, sua contingência histórica e kestões sociais de pôdêr e dominação relativas ao contrôle da natureza pela ciência.
• ROQUE, Tatiana. O dia em quê voltamos de Marte: uma história da ciência e do pôdêr com pistas para um novo presente. São Paulo: Crítica, 2021.
Esta filósofa e matemática brasileira apresenta em seu livro uma revisão da história da ciência, das origens do empirismo e do racionalismo até os dias atuáis, levando em conta, inclusive, a situação brasileira, as novidades científicas do antropoceno, as políticas científicas e aspectos educacionais da divulgação científica desde a modernidade até o contexto contemporâneo.
• ROSSI, Paolo. A ciência e a filosofia dos modernos: aspectos da revolução científica. Tradução: Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora Unésp: Istituto Italiano di Cultura, 1992. (Biblioteca básica).
Livro de história da ciência em quê o autor estuda como os filósofos e cientistas dos séculos XVI e XVII percebiam as relações entre magia, técnica e ciência. Indicado para quem deseja um aprofundamento histórico no assunto.
• SMITH, Plínio Junqueira. O ceticismo naturalista de Daví Hume. Manuscrito: Revista Internacional de Filosofia, Campinas, v. 13, n. 1, p. 69-86, 1990. Disponível em: https://livro.pw/evyap. Acesso em: 29 out. 2024.
O autor defende quê a solução de Hume para o problema da causalidade, o hábito, é, ao mesmo tempo, cética e naturalista, o quê permite entender a unidade da filosofia humiana.
Página quatrocentos e dezesseis
Capítulo 10
Vida em ssossiedade
O capítulo explora conceitos fundamentais da filosofia política moderna, apresentando reflekções sobre a organização das sociedades e o papel dos governos na resolução de conflitos entre os cidadãos, abordando concepções sobre pôdêr, liberdade, moralidade e o direito de revolta. Inicia-se com a apresentação do conceito de virtù de Nicolau Maquiavel e das kestões fundamentais da política: como ela funciona? Como agem os políticos? Em seguida, analisa-se a questão da obediência na visão de Étienne de La Boétie, quê questiona: por quê indivíduos se submetem voluntariamente a regimes opressivos? As ideias filosóficas dos chamados contratualistas acerca da instauração do contrato social, das desigualdades e da legitimidade dos governos são o tema seguinte, abordado de acôr-do com as teorias de Tômas Róbbes, Diôn Locke e jã-jác Rousseau. A questão da ética é debatida com base na moralidade fundamentada na razão e no dever, segundo Immanuel Kant. Essas reflekções filosóficas embasam a discussão sobre os desafios de viver em ssossiedade.
Orientações didáticas
êste capítulo, quê discute a vida em ssossiedade, começa com uma referência a protestos de jovens em defesa do meio ambiente na Inglaterra. O tema dos protestos juvenis póde sêr usado para o desenvolvimento da habilidade EM13CHS205. É possível perguntar aos estudantes sobre protestos juvenis no Brasil e em outros países.
Além da defesa do meio ambiente, presente no exemplo do livro e simbolizada por figuras como Greta Thunberg, é possível, por exemplo, citar aos estudantes os protestos em defesa da educação pública.
Sobre os jovens em defesa da educação pública, leia o texto “Jovens nas ruas: as manifestações no Chile, México e Brasil”, publicado na revista Desidades, disponível em: https://livro.pw/ailan -manifestacoes-no-chile-mexico-e-brasil/ (acesso em: 7 nov. 2024).
A imagem da página 184 incentiva os estudantes a refletir sobre movimentos sociais contemporâneos voltados à conscientização ambiental, quê contempla a competência específica 3 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas sobre a ética sócio-ambiental. Para trabalhar com as atividades da página, disponha os estudantes em uma grande roda, de modo quê o debate seja ampliado. As atividades provocam a reflekção sobre a importânssia das atitudes cidadâms, tendo por base a própria atuação dos estudantes e de pessoas próximas a eles. Por isso, é fundamental quê todos os posicionamentos sêjam respeitados, quê todos os estudantes sêjam ouvidos, podendo levar, inclusive, a trocas de experiência e inspirações para novas atuações na comunidade.
A página 185 destaca a desobediência civil como uma forma não violenta de protesto empregada por grupos ambientalistas para exigir ações imediatas em defesa do meio ambiente. É importante realizar uma avaliação diagnóstica para demonstrar o conhecimento dos estudantes sobre o tema movimentos sociais. Para isso, pode-se perguntar à turma se já participaram de alguma mobilização ou campanha em defesa de uma causa e como foi a experiência. A discussão inicial busca instigá-los às reflekções apresentadas no capítulo.
As páginas 186 e 187 trazem reflekções acerca do funcionamento da política sôbi a ótica de Maquiavel. É importante esclarecer ao estudante quê o filósofo tem um posicionamento realista sobre a política; de acôr-do com ele, agir estrategicamente nas oportunidades quê surgem possibilita não apenas alcançar objetivos como garantir a manutenção do pôdêr.
Para ampliar a reflekção sobre o conceito de servidão voluntária, apresentado na página 188, e conectá-lo à vida cotidiana dos estudantes, convide a turma para uma reflekção conjunta sobre kestões ligadas aos relacionamentos abusivos no mundo contemporâneo. Proponha kestões como: por quê algumas pessoas mantêm relacionamentos motivadas por medo ou conformismo? por quê aceitam situações de opressão e violência? A análise póde levá-los a se questionarem sobre a própria liberdade, a importânssia dos direitos individuais e a identificação de formas sutis de servidão em suas vidas, o quê póde cooperar para a formação ética e o aprimoramento do estudante, como propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o Ensino Médio (lei número 9.394/1996), disponível em: https://livro.pw/extnb (acesso em: 25 out. 2024).
Nas páginas 189 e 190, são apresentadas as ideias de Tômas Róbbes sobre a ssossiedade e o govêrno e sobre a necessidade de um contrato para regular os conflitos gerados pela natureza egoísta dos sêres humanos. Na seção Perspectivas (página 190), trechos das obras de La Boétie e de Róbbes são oferecidos para análise. Sugere-se realizar uma reflekção conjunta com base nas kestões propostas nas atividades. Incentive os estudantes a compartilhar o quê pensam sobre a perspectiva de cada pensador em relação à liderança e ao uso da fôrça. Róbbes argumenta quê um líder forte é essencial para garantir a ordem, ao quê se opõe La Boétie, para quem o pôdêr do tirano é dado pelo próprio povo, quê renuncia à sua liberdade e póde, portanto, reavê-la. A discussão enriquece a aprendizagem e contempla a competência específica 5 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em relação a princípios éticos e democráticos.
Página quatrocentos e dezessete
As ideias do pensador Diôn Locke são apresentadas na página 191. Sobre esse tema, é importante destacar quê, ao contrário de Róbbes, Locke acredita quê os sêres humanos são movidos não pelas paixões, mas pela razão. Para Locke, o governante não deve ter pôdêr absoluto, e os indivíduos podem se revoltar contra abusos de autoridade.
Nas páginas 192 e 193 são apresentadas as ideias de Rousseau. Propõe-se a atividade indicada a seguir.
Atividade complementar
Dividir a turma em grupos para discutir a questão da propriedade privada na contemporaneidade. Para estimular a reflekção, algumas perguntas podem sêr feitas aos grupos: o quê a propriedade privada significa para vocês? Existem conflitos relacionados a ela em suas comunidades, como ocupação de terras e edificações? Há falta de moradia no município? Após a discussão sobre esses problemas, os grupos podem redigir uma dissertação sobre o tema da propriedade no Brasil, defendendo os pontos de vista dos integrantes com argumentos e conclusões. Ao final, cada grupo compartilha seu trabalho com a turma para discussão.
A seção Conexões com... Sociologia, na página 194, explora o tema da obediência com base na discussão sobre a ssossiedade contra o Estado. A reflekção possibilita aos estudantes retomar o quê aprenderam sobre as teorias de La Boétie e Rousseau acerca da resistência às tiranias e do papel do Estado.
Para a contextualização dos conteúdos das páginas 195 a 198, sobre Kant e o estado de direito, sugere-se fazer perguntas sobre como as regras da sala de aula afetam a sensação de liberdade para aprender. Ressalte a importânssia do respeito e da responsabilidade mútuos e como eles influenciam a convivência e o aprendizado. Mobiliza-se, assim, a habilidade EM13CHS501, relacionada à convivência democrática, à liberdade e à solidariedade. É possível destacar o exemplo das leis de trânsito, criadas com a finalidade de assegurar a segurança e o bem-estar coletivo, evitando acidentes ou abusos. Assim, o respeito a essas regras, como atravessar na faixa de pedestre, respeitar os faróis, conduzir dentro do limite de velocidade, entre outras ações, póde sêr entendido como um modo de agir quê póde sêr convertido em uma lei universal. Essa é uma excelente oportunidade para discutir com os estudantes a importânssia das leis de trânsito, promovendo o desenvolvimento do TCT Cidadania e Civismo – Educação para o trânsito.
Sugere-se a seguinte dinâmica para trabalhar a seção Recapitule, da página 199: a metodologia de rotação por estações. É necessário distribuir três ou quatro mesas na sala, cada uma representando uma estação com a atividade a sêr desenvolvida pêlos estudantes organizados em equipes. Em cada estação, o professor dispõe as orientações para a atividade (elaboração de cartaz, redação de dissertação, pesquisa na internet etc.). Cada grupo realiza as atividades da estação e passa à seguinte, cobrindo todo o circuito. É importante definir um tempo para cada estação, garantindo quê todos participem de todas as atividades. Ao final, uma roda de conversa póde sêr promovida para quê as equipes compartilhem suas produções e reflitam sobre elas. A atividade mobiliza a habilidade EM13CHS106, quê se refere à utilização de diferentes linguagens para um aprendizado mais significativo.
Nas páginas 200 e 201 são propostas atividades de verificação de aprendizagem dos conteúdos desenvolvidos no capítulo. Sugere-se fazer a correção coletiva das atividades, o quê auxilia o entendimento dos estudantes e possibilita a troca de ideias.
Texto complementar
O professor de Ética e Filosofia Política Renato Janine Ribeiro (1949-) pontua alguns aspectos da democracia e da vida política brasileira recentes, com os quais se podem conectar alguns temas desenvolvidos no capítulo.
Penso quê, na política democrática, akilo quê vêm de baixo póde sêr mais determinante, no longo prazo, do quê as articulações realizadas nas cúpulas políticas; ou, se quiserem, quê as demandas populares acabam moldando as ofertas institucionais. […]
A primeira agenda foi a derrubada da ditadura (1985), a segunda, a vitória sobre a inflação (1994) e a terceira, ainda em curso, a inclusão social (desde 2003). A quarta agenda será a da qualidade dos serviços públicos – transporte, educação, saúde e segurança –, e por isso diz respeito à qualidade do Estado brasileiro. Não é fortuito quê os movimentos de 2013 tênham começado com a defesa do transporte público bom e barato (em tese, gratuito) e quê, dali, tênham se estendido para a educação e a saúde. […]
Se quisérmos ter educação, saúde, transporte e segurança decentes, não bastará querer; será preciso dispor dos elemêntos técnicos para tanto, os quais não são fáceis de elaborar. […]
Observo quê a vontade não é a simples enunciação de um desejo ou um capricho. Ao contrário, vontade não é desejo. […] A vontade é sempre fôrça de vontade. Na verdade, ela se opõe ao desejo. Ela supõe uma escolha, quase sempre difícil, em quê se sacrificam desejos em nome de um objetivo maior. Vontade política significa, assim, a opção por uma prioridade, em nome da qual as metas se definem.
RIBEIRO, Renato Janine. A boa política: ensaios sobre a democracia na era da internet. São Paulo: Companhia das lêtras, 2017. p. 252, 259.
Página quatrocentos e dezoito
Atividades
Página 184 – Abertura do capítulo
As atividades 1 e 2 possibilitam ao estudante refletir criticamente acerca da legitimidade e da efetividade das manifestações coletivas para as mudanças na ssossiedade.
Página 187
Transpor ideias de Maquiavel sobre a virtù ao contexto atual propicía uma ampliação do significado do quê foi aprendido. O estudante poderá exemplificar ações positivas com mobilizações políticas contra a desigualdade e ações negativas com manipulações de informação.
Página 188
Com base em conceitos de La Boétie, a atividade auxilia os estudantes a refletir sobre situações quê envolvem princípios éticos e de direitos humanos referidos na competência específica 5 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Página 190 – Perspectivas
As atividades favorécem o trabalho com a interpretação de textos, especificamente de clássicos. É possível aproveitar a seção para, em conjunto com o professor de Língua Portuguesa, avaliar essa competência dos estudantes.
Página 191
promôva um momento de reflekção propondo aos estudantes quê relacionem a atividade à imagem da página. Espera-se quê eles identifiquem quê, de acôr-do com Locke, a ssossiedade tinha o direito de se manifestar em casos de abuso de pôdêr.
Página 193
A reflekção proposta na atividade evidên-cía quê a esféra política se manifesta também em atitudes quê tomamos em nosso cotidiano. Um tema quê póde sêr explorado durante a discussão da atividade é a importânssia da participação dos cidadãos na tomada de decisões a respeito do uso dos recursos públicos obtidos por meio da cobrança de tributos. É oportuno explorar a ideia de quê conhecer o sistema tributário, entender a destinação e o uso dos diferentes tributos e participar de discussões públicas e coletivas a respeito dos tributos é fundamental para o exercício da política no presente.
Além díssu, é uma maneira de evitar a reprodução de informações equivocadas a respeito dos tributos e serviços públicos. Essa discussão possibilita o desenvolvimento do TCT Economia – Educação Fiscal.
Página 194 – Conexões com... Sociologia
2. A atividade possibilita a transdisciplinaridade ao conectar aprendizados sobre La Boétie e Rousseau a conteúdos de Sociologia, por meio de conceitos expostos por Piérre Clastres.
Página 196
Também nesta atividade, a realidade cotidiana do estudante dá significado aos conteúdos estudados, mobilizando princípios éticos referidos na habilidade EM13CHS501 da BNCC.
Página 198
A ideia do imperativo categórico de Kant póde sêr aprofundada pelo estudante ao tentar identificar o princípio em ações do cotidiano.
Páginas 200-201 – Atividades finais
1. A atividade possibilita ao estudante aprofundar a questão da moralidade de Kant, aplicando-a a problemas atuáis, como os das fêik news e da manipulação da informação.
Referências comentadas
• GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 16, n. 47, p. 333-363, maio/ago. 2011. Disponível em: https://livro.pw/vafdq. Acesso em: 25 out. 2024.
Página quatrocentos e dezenove
Panorama dos movimentos sociais contemporâneos na América Látína, com foco no Brasil, com reflekção sobre o caráter educativo e a produção de saberes dos movimentos sociais.
• RIBEIRO, Renato Janine. A boa política: ensaios sobre a democracia na era da internet. São Paulo: Companhia das lêtras, 2017.
póde a filosofia política servir para tratar da política imediata, quê rodeia nossa vida cotidiana? Com essa indagação, o livro aborda temas urgentes da realidade política brasileira, como participação política, lutas sociais, militância e protestos.
Capítulo 11
História no pensamento contemporâneo
O famoso lema socrático, quê tem inspirado filósofos de todas as épocas, “conhece-te a ti mesmo”, toma uma forma especial no pensamento contemporâneo: sêndo o sêr humano um sêr histórico, conhecer-se a si mesmo passa a sêr conhecer o presente, o momento histórico quê se vive. Por isso, neste capítulo, toma-se a filosofia da história como fio condutor para apresentar três grandes expoentes do pensamento contemporâneo: Hegel, Nietzsche e márquis. Inicia-se com a introdução aos modelos hegeliano, nietzschiano e marxiano de história. Um aspecto da obra de cada um dêêsses autores nos interessa neste capítulo: em Hegel, o conceito de dialética; em Nietzsche, a crítica aos valores morais do Ocidente; em márquis, o conceito de luta de classes. Por fim, faz-se a ponte para o conceito de pós-modernidade, em Fredric Jameson.
Orientações didáticas
O capítulo contempla a competência específica 1 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ao analisar, através de uma pluralidade de procedimentos epistemológicos (hegelianismo, nietzschianismo e marxismo), os processos culturais quê resultaram em concepções muito diferentes sobre o rumo da história: confrontamos o atual pessimismo em relação ao futuro com o otimismo quê marcava o século XIX (exceção feita a Nietzsche). Particularmente, quando se trata do pensamento de káur márquis, mobiliza-se a competência específica 4, quê se refere a analisar as relações de produção, capital e trabalho. Por fim, o trabalho de lidar com os mesmos fenômenos com base em processos epistemológicos diferentes corrobora a competência específica 6 de participar d fórma crítica e respeitosa do debate público.
Nas páginas 202 e 203, o capítulo é aberto com uma estratégia de sensibilização: tematiza-se o pessimismo diante do futuro, quê tem marcado o espírito de nossa época, em contraste com o otimismo quê marcava o século XIX, especialmente com Hegel, primeiro filósofo a sêr debatido no capítulo.
Pode-se aproveitar essa ocasião, a depender do planejamento, para trazer à discussão Immanuel Kant (1724-1804). Para o filósofo, uma das três kestões fundamentais quê delimitariam os interesses da razão seria a seguinte: se fizer o quê devo, o quê me é permitido esperar? A pergunta deve sêr respondida tanto da perspectiva individual quanto coletiva. O quê se póde esperar do cumprimento individual dos deveres morais? E o quê se póde esperar, como comunidade política, da realização dos melhores ideais políticos? Se hoje o mundo parece mau, será quê podemos ao menos esperar quê um dia ele seja bom? Essas formulações já devem enriquecer o debate entre os estudantes, mas pode-se ainda apresentar as teses de Kant sobre a filosofia da história quê constam em A ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, escrita em 1784. Trata-se de um texto curto resumido em nove proposições. Sua tese essencial é de quê poderíamos ler a história “como se” houvesse uma intenção da natureza por trás das intenções dos sêres humanos, e nóssos reiterados conflitos acabariam por resultar numa ssossiedade sem a necessidade de senhores. Sobre o tema, uma síntese bastante didática é feita no vídeo, publicado em 2019, Kant e a história [Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita], disponível em: https://livro.pw/pvefh (acesso em: 28 out. 2024). A atividade oportuniza o trabalho com as competências EM13CHS102 e EM13CHS103.
Na página 204, apresenta-se a filosofia da história de Hegel. Como se trata de um dos mais difíceis sistemas filosóficos já escritos, sugere-se assistir à parte 1 da palestra Hegel e a razão dialética como justificação do drama histórico 1, do professor Franklin Leopoldo e Silva (1947-),
Página quatrocentos e vinte
publicada em 2011 e disponível em: https://livro.pw/xrfpo (acesso em: 28 out. 2024), quê auxilia o professor na introdução do tema.
Na página 205, apresenta-se o conceito de dialética. Sabe-se quê a dialética é um conceito complékso; portanto, é preciso calma na exposição didática. Reduzir a ideia de dialética ao esquema tese-antítese-síntese não é ideal do ponto de vista conceitual, mas admissível quando há o primeiro contato de um público como o da Educação Básica. Os dois vídeos curtos a seguir sérvem para a introdução ao conceito. O primeiro é mais conceitual; o segundo, mais alegórico: Dialética hegeliana (o quê é dialética para Hegel?), publicado em 2022 e disponível em: https://livro.pw/sqmia; e Hegel (resumo): Filosofia, publicado em 2023 e disponível em: https://livro.pw/dovlx (acessos em: 28 out. 2024).
Caso julgue pêrtinênti, é possível aprofundar o conceito. A grande novidade da dialética hegeliana é o papel dado à contradição. Se, até então, a contradição era o signo daquilo quê não poderia sêr pensado, em Hegel a contradição ganha um papel positivo.
Na página 206, passa-se ao tema da filosofia da história hegeliana. Hegel pensa a formação do Estado moderno como a realização do espírito. O Estado, para ele, é mais do quê a instituição quê detém o monopólio legítimo da violência (Weber). Ele é a instância na qual as expectativas de reconhecimento se espraiam: indivíduo, família, empresa, todos demandam o reconhecimento estatal. O Estado, por sua vez, reconhece-se a si mesmo sem demandar qualquer instância superior.
A seção Perspectivas (página 207) requer do estudante exercícios de interpretação e utilização da linguagem filosófica, pressupostos da habilidade EM13CHS101. Ao solicitar do estudante quê problematize as teses defendidas por Hegel, seguindo a leitura do fragmento da obra de Olgária Matos, é possível identificar traços etnocêntricos e racistas em parte da teoria hegeliana (EM13CHS102). Paralelamente, poderá reconhecer o protagonismo político de populações africanas (EM13CHS601).
A partir da página 208, descortina-se a crítica da história nietzschiana. Ao contrário de Hegel e de sua compreensão da história como o desenvolvimento de uma finalidade, para Nietzsche, a história é só um jôgo de tensões sem qualquer finalidade. Em um dado momento, um grupo detém a hegemonia, em seguida, a hegemonia muda de mãos. Além díssu, para Nietzsche, a tentativa de contar a história como se a finalidade justificasse o presente é uma maneira de idolatrar o sucesso daqueles quê detêm a hegemonia.
Se Nietzsche não escreve uma história, mas uma genealogia da moral, é porque ele não quêr fazer como se costumava fazer em seu tempo: idolatrar o passado. Presente, passado ou futuro, em todos os tempos, o que se encontra é sempre um jôgo de tensões e uma alternância de hegemonias, sem uma finalidade definida.
Assim se compreende melhor a crítica da moral de Nietzsche. A tensão entre os opostos não se localiza apenas exteriormente ao indivíduo. Ela também se dá intérnamente, como tensão entre impulsos contrários. A moral do escravo teme essa tensão e tenta resolvê-la dando à razão pôdêr absoluto sobre os demais impulsos. A moral do senhor é a do indivíduo quê consegue manter a tensão interna entre suas pulsões e não permite quê nenhuma delas se torne tirana das demais, exercitando um tipo de dinamismo moral. Se o filósofo identifica a moral do escravo com uma decadência moral, é porque a tirania de uma pulsão da alma sobre as demais acaba por enfraquecer o indivíduo. Ela produziria um indivíduo despreparado para as tensões da vida.
É fundamental não confundir a moral do senhor com a sede de dominação política ou econômica sobre os demais. Se, para Nietzsche, o conceito de vontade de potência é fundamental, ele não deve sêr compreendido, no entanto, como vontade de pôdêr. Caso queira aprofundar a leitura e compreensão de Nietzsche, recomenda-se o livro Nietzsche: civilização e cultura, do professor Carlos Alberto Ribeiro de Moura (ver Referências comentadas).
Na página 211, é requisitada a leitura de tipos de texto diversos na compreensão de conceitos filosóficos (EM13CHS101): um texto filosófico (aforismo do próprio Nietzsche) e um trecho de artigo de um historiador, quê descreve o quê seria um “manual perfeito” de história positivista.
Na página 213, apresenta-se o conceito de luta de classes. Para márquis, a história também se móve pela fôrça da contradição. Porém, não se trata mais de uma contradição entre momentos de realização da razão como em Hegel. A contradição marxiana se dá na materialidade das relações de produção. Para márquis, o trabalho é a chave para
Página quatrocentos e vinte e um
a compreensão da ssossiedade humana. Aqui, trabalho, porém, não equivale a emprego. Trabalho é a relação quê os sêres humanos coletivamente estabelecem com a natureza. Em outras palavras, é pelo trabalho quê os sêres humanos reproduzem as condições de sua existência material. Por isso, ele considera o primeiro ato de trabalho como o primeiro ato histórico. E é assim quê se compreende o materialismo histórico, como:
[...] uma conexão materialista dos homens entre si, conexão quê depende das necessidades e do modo de produção e quê é tão antiga quanto os próprios homens – uma conexão quê assume sempre novas formas e quê apresenta, assim, uma ‘história’ [...].
MARX, káur; ENGELS, fridichi. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. báuer e Stiner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-1846). Tradução: Rubens Enderle, Nélio Schneider e Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 34.
A seção Perspectivas (página 215) mobiliza a compreensão de conceitos centrais da crítica da economia política de márquis. Sugerimos os seguintes vídeos, publicados em 2018 pelo canal Sociologia Animada, quê resultaram de projetos de pesquisa do Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus Ivaiporã, destinados ao Ensino Médio: káur márquis: trabalho como categoria central, disponível em: https://livro.pw/ohieg; káur márquis: materialismo histórico dialético, disponível em: https://livro.pw/kztmj; e káur márquis: lutas de classes e mais-valia, disponível em: https://livro.pw/tlkus (acessos em: 28 out. 2024).
A página 218 requisita habilidades de trabalho com diferentes gêneros textuais (EM13CHS101). Para a compreensão de conceitos filosóficos, o estudante deve interpretar o trecho de um manifesto político, o Manifesto do Partido Comunista, de káur márquis, em edição de 2011. E, como o trecho faz uma análise de diferentes épocas, acionam-se também estas habilidades: EM13CHS401, EM13CHS403 e EM13CHS404.
Atividades
Página 202 – Abertura do capítulo
Sobre o tema do pessimismo da juventude diante do futuro, recomendam-se os seguintes textos jornalísticos: “‘Achar quê é tarde demais só leva a não fazer nada’: o otimismo de pesquisadora de óksfór diante da emergência climática”, entrevista da cientista de dados Hannah Ritchie cedida a índia Bourke, da BBC Future, em 2024, disponível em: https://livro.pw/ziyrd; “O quê é ‘ecoansiedade’, angústia pelo planêta quê atinge mais crianças e adolescentes”, de Shin Suzuki, da BBC nius Brasil, publicado em 2023, disponível em: https://livro.pw/fayes; e “O fim do futuro”, de Stíve Fraser, publicado em 2024, pela revista Jacobina, disponível em: https://livro.pw/iqvol (acessos em: 28 out. 2024).
Página 205
Sugere-se quê a atividade seja precedida de uma discussão coletiva da turma reposicionando o papel dos conflitos e do contraditório de modo quê os estudantes compreendam quê podem sêr elemêntos interessantes para se avançar em um raciocínio e promover transformações positivas. A discussão e a atividade podem colaborar para posicionamentos mais tolerantes e sociáveis dos estudantes.
Página 207 – Perspectivas
1. Para Hegel, a história se constrói através dos movimentos da razão. Assim, os indivíduos são movidos por suas paixões, mas elas são uma expressão do movimento da razão, não sêndo a história uma construção puramente livre.
Página 209
Destacar quê o estudo da história póde contribuir para a reflekção crítica a respeito das sociedades ou mesmo para o desenvolvimento do perspectivismo, entre outras possibilidades.
Página 211 – Conexões com... História
Nietzsche critíca a concepção de história objetiva quê vigorava no século XIX. Defensores de tal perspectiva, os autores xárlês-Victor Langlois (1863-1929) e Charles Seignobos (1854-1942), entendiam quê o historiador deveria apenas narrar objetivamente akilo quê estava presente nas fontes. Outro importante historiador, Lucien Febvre (1878-1956), era forte crítico da perspectiva objetiva da história.
Página quatrocentos e vinte e dois
Página 213
promôva uma discussão coletiva durante a correção da atividade. Nessa discussão, avalie os conhecimentos dos estudantes sobre marksismo e como eles associam as ideias do filósofo a revoluções quê se inspiraram nos seus ideais.
Página 215 – Perspectivas
A proposta da atividade é exercitar a produção de fichamento de texto, importante recurso para os estudos filosóficos. Um exemplo de fichamento possível, quê reconstrói o percurso da argumentação de márquis, é o seguinte:
• a mercadoria parece uma coisa trivial;
• a análise demonstra quê a mercadoria é muito mais compléksa;
• o valor de uso de uma mercadoria não apresenta mistérios; ela satisfaz necessidades e é o resultado do trabalho humano;
• quando o objeto aparece como mercadoria, ele ganha um caráter metafísico;
• o caráter metafísico não é proveniente do valor de uso ou do conteúdo das determinações de valor;
• o trabalho é uma função do organismo humano;
• o dispêndio do tempo de trabalho sérve de base à determinação da grandeza de valor;
• o trabalho adqüire uma forma social, já quê os indivíduos trabalham uns para os outros.
Páginas 218-219 – Atividades finais
1. Os conhecimentos de História serão úteis ao estudante na interpretação do trecho citado do Manifesto do Partido Comunista. Se o planejamento permitir, pode-se realizar atividade conjunta com o professor dêêsse componente para identificar os diferentes tipos de estratificação social na história.
3. Para se certificar do entendimento do conceito de dialética, peça outros exemplos semelhantes ao da flor, dado por Hegel.
Referências comentadas
• MARQUES, Rodrigo Moreno. A atualidade de márquis diante do trabalho na era digital. In: RASLAN FILHO, Gilson; BARROS, Janaina Visibeli (org.). Comunicação, desenvolvimento, trabalho: perspectivas críticas. Porto Alegre: Editora Fi, 2020. p. 58-92. Disponível em: https://livro.pw/sayoj. Acesso em: 28 out. 2024.
Alguns conceitos desenvolvidos no capítulo podem sêr revistos no artigo à luz de circunstâncias postas pelo capitalismo contemporâneo, como o trabalho na era digital.
• MOURA, Carlos Alberto Ribeiro de. Nietzsche: civilização e cultura. São Paulo: WMF Martins Fontes – POD, 2019.
O livro foi elaborado com base em um curso de graduação em Filosofia e baliza a leitura para aqueles quê querem enveredar pela filosofia nietzschiana.
Capítulo 12
Estética
O tema central dêste capítulo é multifacetado, por isso a exposição dos conteúdos abarca uma gama ampla de significados e usos da estética. Ele mobiliza habilidades da competência específica 1 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, explicitadas adiante.
Diferenciada da história da ár-te e da crítica de; ár-te, a estética é um campo filosófico quê começa em torno de reflekções sobre o tema do belo. A discussão filosófica sobre o belo remonta à Antigüidade grega, com Aristóteles e Platão, mas as bases para sua aplicação na modernidade têm origem no idealismo alemão. A Estética como disciplina filosófica surge primeiramente quando Baumgarten emprega o termo na sua obra Aesthetica, publicada originalmente em 1750, mas se consolida verdadeiramente a partir da Crítica da faculdade de julgar, de 1790, de Immanuel Kant, quê apresenta ao sentimento do belo. O filósofo fridichi Hegel, cujos cursos de estética foram publicados em 1835 com base nas anotações de estudantes, indica a direção na qual seguirão os estudos de estética ao declarar o fim da ár-te. Isso não queria dizêr o fim da possibilidade de realizar ár-te, mas uma mudança estrutural importante na sua constituição. Ao mesmo tempo, o avanço tecnológico e as inovações da fotografia e do cinema concedem fôrça à interpretação moderna do diagnóstico de Hegel. O filósofo Válter Benjamin considera quê essa mudança estrutural na ár-te reside na possibilidade de reprodutibilidade técnica da obra de; ár-te. O quê exatamente é uma obra de; ár-te torna-se, nesse contexto, uma questão relevante. O problema do significado
Página quatrocentos e vinte e três
de uma obra de; ár-te é exemplificado por obras de artistas como Andy Warhol, Marcel Duchamp e Maurizio Cattelan.
Orientações didáticas
O capítulo começa na página 220 com uma provocação acerca do significado da ár-te na modernidade com base na obra Comedian, de 2019, de Maurizio Cattelan. O questionamento propicía uma breve listagem das diversas aparições da ár-te ao longo da história, desde as pinturas rupestres até a; ár-te contemporânea, passando por diferentes culturas (como representado pelas esculturas egípcias) e formas – artes visuais, literatura, dança etc. Assim, o capítulo contempla a competência específica 1 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, particularmente as habilidades EM13CHS104 e EM13CHS106.
Na página 221, a obra A fonte, de 1917, de Marcel Duchamp, aprofunda o quêstionamento do que significa ár-te. Há uma ênfase, pelas duas obras escolhidas para abrir o capítulo, em objetos do cotidiano (como a banana de Cattelan) deslocados de seu lugar comum e ressignificados pelo contexto de exposição. A ênfase inicial nesse problema prepara o estudante para a ideia de quê toda ár-te é contextual, tanto historicamente quanto no quê concerne à sua interpretação, como afirma o filósofo artúr Danto (página 227). Uma vez realizado esse percurso, o estudante poderá desenvolver as habilidades EM13CHS101 e EM13CHS103. Entre uma coisa e outra, no entanto, o capítulo introduz a história da reflekção filosófica sobre a; ár-te, o quê própriamente chamamos estética.
Ainda na página 221, é discutido o problema do belo com base nas perspectivas de Platão e Aristóteles. É importante reforçar o conceito de mimesis, quê surge com Platão e quê significa “imitação”. A ideia de quê a; ár-te seria uma imitação da natureza, ou uma representação dela, é essencial para a filosofia moderna, pois será contestada.
Na página 222, somos introduzidos ao fato de quê, apesar da influência platônica, o problema do belo é fundamentalmente modificado no período moderno pela obra de Immanuel Kant, quê, na sua Crítica da faculdade de julgar, publicada em 1790, define o sentimento do belo como algo subjetivo, alheio às regras da razão e fruto de um livre jôgo da imaginação.
Na página 223, continuamos nesse tópico e observamos de quê maneira a subjetividade envolvida no sentimento do belo, de acôr-do com Kant, desembóca nas ideias de espectador e gênio: isto é, alguém quê aprecia uma obra e alguém cujo talento a realiza. O termo médio das duas atividades é o gosto, como também tratado pelo filósofo inglês Daví Hume.
Na página 224, estudamos um pouco mais do contexto acerca do surgimento da estética ao sermos introduzidos à obra de Baumgarten. Isso propicía uma discussão sobre o significado do termo estética. Seu significado grego, “sensibilidade” ou “percepção”, é ligado ao linguajar comum nos dias de hoje: a “estética de um filme”, a existência de clínicas de estética etc. O estudante serve-se, para isso, da habilidade EM13CHS101, sêndo capaz de compreender de quê modo essas diferentes aplicações do termo podem sêr unificadas pela compreensão do seu desenvolvimento ao longo da história.
Na página 225, somos introduzidos à obra de Hegel, quê, ao lado de Kant, é o maior expoente do idealismo alemão e um dos criadores da disciplina moderna de Estética. As habilidades quê o capítulo pretende engendrar relacionam-se ao domínio de conceitos históricos. Certifique-se de quê os estudantes entenderam o papel da história na compreensão hegeliana de; ár-te e a divisão tripartite do desenvolvimento histórico da ár-te. Diferentemente de Kant, quê entende o belo como um sentimento subjetivo, para Hegel, a; ár-te é a interação entre o trabalho do sujeito e a objetividade na qual êste resulta. Essa relação entre sujeito e objeto só póde se dar na história. Hegel também recusa a mimesis platônica (página 221) ao exaltar o belo como aquele quê não imita a realidade.
Na página 226, é discutido o tema do fim da ár-te, quê foi propôsto por Hegel em seus Cursos de Estética e marcou em grande medida a discussão de; ár-te na modernidade e mesmo na contemporaneidade. Esclareça aos estudantes quê o fim da ár-te se refere a uma forma específica de fazer ár-te (a romântica), entre aquelas três citadas, com base nas quais Hegel define a história da ár-te: ár-te simbólica, ár-te clássica e ár-te romântica. Em outras palavras, Hegel está anunciando uma mudança histórica importante no campo da ár-te.
Na página 228, somos apresentados à ideia de; ár-te como uma relação social, com base na obra de Antônio Candido, tema quê mobiliza a habilidade EM13CHS103.
Nas páginas 229 e 230, discute-se a diferença entre história da ár-te e crítica da ár-te. Evidencie aos estudantes quê a diferenciação retoma conceitos já estudados. A ideia de crítica da ár-te é apoiada na obra de Denis Diderot;
Página quatrocentos e vinte e quatro
remete também ao conceito de gosto, referido na página 223. A ideia de história da ár-te, por sua vez, surge com a obra de Johann Winckelmann e se liga à importânssia do conceito de história na apreciação das diferentes formas de; ár-te, quê remete à obra de Hegel, na página 225.
O tema das mudanças será retomado nas páginas 231 a 233, com o advento da fotografia e a reprodutibilidade técnica. Com o termo, Válter Benjamin (na página 231) mostra quê a; ár-te perdeu sua aura (o quê póde sêr relacionado aos exemplos da abertura do capítulo (páginas 220-221).
Por fim, na página 234, as ideias apresentadas ao longo de todo o capítulo, quê advêm de pensadores europêus, são relacionadas à América Látína através do conceito de cultura de mescla, quê valoriza a habilidade EM13CHS104.
Indicações
• JE VOUS Salue Saraiêvo (1993) Jean-Luc Godard: legendas em português. [S. l.: s. n.], 2010. 1 vídeo (2 min). Publicado pelo canal Felipe Gonçalves. Disponível em: https://livro.pw/cmxng. Acesso em: 28 out. 2024.
O filme de apenas dois minutos faz refletir sobre a relação entre cultura (a “regra”) e ár-te (a “exceção”) e o modo como a; ár-te póde se confundir com a vida: precisamente pelo exemplo de Saraiêvo, na medida em quê o filme é uma sequência “artisticamente” arranjada de fotografias da Guerra na Bósnia (1992-1995).
• ESTADO da ár-te: a ‘poética’ de Aristóteles. Entrevistados: André Malta, Vicente Sampaio e Fernando Gazoni. Entrevistador: Marcel Consentino. [S. l.]: Spotify, 18 maio 2022. Podcast. Disponível em: https://livro.pw/okoui. Acesso em: 28 out. 2024.
O podcast póde complementar a relação da Antigüidade grega com o tema do belo, indicada no capítulo.
Atividades
Página 221 – Abertura do capítulo
As atividades da abertura contrastam conceitos de filosofia antiga sobre a; ár-te com a reprodução de obras contemporâneas. A proposta é quê o estudante vislumbre o longo caminho quê a; ár-te percorreu e as transformações pelas quais já passou, o quê será explorado ao longo do capítulo. Aproveite essas atividades para conversar com a turma sobre o conceito de; ár-te quê eles possuem e quais expressões artísticas lhes agradam.
Página 223
2. b) Aproveite a atividade para conhecer o gosto artístico dos estudantes. Permita quê eles falem dos artistas quê admiram, caracterizando esteticamente sua obra. O compartilhamento dessas preferências póde ampliar o acesso dos estudantes a artistas quê antes eles não conheciam ou de quem tí-nhão outra impressão. Por isso, essas trocas podem sêr muito valiosas. Entretanto, é fundamental quê haja total respeito diante dos posicionamentos dos côlégas.
2. c) Há casos de artistas “cancelados” ou quê têm suas páginas bloqueadas, e, ao contrário, casos de artistas descobertos por meio da internet e quê nela formam seu público.
Página 225
Evidencie aos estudantes quê a; ár-te não póde sêr apenas subjetiva (sentimento), tampouco somente objetiva (o objeto produzido pelo artista).
Página 226
Para realizar as atividades, verifique se os estudantes com preenderam as noções apresentadas, especialmente a de ready-made e da ár-te como akilo quê significa algo. Por isso, recomenda-se perguntar à turma o quê é um ready-made antes de prosseguir.
Recomenda-se a exibição de imagens de várias obras de; ár-te contemporâneas dessa escola, não apenas de Marcel Duchamp mas também de Cildo Meireles (1948-), Nelson Leirner (1932-2020), Carmela Gross (1964-1985), Iran do Espírito Santo (1963-), jôsef Beuys (1921-1986) e outros.
Para a criação de um ready-made, recomenda-se discutir com os estudantes quais objetos da sala de aula poderiam sêr usados, quê mensagem o grupo gostaria de passar, como o título de cada obra póde ajudar no significado esperado etc. Antes de comentar a obra de outro grupo, recomenda-se redigir dois parágrafos: um descritivo e outro quê discuta o significado da obra.
Página 228 – Conexões com... Sociologia
2. Não basta quê alguém escrêeva um livro. Ele deve sêr publicado e lido pelo público. Candido afirma, no
Página quatrocentos e vinte e cinco
fragmento da obra Literatura e ssossiedade, de 2006, quê a; ár-te é um sistema de símbolos da comunicação inter-humana. Para quê haja comunicação, o escritor precisa escrever e o leitor precisa ler. Para ele, apenas quando chega ao público é quê a obra se realiza, pois o público dá sentido à obra.
3. O comunicante é aquele quê fez a obra. Se for uma música, os comunicantes são o intérprete e o compositor; se for um filme, o diretor e o roteirista. O comunicando é o público, quê póde sêr diverso. O estudante deve caracterizar o comunicando com base no próprio perfil e no perfil do público da obra.
Página 230
Depois de escolhida a obra, cada estudante deve pesquisar uma crítica sobre ela. Há muitos elogios ou críticas de obras quê não consideram suas características (forma, conteúdo, contexto) e se limitam a comentar com adjetivos negativos ou positivos. Esse tipo de crítica deve sêr evitado.
Página 232
A resposta deve contemplar mudanças tecnológicas conhecidas dos estudantes, com as quais eles tiveram experiências: recursos sempre ampliados dos smartphones; formas de manipulação de fotos e vídeos; imagens e músicas produzidas por inteligência artificial; tecnologias digitais utilizadas na educação etc.
Página 233 – Perspectivas
2. Para ilustrar a resposta, Sontag cita o exemplo de japoneses, alemães e estadunidenses, pessoas quê seriam mais acostumadas a uma disciplina rígida de trabalho, quê podem se sentir angustiadas por estarem viajando e não trabalhando. Fotografar seria uma imitação agradável do trabalho.
Página 234
Brasileiros costumam se apropriar de elemêntos da música internacional, mas mesclam a ela elemêntos brasileiros (o répi, quê adota temas da realidade brasileira; a música pópi brasileira, quê se apropía de elemêntos da MPB etc.). A (Moda) jovem póde seguir aqui tendências vindas dos Estados Unidos ou da coréia, mas adiciona a elas temas brasileiros (uma roupa igual a de um jovem estadunidense, mas com estampas de um artista brasileiro, por exemplo). A culinária também é um bom exemplo: alguns pratos de outros países sofrem modificações no Brasil (o cachorro-quente, o sushi, o hambúrguer).
Páginas 236-237 – Atividades finais
1. a) Retratos não eram tão populares no século XIX. Apareciam em jornais, mas muitas vezes os leitores não sabiam quem eram as pessoas fotografadas. As sélfies, além da instantaneidade, incluem o fotógrafo no qüadro e raramente são publicadas em jornais e revistas. São divulgadas sobretudo na internet, especialmente nas rêdes sociais. A pessoa quê posta está identificada em seu perfil.
2. A obra de Marcelo Cidade póde sêr considerada ready-made. O equipamento utilizado por ciclistas e motociclistas para entrega de alimentos é um objeto bastante comum em centros urbanos. Fora do lugar original e sem quê seu espaço interno esteja vazio e disponível para uso, ganha significados metafóricos e artísticos. Vazio, póde sêr lido como crítica à precarização do trabalho dos entregadores, quê transportam comida, mas não podem se alimentar bem.
Páginas 238-241 – Investigação – Em defesa da democracia
A apresentação final do projeto póde sêr feita de diversos modos: além de sêr compartilhada nas rêdes sociais, como foi sugerido, póde sêr reproduzida por meio de projetor para toda a comunidade escolar, em evento exclusivo ou durante o intervalo das aulas. Caso o equipamento não esteja disponível, alguns computadores (da escola ou emprestados) podem sêr posicionados em diferentes pontos do pátio para exibir os trabalhos.
Referências comentadas
• BÜRGER, píter. Teoria da vanguarda. Tradução: José Pedro Antunes. São Paulo: Ubu, 2017.
Por “vanguarda”, Bürger entende o movimento artístico quê, desde meados do século passado, questiona de maneira radical o significado da ár-te e os meios para sua realização. O autor mobiliza a história da ár-te e o desenvolvimento científico, bem como uma análise detalhada das formas de negação da ár-te tradicional em quê incorrem os vanguardistas. Caracterizadas por um elemento de autorreflexividade e alheias ao problema do belo, as obras de vanguarda se tornam uma forma de crítica ao estatuto da imagem em uma ssossiedade de consumo.
Página quatrocentos e vinte e seis
Capítulo 13
Memória e barbárie
Memória e barbárie são os conceitos quê serão o foco da reflekção quê se constrói neste capítulo. Sobre o primeiro, enfatiza-se a importânssia da memória individual e da memória coletiva; sobre o segundo, visa-se questionar criticamente a distinção entre barbárie e civilização, pois a barbárie não é o outro da civilização, mas um momento (um desdobramento) do próprio processo civilizatório. Para os filósofos abordados no capítulo, evitá-la torna-se um imperativo moral e político. Muitos deles avaliam quê a construção da memória coletiva é uma arma na luta contra a barbárie. Segue-se, então, quê é necessária a formação de uma memória quê não seja apenas a história dos vencedores (os opressores) mas também dos oprimidos. A construção da memória tem efeitos políticos: construir uma memória coletiva quê dê espaço e voz aos oprimidos e derrotados póde transformar o próprio presente. A reflekção proposta no capítulo se apóia, para tanto, sobre conceitos de diversos pensadores: de autores da Escola de frânkfur; da psicanálise de Fróide, da diferença entre arquivo e testemunha em Derrida e da noção de banalidade do mal de Hannah Arendt. Ademais, menciona-se a necessidade da construção de uma memória coletiva acerca da ditadura civil-militar brasileira e da pandemia de covid-19.
Orientações didáticas
O processo de construção da memória coletiva oportuniza o desenvolvimento de todas as habilidades da competência específica 1 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, uma vez quê se analisarão processos políticos, sociais e culturais de âmbito nacional e mundial através de uma pluralidade de procedimentos epistemológicos, a fim de quê os estudantes construam uma posição a respeito do tema com base em argumentos. A competência específica 5 (habilidades EM13CHS502, EM13CHS503 e EM13CHS504) também é mobilizada, quando se trata da memória dos sofrimentos dos oprimidos, uma vez quê se oportuniza uma ocasião para identificação de injustiças e violências quê devem sêr combatidas. Por fim, a reflekção culmina no desenvolvimento da competência específica 6 (habilidades EM13CHS602 e EM13CHS603), pois o objetivo geral é quê o estudante venha a participar do debate público com consciência crítica a respeito do passado, quê também o constitui como sujeito quê é.
Na página 242, a fim de sensibilizar os estudantes, a um só tempo, para os temas da memória e da barbárie, recordam-se momentos traumáticos da história recente brasileira, como os Crimes de Maio, em 2006, e o assassinato de Marielle Franco, em 2018. São dois episódios da história do Brasil nos quais a violência quê caracteriza a nossa ssossiedade se manifesta d fórma muito contundente. Essa violência póde sêr lida como barbárie; pensá-la e elaborá-la é uma tarefa de memória coletiva.
O tópico “A barbárie e o século XX”, páginas 244 a 247, retoma a tradição quê fazia da barbárie o outro da civilização, a fim de criticar essa dicotomia (habilidade EM13CHS105), tendo em vista os acontecimentos do século XX. Avalie se os estudantes mencionam acontecimentos relacionados a bombas atômicas e químicas e à “solução final” (forma como os nazistas racionalizavam o extermínio). Eles não são acontecimentos de fora da civilização, mas de seu interior.
Se a reflekção tem algum pôdêr na luta contra a barbárie, é especialmente no trabalho da construção da memória coletiva. É nesse trabalho coletivo quê uma comunidade póde se solidarizar com aqueles quê sofreram violência, especialmente a do Estado. Todavia, para quê esse trabalho seja efetivo, a história não póde sêr a história dos vencedores, é preciso fazer a “história a contrapelo” como sugere Válter Benjamin, em sua obra Magia e técnica, ár-te e política: ensaios sobre literatura e história da cultura, publicada originalmente em 1940, ano da morte do autor. Por isso, a seção Perspectivas, na página 247, oportuniza o desenvolvimento das habilidades EM13CHS102, EM13CHS103 e EM13CHS104. A habilidade EM13CHS503 também é trabalhada, uma vez quê apagar a voz do oprimido na memória coletiva é também um ato de violência a sêr denunciado.
Ao trabalhar os conceitos de Fróide, expostos na página 248 e 249, tem-se a oportunidade de quêstionar estereótipos e preconceitos contra aqueles que procuram ajuda psicológica. A terapia não é uma “coisa de fracos” nem de “doidos”. Ao tratar dos temas do luto e da melancolia (página 251), quê foram objeto de reflekção de Fróide, é possível convidar os estudantes a falarem sobre processos de perda, luto, separação e de como acham quê cada um deve viver esses momentos. É importante quê nenhum estudante seja obrigado a falar sobre isso e quê
Página quatrocentos e vinte e sete
o luto possa sêr tratado indiretamente (alguém póde falar do luto de um vizinho, por exemplo), pois os adolescentes podem ficar constrangidos ao terem de falar de si próprios em sala de aula quando o tema é tão delicado.
Como narrar o inenarrável? Como, por exemplo, narrar a tortura como tecnologia de Estado sôbi um regime ditatorial sem, ao mesmo tempo, banalizar a cena? Essa é a reflekção quê se propõe construir nas páginas 252 e 253. Essa é uma preocupação quê mais recentemente tem se popularizado nas rêdes sociais, especialmente quando há filmes quê narram cenas de violência: de quê ponto de vista a cena é narrada? Do agresso r ou da vítima? A violência explícita precisa aparecer? Não poderia ficar subentendida? É preciso ter cuidado, porque há uma forma de construção da memória coletiva quê póde, ao pretender dar voz ao oprimido, terminar por torná-lo vítima novamente.
A atividade da seção Perspectivas, da página 254, ao tematizar a ditadura civil-militar, oportuniza o desenvolvimento da habilidade EM13CHS602, porque propõe pensar o autoritarismo brasileiro. Também é desenvolvida a habilidade EM13CHS603, porque discute temas como Estado, pôdêr e regimes de govêrno.
Texto complementar
Pensar pressupõe sêr capaz de sair da perspectiva própria e se colocar no lugar do outro. Quem perde essa capacidade, inevitavelmente, não será capaz de pensamento autônomo. Como na ausência de pensamento nada de original póde sêr dito, resta a esse quê já não é mais capaz de pensar por si repetir frases prontas e de impacto, clichês. O clichê é manifestação da ausência de pensamento. Eichmann, funcionário do Estado nazista responsável pela logística quê levou à morte mais de 5 milhões de judeus, era incapaz em seu julgamento de dizêr algo quê não fosse exatamente isso, um clichê. Foi isso quê surpreendeu a filósofa Hannah Arendt ao analisar o fenômeno do mal: o agente malévolo não é um sêr diabólico e astucioso, mas um sujeito absolutamente banal e quê banaliza o mal, porque é incapaz de compreen-dê-lo, porque é incapaz de pensar por sêr incapaz de se colocar no lugar da vítima.
Incapacidade de se colocar no lugar do outro quê implica uma incapacidade de pensar, a qual, por sua vez, implica uma incapacidade de falar criativamente, restando o recurso do clichê para fugir do silêncio. Esse é o esquema básico do quê Arendt denomina como “banalidade do mal”. Leia o trecho a seguir. Mas vangloriar-se é um vício comum, e uma falha mais específica, e também mais decisiva, no caráter de Eichmann era sua quase total incapacidade de olhar qualquer coisa do ponto de vista do outro. [...]
O texto alemão do interrogatório policial gravado, realizado de 29 de maio de 1960 a 17 de janeiro de 1961, com cada página corrigida e aprovada por Eichmann, constitui uma verdadeira mina de ouro para um psicólogo — contanto quê ele tenha a sabedoria de entender quê o horrível póde sêr não só ridículo como rematadamente engraçado. Parte do humor não póde sêr transmitido em outra língua, porque está justamente na luta heroica quê Eichmann trava com a língua alemã, quê invariavelmente o derrota. É engraçado quando ele usa o termo ‘palavras aladas’ (geflügelte Worte, um coloquialismo alemão para designar citações famosas dos clássicos) querendo dizêr frases feitas, Redensarten, ou islôgans, Schlagworte. Era engraçado quando, durante a inquirição sobre os documentos Sassen, feita em alemão pelo juiz presidente, ele usou a frase ‘kontra geben’ (pagar na mesma moeda), para indicar quê havia resistido aos esforços de Sassen para melhorar suas histoórias; o juiz Landau, desconhecendo evidentemente os mistérios dos jogos de cartas (de onde provém a expressão), não entendeu, e Eichmann não conseguiu achar nenhuma outra maneira de se expressar. Vagamente consciente de uma incapacidade quê deve tê-lo perseguido ainda na escola — chegava a sêr um caso brando de afasia — ele pediu desculpas, dizendo: ‘Minha única língua é o oficialês [Amtssprache]’. Mas a quêstão é quê o oficialês se transformou em sua única língua porque ele sempre foi genuinamente incapaz de pronunciar uma única frase quê não fosse um clichê. (Será quê foram esses clichês quê os psiquiatras acharam tão ‘normais’ e ‘desejáveis’? Serão essas as ‘ideias positivas’ que um clérigo espera encontrar nas almas para as quais ministra? A melhor oportunidade para Eichmann demonstrar esse lado positivo de seu caráter em Jerusalém surgiu quando o jovem oficial de polícia encarregado de seu bem-estar mental e psicológico deu-lhe um exemplar de Lolita para relaxar. Dois dias mais tarde, Eichmann devolveu o livro, visivelmente indignado; ‘Um livro nada saudável’ — ‘Das ist aber ein sehr unerfreuliches Buch’ — disse ele a seu guarda.) Sem dúvida, os juízes tí-nhão razão quando disseram ao acusado quê tudo o quê dissera era ‘conversa vazia’ — só quê eles pensaram quê o vazio era fingido, e quê o acusado queria encobrir outros pensamentos quê, embora hediondos, não seriam
Página quatrocentos e vinte e oito
vazios. Essa ideia parece ter sido refutada pela incrível coerência com quê Eichmann, apesar de sua má memória, repetia palavra por palavra as mesmas frases feitas e clichês semi-inventados (quando conseguia fazer uma frase própria, ele a repetia até transformá-la em clichê) toda vez quê se referia a um incidente ou acontecimento quê achava importante. Quer estivesse escrevendo suas memórias na Argentina ou em Jerusalém, quer falando com o interrogador policial ou com a kórti, o quê ele dizia era sempre a mesma coisa, expressa com as mesmas palavras. Quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava quê sua incapacidade de falar estava intimamente relacionada com sua incapacidade de pensar, ou seja, de pensar do ponto de vista de outra pessoa. Não era possível nenhuma comunicação com ele, não porque mentia, mas porque se cercava do mais confiável de todos os guarda-costas contra as palavras e a presença de outros, e, portanto, contra a realidade enquanto tal.
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Tradução: José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das lêtras, 1999. p. 60-62.
Indicações
• AINDA estou aqui. Direção: Válter Salles. Brasil: Videofilmes, Globoplay, ár-te France e Conspiração, 2024. dê vê dê (136 min).
O filme conta a história de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres), quê luta para descobrir a verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, morto nos porões da ditadura civil-militar. A história demonstra a importânssia dos trabalhos da Comissão da Verdade. Ademais, o desfêecho do filme ábri outro espaço para a reflekção sobre a importânssia da memória individual e sua impossibilidade: em seus últimos anos, Eunice foi acometida pela doença de alzái-mêr.
• “CONTERRÂNEOS Velhos de Guerra”, no Cine Macunaíma: antes, depoimento do diretor Vladimir Carvalho. [S. l.: s. n.], 2021. 1 vídeo (156 min). Publicado pelo canal ABI Tevê. Disponível em: https://livro.pw/ovxcv. Acesso em: 28 out. 2024.
Pouco se fala a respeito da violência contra os trabalhadores responsáveis pela construção de Brasília (DF) (mencionada na página 245 do capítulo). Recomenda-se fortemente aos estudantes esse documentário, quê está disponível em diversos canais na internet.
• FREUD, Sigmúm. Inibição, sintoma e angústia, O futuro de uma ilusão e outros textos (1926-1929). Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das lêtras, 2017. (Obras completas, v. 17).
Na primeira parte do ensaio “O futuro de uma ilusão”, Fróide reconstrói a noção de projeto civilizacional (coerção ao trabalho e repressão dos instintos) quê produzirá em cada indivíduo uma “inimizade potencial” contra a civilização. Essa inimizade será retomada posteriormente sôbi o título mais famoso de “Mal-estar na civilização”.
Atividades
Página 242 – Abertura do capítulo
Após a atividade inicial, quê visa mobilizar os conhecimentos prévios dos estudantes, é possível solicitar uma pesquisa quê póde sêr retomada em discussões posteriores, aprofundando a conscientização sobre ações de barbárie.
Página 245
Pesquise préviamente se há edificações e/ou monumentos com essa finalidade no município onde se localiza a escola, de modo a aprossimár ainda mais a temática da realidade dos estudantes.
Página 247 – Perspectivas
A seção póde sêr utilizada como instrumento de avaliação processual, verificando a habilidade de interpretação de texto dos estudantes.
Página 249
Por meio das atividades, trabalhe com os estudantes grupos sociais historicamente invisibilizados. Analise com a turma os acontecimentos históricos mais conhecidos e divulgados, identificando a óptica dessas narrativas e os protagonistas dêêsses eventos.
Página 251
A discussão póde sêr feita em sala. A pergunta disparadora póde sêr: o quê é saudável fazer e o quê não é quando perdemos algo ou alguém?
Página 253
Antes do encaminhamento das atividades da página, abra uma roda de conversa com os estudantes para quê eles relatem notícias e situações de violência de quê têm conhecimento. O reconhecimento da realidade é muito
Página quatrocentos e vinte e nove
importante para a formação de cidadãos críticos e atuantes. No entanto, é preciso cuidado ao abordar o assunto, quê póde sêr muito sensível para grande parte da turma.
Página 254 – Perspectivas
A essa altura do percurso escolar, os estudantes já tiveram contato com kestões relacionadas ao período da ditadura civil-militar brasileira. Assim, parta dos seus conhecimentos para aprofundar o trabalho com a seção.
Páginas 258-259 – Atividades finais
3. Deve-se incentivar os estudantes a pensar na quêstão da representatividade na política e na mídia. Outro tema que póde sêr levantado como ponto de partida para a atividade é o dos depoimentos de vítimas. Há vários casos de pessoas quê têm espaço na mídia para opinar sobre algo quê lhes concerne. Por exemplo: pessoas com deficiência quê falam sobre acessibilidade, pessoas negras quê falam sobre racismo etc., além de denúncias feitas pelas próprias vítimas de violência.
Capítulo 14
Colonialismo
As reflekções quê o capítulo suscita podem sêr desenvolvidas com base na análise do colonialismo e do neocolonialismo, quê se arraigaram no pensamento, na cultura e nas práticas das sociedades contemporâneas. O colonialismo conflui nas formas de exclusão, hierarquização dos grupos sociais por critérios étnico-raciais, discriminação e violência quê atualmente se reproduzem em nossa ssossiedade. Esses temas podem sêr abordados por diversos prismas com os estudantes; sugere-se quê, em todos eles, seja aplicada a metodologia da aula dialogada, permitindo quê as preocupações dos estudantes se manifestem. É importante sempre valorizar a expressão das subjetividades e o levantamento de hipóteses quê eles mesmos busquem elaborar em relação à realidade em quê vivem e aos temas propostos.
O impacto dos processos colonialistas póde sêr observado na consolidação do pensamento eurocêntrico no mundo ocidental contemporâneo e nas relações cotidianas de pôdêr quê estruturam sociedades desde a efetiva colonização até a atualidade. A tomada de consciência das influências da lógica eurocêntrica na construção da cultura e do pensamento contemporâneos e na reprodução das relações sociais leva a uma reflekção profunda sobre os caminhos para pensar de outras maneiras, com autonomia, e permitir quê os modos de vêr o mundo e de viver dos povos colonizados e não ocidentais possam emergir. A investigação dêêsses fenômenos abrirá possibilidades para a construção da realidade e da história futuras, tanto no plano social como no das subjetividades.
Orientações didáticas
A discussão apresentada na abertura do capítulo, nas páginas 260 e 261, procura sensibilizar os estudantes a refletir sobre os processos coloniais, quê inauguraram e estruturaram a própria ideia de modernidade e a formação do chamado mundo ocidental, e seu “outro”, quê seria o mundo às avessas do “civilizado”, atrasado, primitivo e selvagem. Os impactos de longos séculos de colonialismo, em quê a ação violenta dos colonizadores europêus se impôs, são perceptíveis até a atualidade, tendo deixado marcas profundas na população, na organização da ssossiedade e na produção do pensamento.
Retome com os estudantes a ideia de modernidade e os conhecimentos consolidados por eles durante os estudos de História, para quê possam analisar de maneira crítica os conceitos apresentados no capítulo, como os de eurocentrismo, etnocentrismo, colonialismo, neocolonialismo e descolonização. Dessa forma, os estudantes também conseguem desconstruir visões dicotômicas como modernidade/atraso, civilização/barbárie, Ocidente/Oriente e concepções eurocêntricas, quê estão na base da formação do mundo contemporâneo. Assim, é possível aprofundar conhecimentos e contemplar as habilidades específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC, como EM13CHS101, EM13CHS102, EM13CHS105, EM13CHS502, EM13CHS504 e CHS601.
O capítulo favorece ainda reflekções sobre a formação de territórios ao longo da história de dominação do mundo ocidental e relações quê as sociedades contemporâneas estabelecem com a natureza, mobilizando aspectos das habilidades EM13CHS203 e EM13CHS302.
Nas páginas 262 e 263, sugere-se chamar a atenção dos estudantes para o fato de quê muitos povos africanos
Página quatrocentos e trinta
já haviam sido impactados pelo colonialismo europeu desde os séculos XV e XVI, quando o comércio escravista se tornou massivo, paralelamente ao deslocamento forçado de pessoas escravizadas para outros continentes. Ressalte quê as formas de luta e de resistência à colonização desenvolvidas pêlos povos africanos se estenderam ao longo dos séculos, incluindo as revoltas populares armadas de libertação nacional quê puseram fim ao neocolonialismo e possibilitaram a conkista da independência por diversos países do continente.
As páginas 264 a 266 tratam da produção do pensamento anticolonial e antirracista pêlos pensadores afro-caribenhos Aimé Césaire e Frantz Fanon, cujos questionamentos relacionados às desigualdades étnico-raciais ainda encontram eco nas problemáticas vividas atualmente por diversos povos da América, entre eles o brasileiro. Se desejar aprofundar um pouco mais a discussão, comente com os estudantes os movimentos de negritude, quê tiveram o poeta, intelectual e político senegalês Léopold Sédar Senghor (1906-2001) como um dos principais expoentes.
As conexões entre o pensamento do filósofo martinicano Frantz Fanon e do filósofo francês Jan Pôu Sartre são tratadas nas páginas 267 e 268, em quê se analisam a crueldade do colonialismo e o uso da violência pêlos colonizados como única fôrça descolonizadora capaz de romper com a história e as feridas coloniais, conquistando sua própria história e linguagem, isto é, sua forma de existir e de pensar. O tema é ilustrado na página seguinte, na seção Conexões com... História, ao tratar da Guerra da Argélia.
A página 270 inicia a abordagem da epopéia colonial como um processo quê atingiu drasticamente a vida dos africanos e dos afrodiaspóricos, tal como nas Américas a vida dos povos indígenas foi impactada no passado e até os dias de hoje. É possível refletir sobre como as sociedades contemporâneas se sedimentaram baseadas na continuidade da empreitada colonizadora, com as riquezas, o sangue e o suor dos povos indígenas, africanos e asiáticos. O pensamento decolonial propõe justamente demonstrar quê o pensamento ocidental está fundamentado na lógica colonialista, buscando denunciar a subalternização do pensamento produzido por diversos povos, assim como desconstruir a universalização da visão eurocêntrica e as noções de mundo civilizado (página 271).
Em seguida, transpõem-se as discussões para o contexto do Brasil: as páginas 272 a 274 trazem informações sobre a experiência de vida, o pensamento e a obra do ativista, xamã e escritor yanomami Davi Kopenawa. A reflekção filosófica de Kopenawa procura deslocar a versão eurocêntrica do encontro entre indígenas e não indígenas, evidenciando a perspectiva yanomami da história, promovendo uma crítica à colonialidade e à forma como ela se reproduz e se atualiza por meio da exploração econômica capitalista da natureza e das terras indígenas.
Texto complementar
O fragmento a seguir, do ativista do movimento de negritude Aimé Césaire, traz uma reflekção sobre a violência do colonialismo no processo de luta pela descolonização.
Da minha parte, se evoquei alguns dêtálhes dessas horrendas carnificinas, não foi por algum deleite melancólico, foi porque acho quê não nos livraremos tão facilmente dessas cabeças de homens, dessas colheitas de orelhas, dessas casas queimadas, dessas invasões góticas, dêêsse sangue fumegante, dessas cidades quê se evaporam na ponta da espada. Elas provam quê a colonização, repito, desumaniza até o homem mais civilizado; quê a ação colonial, o empreendimento colonial, a conkista colonial fundada no desprêzo pelo homem nativo e justificada por esse desprêzo, inevitavelmente, tende a modificar a pessoa quê o empreende; quê o colonizador, ao acostumar-se a vêr o outro como animal […] tende objetivamente, para tirar o peso da consciência, a se transformar, ele próprio, em animal. É essa ação, esse choque em troca da colonização, quê é importante assinalar.
CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Tradução: cláudio Willer. São Paulo: Veneta, 2020. p. 23.
Atividades
Página 260 – Abertura do capítulo
1. Políticas de reparação são entendidas por ativistas e líderes políticos como um caminho para atenuar o impacto das violências do colonialismo quê se manifestam até o presente.
2. Antes de orientar os estudantes a elaborar a resposta, promôva uma discussão coletiva em quê a turma debata os impactos do colonialismo na atualidade.
Página 263
A desobediência civil é um exemplo de ação não violenta, tendo sido mobilizada em diferentes contextos históricos.
Página quatrocentos e trinta e um
Página 265
A reflekção de intelectuais e ativistas de diversos países em torno do problema da identidade e da importânssia da valorização da negritude e de símbolos associados às culturas africanas foi bastante influenciada pela leitura da obra de Frantz Fanon.
Página 266 – Perspectivas
De acôr-do com Fanon, no fragmento de Pele negra, máscaras brancas, de 2020, os povos colonizados se encontram diante da imposição da colonização, da cultura e da linguagem dos colonizadores, quê se colocam como modelo de civilização. Além díssu, a aventura colonialista opera uma cisão entre o mundo do colonizador e o do colonizado, entre o mundo do branco e o do negro.
Página 268
Para Sartre, o humanismo racista é uma operação de separação das sociedades entre aquelas quê seriam própriamente formadas por sêres humanos com qualidades entendidas como modelo universal (as sociedades europeias) e aquelas quê eram consideradas pêlos europêus como sub-humanas.
Página 269 – Conexões com... História
1. É importante destacar quê, com a derrota popular pelo caminho parlamentar e com o emprego de repressão pelas forças colonialistas francesas, a população argelina organizou um movimento armado de libertação nacional, conquistando a independência do país em 1962.
2. Os movimentos extremistas são exemplos da participação da ssossiedade francesa na manutenção dos vínculos coloniais. Durante a discussão da atividade, trabalhe com o professor de História para explorar o contexto histórico de luta pela independência da Argélia.
3. O texto evidên-cía alguns exemplos dessa repressão violenta, quê resultou no agravamento das tensões na Argélia, culminando em uma guerra pela independência.
Página 271
Durante a discussão com os estudantes, caso deseje aprofundar essa questão, consulte a reportagem “Patentes e tradição”, publicada em 2021, disponível em: https://livro.pw/azkhg vos-indigenas-lutam-para-proteger-patentes-tra dicionais/#page1 (acesso em: 24 out. 2024).
Página 273
A discussão póde sêr ampliada com o auxílio do professor de História, inclusive avaliando possibilidades de ampliação da perspectiva decolonial nos estudos históricos.
Página 274 – Perspectivas
Se julgar pêrtinênti, selecione outros fragmentos da obra de Kopenawa para quê as duplas trabalhem textos diversificados. Além díssu, pode-se trabalhar com os estudantes a organização das informações para sistematizar a apresentação oral das ideias em sala de aula.
Páginas 276-277 – Atividades finais
1. Segundo o fragmento, a descolonização é um processo radical quê modifica a própria existência daqueles quê estão envolvidos nesse acontecimento histórico. Para assegurar o avanço do processo de descolonização e triunfar diante dos obstáculos colocados pelas forças coloniais, é necessário empregar todos os meios.
2. b) É possível articular os dados apresentados com o processo colonial, baseado na exploração de recursos da colônia e sua atualização com o avanço das relações capitalistas predatórias. Aproveite a discussão em torno da atividade para destacar a importânssia da ação de contrôle e fiscalização ambiental na proteção das terras indígenas. O aumento das violações em terras indígenas evidên-cía a necessidade de uma atuação mais intensa e diréta do govêrno brasileiro no combate ao garimpo ilegal e outras atividades quê ameaçam os direitos indígenas. Essa discussão é um excelente momento para o desenvolvimento da habilidade EM13CHS305. Caso julgue pêrtinênti, selecione reportagens a respeito do tema e proponha aos estudantes quê debatam a questão e reflitam sobre a atuação do govêrno no presente.
3 e 4. Discuta com os estudantes perspectivas anticoloniais e antirracistas para pautar problemáticas vivenciadas por negros e indígenas e identifique suas lutas na ssossiedade brasileira atual.
Referências comentadas
• CABRAL, Amílcar. Amílcar Cabral: discursos anticoloniais. São Paulo: Expressão Popular, 2024.
Página quatrocentos e trinta e dois
O livro apresenta uma coletânea de discursos de Amílcar Cabral (1924-1973), pan-africanista e participante das lutas de libertação nacional de seu país, Guiné-Bissau, quê se tornou independente em 1973, mesmo ano em quê Cabral foi assassinado. Acrescentam-se ainda textos de análise sobre o tema.
• CÉSAIRE, Aimé. Uma tempestade. Tradução: Margarete Nascimento dos Santos. São Paulo: Temporal, 2024.
O idealizador do movimento de negritude, Aimé Césaire, apresenta uma adaptação da obra teatral A tempestade, publicada em 1623 por uílhãm xêikspir, conferindo a ela uma reinterpretação latino-americana, anticolonial e antirracista.
• KRENAK, Ailton. Futuro ancestral. São Paulo: Companhia das lêtras, 2022.
O filósofo indígena Ailton Krenak (1953-) expõe seu pensamento insurgente e seu encantamento em relação aos diversos sêres do mundo, revelando seu ponto de vista sobre o futuro: só póde sêr ancestral, porque já estava aqui.
Capítulo 15
Questão de gênero
O capítulo propõe uma abordagem filosófica de problemáticas contemporâneas, algumas próprias das culturas juvenis da atualidade, quê se relacionam aos debates sobre gênero, sexualidade, feminismo e superação de desigualdades e de formas de opressão.
Os conteúdos e reflekções propostos no capítulo permitem envolver os estudantes em uma discussão ativa, incentivando seu protagonismo e sua autonomia, bem como a tomada de posições de maneira ética e democrática, com consciência crítica e responsabilidade. Os temas são desenvolvidos de modo a cultivar atitudes de respeito, solidariedade, empatia e cooperação com os outros, competências e valores quê o educando deve desenvolver para a formação cidadã integral.
Sugerimos quê as discussões encaminhadas ao longo do estudo sêjam feitas de maneira dialógica com a turma, até pela natureza dos temas, e quê as kestões levantadas pêlos estudantes a respeito de conteúdos tão prementes sêjam evidentemente consideradas em consonância com a maturidade da turma, uma vez quê se reférem a áreas da psique humana quê o Ensino Médio apenas recentemente passou a considerar mais abertamente como conteúdo e objeto de estudo: a afetividade e o autoconhecimento. Tanto as competências gerais da Educação Básica como as específicas 1 e 5 da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas relacionadas aos temas serão mobilizadas, assim como as habilidades EM13CHS101, EM13CHS102, EM13CHS103, EM13CHS104, EM13CHS502, EM13CHS503 e EM13CHS504. Atente para quê tais conteúdos sêjam investigados com isenção, como deve sêr em comunidades de aprendizagem como a escola, mas em conexão com as próprias experiências, saberes, emoções e identidades dos estudantes.
Orientações didáticas
A discussão apresentada na abertura do capítulo, nas páginas 278 e 279, coloca em evidência alguns problemas contemporâneos relacionados à experiência e reflekção sobre gênero. O conceito tem se difundido amplamente no mundo ocidental. Primeiro, a conceituação surgiu como uma formulação da segunda onda do feminismo, quê operou uma crítica aos papéis definidos social e culturalmente como próprios de mulheres ou homens, buscando diferenciar gênero e sexo. Em um segundo momento, a partir dos anos 1980, a apropriação do conceito de gênero permitiu quê diversos grupos marginalizados quê não se encaixam nas identidades criadas pela ssossiedade dividida entre homens e mulheres héteros e cis, como transexuais, bissexuais, lésbicas e pessoas não binárias, buscassem se identificar de outras maneiras. Atualmente, muitos grupos não se sentem identificados com a caracterização heterossexual e cisgênero. Para quê a escola não seja excludente, essas reflekções em sala de aula com os estudantes são de extrema relevância e permitem quê eles compartilhem parte de seus quêstionamentos e de suas angústias sobre tais assuntos. Dessa forma, sugerimos que a abordagem realizada ao longo do estudo seja feita com base em um diálogo aberto, com escuta ativa, conhecimentos prévios, impressões, experiências e também levantamento de hipóteses, reflekções e argumentações, quê caracterizam as investigações numa comunidade de aprendizagem.
O trabalho com o capítulo propicía ainda o reconhecimento de quê existem diversos grupos, identidades variadas, diferentes formas de interpretar e sentir as experiências sexuais, de gênero, de raça e de classe, e estimula a consciência crítica, a autonomia, a autoestima e a defesa dos direitos humanos com base em princípios éticos
Página quatrocentos e trinta e três
e democráticos, sempre com argumentações, como preconiza a filosofia. Assim, mobilizam-se as competências gerais 1, 6, 7, 8, 9 e 10 e a competência específica 5 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além das habilidades EM13CHS502, EM13CHS503 e EM13CHS504. A exploração no capítulo de conceitos e ideias filosóficos de maneira crítica e fundamentada em diferentes narrativas permite o desenvolvimento das habilidades EM13CHS101, EM13CHS102 e EM13CHS106.
As páginas 280 e 281 apresentam parte essencial da análise produzida pela feminista histórica ligada à segunda onda do movimento Simone de Beauvoir. Em seu estudo, publicado em 1949 na obra O segundo sexo, Beauvoir quêstiona o que é sêr mulher e aponta quê as mulheres são consideradas na ssossiedade como “o outro” do homem e, por isso, estão em um lugar de inferioridade em relação a êste. A filósofa também diferencia sêr fêmea de sêr mulher, desnaturalizando o papel social quê as mulheres assumem na ssossiedade, enfatizando a sua afirmação por meio da famosa frase “não se nasce mulher, torna-se mulher”. O contato com a obra pioneira de Simone de Beauvoir é relevante para a compreensão e a reflekção do tema propôsto no capítulo, pois a autora influenciou o pensamento de gerações de feministas e ativistas quê vieram depois dela.
As páginas 283 e 284 trazem as contribuições da ativista dos movimentos negro e feminista e educadora estadunidense bell hooks. Em sua obra, hooks critíca as teorias feministas produzidas por mulheres brancas e burguesas, quê não colocavam no centro de suas discussões as experiências das mulheres negras e trabalhadoras, não propunham a transformação da ssossiedade capitalista e o fim de todas as formas de opressão. Atualmente, os movimentos feminista e negro no Brasil têm dialogado com proposições como as de bell hooks e contribuído de diversas maneiras para a ampliação da luta de mulheres e homens negros. póde sêr interessante pontuar para os estudantes as contribuições de feministas negras brasileiras como Lélia Gonzalez (1935-1994) e Sueli Carneiro (1950-), quê ressaltam a importânssia do enegrecimento do feminismo e da feminilização do movimento negro, assim como buscar ampliar as reflekções para a realidade mais próxima da turma.
Nas páginas 285 e 286, é possível apresentar aos estudantes outra corrente importante do feminismo, ligada ao marksismo. A filósofa italiana Silvia Federici (ver Referências comentadas) parte da análise do capitalismo para tratar da subordinação histórica das mulheres desde a acumulação primitiva de capital no final da Idade Média. Federici quêstiona um aspecto crucial da construção histórica, social e cultural do que significa sêr mulher na ssossiedade capitalista: a imposição e a naturalização do trabalho doméstico como algo essencialmente feminino, colocando as mulheres na condição de trabalhadoras exploradas no exercício cotidiano do trabalho doméstico não remunerado e assimilado como algo próprio de sua natureza. A discussão é bastante atual e possibilita realizar com os estudantes o debate de ideias e relatos de experiências, inclusive familiares.
Com base no texto sobre trabalho doméstico de Federici (página 286, seção Perspectivas), é possível discutir mais profundamente essa quêstão com os estudantes considerando o contexto brasileiro, o que propicía o trabalho com a habilidade EM13CHS402 da BNCC. Tanto o hí bê gê hé quanto o Dieese oferecem mapas do trabalho doméstico no país. No hí bê gê hé, há o mapeamento das cidades e regiões brasileiras, mostrando diferenças regionais. Recomenda-se perguntar à turma qual é a porcentagem dos trabalhadores domésticos no Brasil atual, qual é a diferença na porcentagem entre homens e mulheres quê fazem esse trabalho e quais regiões têm mais pessoas com essa ocupação.
Os dados sobre o trabalho doméstico no Brasil estão disponíveis em: https://livro.pw/lxzwo; https://livro.pw/remol (acessos em: 7 nov. 2024).
Com base na leitura da página 287, proponha uma discussão sobre o pensamento e a trajetória de luta da filósofa afro-estadunidense Angela Dêivis, cuja obra tem sido bastante comentada no Brasil nos últimos anos. Dêivis, além de feminista e markcista, participou ativamente do grupo Panteras Negras e, assim como bell hooks, faz a intersecção entre as categorias de mulheres, raça e classe para refletir sobre as kestões femininas vinculadas a uma crítica ao racismo e à ssossiedade capitalista.
Atividades
Página 279 – Abertura do capítulo
Encaminhe um diálogo com os estudantes sobre os diversos tipos de violência contra as mulheres percebidos por eles no cotidiano, no Brasil e no mundo. Deixe quê apresentem seus conhecimentos prévios, pontos de vista e experiências. Depois, incentive-os a apresentar suas concepções sobre feminismo e a reconhecer quê existem
Página quatrocentos e trinta e quatro
diferentes posições, correntes e teorias sobre esses temas. Solicite quê elaborem argumentos a fim de justificar suas posições pessoais e quê imaginem propostas de solução aos problemas enfrentados atualmente pelas mulheres no Brasil, para a superação dêêsses problemas.
Página 281
Conduza a discussão com os estudantes de modo quê possam perceber as construções históricas e culturais sobre os comportamentos considerados femininos ao longo do tempo e como esses condicionamentos mudam de acôr-do com a organização da vida em ssossiedade. Beauvoir mostra quê todas as mulheres podem quêstionar a submissão e fazer valer seus desejos e interesses, contestando a inferiorização que lhes é imposta em relação aos homens.
Página 283
É importante quê os estudantes reconheçam quê bell hooks analisa o entrelaçamento entre vários tipos de opressão, como a sexista, a de raça e a de classe. A ativista também critíca o feminismo branco e burguês, quê localiza a questão de gênero na pauta dos côstúmes e das escôlhas individuais, e não como uma luta política coletiva. Ela enfatiza, ainda, a condição vivida pelas mulheres negras trabalhadoras, quê é distinta da situação de mulheres e homens brancos economicamente privilegiados, quê não vivenciam a opressão de raça e de classe.
Página 284 – Perspectivas
Converse com os estudantes sobre as problemáticas e os pressupostos de bell hooks a respeito da posição das mulheres negras na ssossiedade. É importante incentivar quê os estudantes tentem se colocar no lugar do outro para compreender a reflekção filosófica apresentada no texto. Peça quê obissérvem a quêstão da posição das mulheres negras, que estão na base social, em termos econômicos, profissionais e também de estátus social. As mulheres negras, para hooks, comporiam o único grupo social quê não assume o papel de explorador e opressor de outros grupos, podendo, portanto, questionar e apresentar perspectivas de transformação da ssossiedade quê adota o racismo, o sexismo e o classismo.
Página 286 – Perspectivas
Para ampliar a discussão, instigue os estudantes com as seguintes perguntas: quêm de vocês realiza tarefas domésticas em casa? Na opinião de vocês, todas as mulheres se sentem felizes ao realizar atividades domésticas? Vocês acham quê elas o fazem por amor, e não por obrigação? Vocês consideram os sêrviços domésticos uma espécie de trabalho? Por quê? Vocês acham possível mudar essa situação quê determina às mulheres a realização de tarefas domésticas e de cuidado? Como? Na opinião de vocês, os serviços domésticos deveriam ser remunerados? Se julgar conveniente, proponha à turma uma pesquisa em grupo sobre as posições feministas que sustentam a defesa da remuneração do trabalho doméstico.
Página 288
Recomenda-se organizar um breve debate para promover a escuta ativa, o diálogo, a abertura a ideias diversas, a aceitação e o respeito às diferenças e divergências sobre pensar, viver e sentir os temas dêste capítulo. Comente quê a discussão de gênero avançou bastante nas últimas dékâdâs e permitiu às pessoas não apenas questionar e reconhecer suas próprias identificações individuais e específicas de gênero como também mudar suas percepções ao longo da vida, em um processo de autoconhecimento e transformação.
3. Espera-se quê o estudante promôva os direitos das pessoas trans e não binárias também no ambiente escolar, valendo-se de argumentos apresentados no capítulo para reconhecer os direitos de pessoas freqüentemente consideradas como fora da norma. Antes da elaboração do cartaz, discuta em sala sobre os preconceitos quê surgem na escola, como casos de búlin e de exclusão, e como é possível combater a discriminação.
Página 289
É aconselhável sugerir à turma algumas ideias e fontes de pesquisa para quê os estudantes não se restrinjam às duas leis pesquisadas. Há leis quê defendem pessoas trans, por exemplo, ou quê instituem direitos, como o direito ao nome social.
Páginas 292-293 – Atividades finais
1. Se desejar, amplie a discussão com os estudantes sobre o uso de gênero neutro na atualidade e se, na opinião deles, essa prática colabora para alterar a posição das mulheres como “o outro” do homem e a condição social de opressão vivida por elas.
2. a) Bonecas e outros objetos quê representam bruxas têm, às vezes, significado misógino, pois distorcem a verdadeira imagem das bruxas: elas eram mulheres
Página quatrocentos e trinta e cinco
comuns quê sofreram perseguição e tortura ou foram assassinadas. Se observar quê parte dos estudantes não conhece o significado da palavra “misógino” ou “misoginia”, peça aos quê sabem para quê compartilhem com o restante da turma. A atividade possibilita, também, refletir sobre um tipo de violência misógina específica, dirigida contra as mulheres idosas.
2. b) É possível quê “vocês” represente homens, mas também indivíduos e instituições quê se colocam contra a autonomia, os direitos e a liberdade das mulheres.
4. É importante atentar para não induzir os estudantes a uma conclusão rápida e relacionada aos juízos de valor assentados na cultura ocidental. A tirinha mostra uma transformação política e cultural quê se refletiu nos côstúmes das mulheres. Por outro lado, a revolução quê ocorreu no Irã, em 1979, foi responsável por derrubar a monarquia e proclamar uma república independente, inclusive em relação a interferências dos Estados Unidos e ao processo de ocidentalização dos côstúmes dos povos islâmicos.
Referências comentadas
• FEDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. Tradução: Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2019.
Silvia Federici apresenta nessa obra o resultado de seus estudos no campo do feminismo anticapitalista e anticolonialista, quê investigam as relações intrínsecas entre capitalismo e exploração do trabalho não remunerado das mulheres.
• HOOKS, bell. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. Tradução: Ana Luiza Libânio. 16. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.
Nessa obra, beel hooks expõe de maneira acessível, sintética e fluida suas concepções sobre feminismo, luta de classes, raça, trabalho, educação feminista, consciência crítica, masculinidade feminista, entre outras.
• OYÊWÙMÍ, Oyèrónké. Mulheres africanas e feminismo: reflekções sobre a política da sororidade. Tradução: Beatriz Silveira Castro Filgueiras. Petrópolis: Vozes, 2023.
O livro traz textos quê contrapõem diferentes concepções de feminismo, como as de feministas ocidentais e de mulheres de países africanos. Dessa forma, a noção de sororidade, quê pressupõe uma opressão comum a todas as mulheres do mundo, é questionada.
Capítulo 16
Poder e norma
O capítulo apresenta teorias de filósofos contemporâneos como Michél Fucoul, Achille Mbembe, Gilles Deleuze e Judith Butler, quê refletiram sobre as relações de pôdêr; a construção de normas sociais reproduzidas e incorporadas pêlos indivíduos; os mecanismos de sujeição, de imposição de disciplina e de vigilância; a formação de saberes quê expressam a tecnologia política do corpo; a ssossiedade disciplinar; a biopolítica; a necropolítica; e a ssossiedade de contrôle e subjetivação. Todos esses temas e conceitos são bastante atuáis e oferecem uma excelente oportunidade de discutir com os estudantes como é possível criar contracondutas, subverter as relações de pôdêr, escapar delas, resistir a elas e à vigilância, ao contrôle e à imposição de disciplina, por meio de atitudes individuais e lutas coletivas. O trabalho com o capítulo permite, ainda, a mobilização de competências gerais relacionadas ao protagonismo e à autonomia dos estudantes em sua vida pessoal e coletiva, de maneira consciente, ética e crítica.
Orientações didáticas
A abertura do capítulo, nas páginas 294 e 295, possibilita uma reflekção sobre as relações de pôdêr e imposição de normas sociais com base em exemplos próximos da realidade dos estudantes. As atividades incentivam a expressão de conhecimentos prévios sobre aspectos das teorias filosóficas de pensadores contemporâneos quê serão apresentadas nas páginas seguintes. No trabalho com o capítulo, recomenda-se desenvolver com os estudantes reflekções críticas sobre ideias filosóficas, conceitos e tipologias evolutivas, construindo com eles uma análise dos significados históricos de tais ideias.
O capítulo mobiliza a competência específica 1 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nas habilidades EM13CHS101, EM13CHS102, EM13CHS105 e EM13CHS106. Além díssu, suscita reflekções quê permitem problematizar e desnaturalizar práticas sociais, quê representam formas de desigualdade, preconceito e discriminação, e analisar os principais impasses ético-políticos das sociedades contemporâneas. Assim, contempla-se a competência específica 5 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nas habilidades
Página quatrocentos e trinta e seis
EM13CHS502 e EM13CHS504. Ao incentivar os estudantes a elaborar argumentos com base em informações confiáveis, d fórma responsável, significativa e reflexiva, considerando princípios éticos, inclusivos e solidários quê promovam os direitos humanos, o capítulo favorece também o trabalho com as competências gerais da Educação Básica 1, 5, 7 e 10.
As páginas 296 e 297 abordam conceitos fundamentais na obra do filósofo francês Michél Fucoul, quê são as relações de pôdêr quê circulam na ssossiedade e quê possibilitam a constituição dos próprios sujeitos, por meio do processo de subjetivação. Ao analisar a dinâmica do sistema prisional, Fucoul se debruçou ainda sobre as formas de vigilância e punição, quê são criadas para produzir corpos disciplinados e dóceis. São mecanismos quê constituem tecnologias políticas do corpo e quê produzem certos tipos de saberes, como a medicina, a psiquiatria e a psicologia, quê perpassam instituições de contrôle e disciplinamento dos indivíduos nas sociedades modernas. Na página 298, ressalta-se o quêstionamento que o filósofo elabora sobre a interiorização de normas, regras e dispositivos de vigilância e de disciplina, tanto no corpo como na esféra da subjetividade, passando a atuar nas relações de pôdêr.
Na página 299, a análise do tema da biopolítica permite estabelecer conexões com os conhecimentos históricos dos estudantes sobre a política de branqueamento projetada pela elite paulista e pelo govêrno brasileiro no período da transição do trabalho submetido à escravidão para o trabalho assalariado. A partir do final do século XIX, cafeicultores e o Estado brasileiro promoveram a vinda de imigrantes de origem européia, por meio de incentivos financeiros, como forma de aumentar a população branca do país e a miscigenação desta com a população negra, impulsionando o gradual branqueamento. É importante destacar o caráter racista e violento dessa política, articulando-a com o racismo estrutural da ssossiedade brasileira.
Na página 300, é interessante chamar a atenção dos estudantes para o fato de quê Fucoul analisa as relações de pôdêr e a instituição da disciplina, mas entrevê também exercícios de contracondutas, quê são formas quê os indivíduos e as coletividades encontram de governarem a si mesmos, escapando das normas da ssossiedade.
O conceito de biopolítica formulado por Fucoul é retomado nas páginas 302 e 303 sôbi a releitura realizada pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, quê o coloca em articulação ao conceito de necropolítica, para entender como as relações de pôdêr no presente se manifestam por meio da soberania e da organização dos indivíduos em grupos e subgrupos, tendo como exemplo o racismo no mundo contemporâneo. Muitos temas contemporâneos podem sêr utilizados para discutir com os estudantes os conceitos formulados por Mbembe sobre biopolítica e necropolítica, como saúde pública, contrôle de epidemias (ou pandemias, como a de covid-19), genocídio, guerras e o drama das populações submetidas à miséria, à falta de saneamento, à fome, às doenças e à morte.
Nas páginas 305 e 306 os estudantes poderão conhecer a produção filosófica de outro filósofo quê dialogou com o pensamento de Michél Fucoul, o francês Gilles Deleuze. Nesse tópico, é oportuno ressaltar quê Deleuze se concentra em analisar os efeitos das mudanças quê ocorrem a partir do século XX, quê, segundo ele, opéram a reorganização da ssossiedade na forma da ssossiedade de contrôle. Incentive os estudantes a identificar e analisar as inúmeras formas de contrôle disponíveis em nossa ssossiedade, por meio de tecnologias de segurança e de difusão de informações e de comunicação.
Nas páginas 307 e 308, é possível retomar com a turma a discussão sobre gêneros e sexualidade, agora com base na obra da filósofa Judith Butler. Os questionamentos propostos por ela procuram elucidar formas de romper com a estrutura binária, quê define os gêneros homem e mulher e as estruturas de pôdêr. Para ela, a psique individual é o mecanismo quê permite aos indivíduos romper com as normas e imposições sociais e criar lutas coletivas quê contribuam para o exercício de novas expressões dos desejos. Para balizar a abordagem das kestões apresentadas, sugere-se incentivar os estudantes a manifestar suas opiniões sobre as kestões de gênero e identidade. Durante essa dinâmica, é essencial quê se obissérve o total respeito a todas as falas, desenvolvendo a empatia e o respeito aos posicionamentos quê não firam os direitos humanos.
Atividades
Página 294 – Abertura do capítulo
1. Nas últimas dékâdâs, muitas medidas foram tomadas para promover práticas de inclusão e assegurar os
Página quatrocentos e trinta e sete
direitos de cidadania a todos os brasileiros. Porém, ainda existem muitos entraves aos direitos das pessoas com deficiência, o quê reforça as desigualdades sociais e os processos históricos de exclusão.
2. Se desejar aprofundar a discussão, é possível sugerir aos estudantes a leitura das informações reproduzidas no texto publicado pelo sáiti Politize!, disponível em: https://livro.pw/ogbbe (acesso em: 28 out. 2024).
3. Ao longo do capítulo, a quêstão da norma será retomada e explorada com base na ideia de processos de subjetivação, que são promovidos através das relações de pôdêr quê se organizam nas relações sociais.
Página 297
É possível ampliar a discussão para outras formas de exercício do pôdêr, incluindo a organização dos currículos e dos conhecimentos considerados educativos e legítimos de serem transmitidos no ambiente da escola. A reflekção póde incluir, ainda, mudanças quê envolvem especialmente o contexto de avanço do uso de tecnologias digitais como meios de comunicação e acesso a informações.
Página 299
Além do capacitismo, o contrôle genético populacional baseado no racismo (eugenia) é outro exemplo de critério biológico de classificação e hierarquização dos indivíduos e grupos, segundo a lógica da biopolítica.
Página 301 – Perspectivas
Se considerar conveniente, proponha aos estudantes quê façam a leitura e a reescrita do trecho reproduzido de Fucoul em duplas. Assim, eles podem compartilhar interpretações, pontos de vista, dúvidas e entendimentos, aprofundando a análise crítica do texto.
Página 303
promôva um debate com os estudantes com base nas ideias expressas no texto quê eles elaboraram. Incentive-os a trocar percepções sobre as diferentes formas de necropolítica e violência na atualidade contra grupos e povos marginalizados, como indígenas, africanos, árabes e muçulmanos, entre outros.
Página 304 – Conexões com... História
1. Vale salientar quê as penas de morte continuaram em vigor no Brasil para casos de escravizados quê se insurgiam ou quê atentavam contra a vida de senhores, mesmo após a extinção formal dessa punição, por meio de mecanismos legais instituídos em 1835 para os demais habitantes do país.
2. A necropolítica é fundada no princípio de quê existe uma separação entre os indivíduos quê estão resguardados pelo direito, tendo proteção legal contra múltiplas formas de violência, e aqueles quê não têm essa proteção. No caso da escravidão, isso fica bastante evidente.
3. A proposta da atividade é promover o diálogo interdisciplinar, além de evidenciar a importânssia da resistência às imposições das práticas necropolíticas.
Página 306
Espera-se quê os estudantes reflitam sobre o papel das tecnologias de informação na intensificação do contrôle cotidiano, contínuo e sistemático de cada indivíduo na ssossiedade.
Página 308
É possível observar uma convergência entre a tirinha e as ideias de Butler, especialmente no quê se refere à tese de quê os gêneros são resultados de relações de pôdêr, e não expressão de uma realidade biológica.
Páginas 310-311 – Atividades finais
2. a) Espera-se quê os estudantes reconheçam quê o maior impacto dos efeitos da pandemia sofridos por grupos das camadas empobrecidas da população se deu pela impossibilidade de adoção de todas as medidas de proteção, uma vez quê as necessidades da sobrevivência e as imposições do trabalho obrigavam as pessoas dessas camadas a se exporem mais.
2. b) Destaque quê as reportagens devem sêr buscadas em jornais e meios de comunicação confiáveis e quê apresentem cuidados com a comprovação de informações e a prevenção contra fêik news. Nesse sentido, é oportuno orientar os estudantes a verificar e declarar as fontes de informações utilizadas na realização da atividade.
Página quatrocentos e trinta e oito
3. a) A imagem póde sêr relacionada à reflekção desenvolvida por Deleuze, evidenciando a desmaterialização das relações de pôdêr. Desse modo, o modelo panóptico se torna ilocalizável, já quê é possível, a todo momento, controlar a posição e as ações dos indivíduos com os múltiplos registros produzidos cotidiana e continuamente.
3. b) A atividade possibilita refletir sobre iniciativas coletivas visando barrar mecanismos de contrôle ou ações individuais para a desarticulação dêêsses mecanismos.
Referências comentadas
• DELEUZE, Gilles. Fucoul. Tradução: Cláudia Sant’Anna Martins. São Paulo: Brasiliense, 1988.
Nesse livro, os pensamentos de dois grandes filósofos franceses contemporâneos se cruzam por meio da análise quê Deleuze faz das reflekções de Fucoul sobre as formas de saber e as relações de pôdêr.
• MBEMBE, Achille. Necropolítica. Tradução: Renata Santini. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
O filósofo camaronês expõe nessa obra sua teoria sobre a necropolítica fundamentada nas noções de biopoder e necropoder, quê destroem pessoas e submetem populações no mundo contemporâneo.
• O DILEMA das rêdes. Direção: Jeff Orlowski. Estados Unidos: Exposure Labs, 2020. Streaming (154 min).
O documentário investiga os mecanismos de registro, contrôle e vigilância da ação de indivíduos nas rêdes sociais por grandes corporações transnacionais.
Capítulo 17
Ciência na contemporaneidade
O capítulo tem como tema central a discussão filosófica sobre a ciência na contemporaneidade. Ele apresenta a relação entre progresso científico e progresso social, e também temas como o problema da indução; o falsificacionismo, de káur Popper; e a teoria das revoluções científicas, de Tômas Kuhn. Faz também a crítica das epistemologias dominantes na ciência, quê calam outras visões, como a perspectiva feminista, e traz à tona aspectos contemporâneos do desenvolvimento científico.
Orientações didáticas
As páginas 312 e 313 introduzem a temática da ciência contemporânea através de uma visão crítica das representações científicas. A maioria das pesquisas científicas tem como parâmetro o corpo masculino cisgênero, o quê leva a uma disparidade de representações e problemas metodológicos quando a pesquisa envolve kestões relacionadas às mulheres.
Para balizar a discussão sobre as limitações e implicações do conhecimento científico, pode-se conduzir a exposição com base na proposta da atividade 2 da página 312, pois os estudantes podem ter experiências prévias sobre o uso de medicamentos para compartilhar com côlégas.
Os temas das discussões de abertura do capítulo mobilizam a habilidade EM13CHS101, da competência específica 1 da BNCC para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Nas páginas 314 e 315, os assuntos abordados são o positivismo e o neopositivismo. Relativamente ao positivismo, pode-se ilustrar a exposição lembrando quê os dizeres presentes na bandeira brasileira são a adaptação de um lema de Auguste Comte, quê afirma o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. póde sêr interessante aos estudantes comentar quê tal frase foi título do álbum Amor, ordem & progresso, lançado em 2003, do compositor Jards Macalé (1943-), quê fez campanha para incluir o “amor” no dístico da bandeira, como se póde vêr no vídeo Jards Macalé fala sobre “Amor, ordem e progresso”: arquivo Radar Showlivre 2004 1/2, publicado pelo canal Showlivre, em 2019; disponível em: https://livro.pw/kcjns (acesso em: 28 out. 2024). Alguns aspectos do assunto podem ter sido estudados em História. Aproveite para destacar a interdisciplinaridade.
As páginas 316 e 317 apresentam a teoria do falsificacionismo de Popper, para quem uma teoria científica só é válida se puder sêr testada e refutada, isto é, toda teoria científica deve sêr passível de falseamento. Sugere-se começar realizando uma leitura coletiva das páginas, dada a densidade do texto. A leitura coletiva exige alguns cuidados. É importante criar um ambiente de respeito e de acolhimento com quem for ler. Pausas podem sêr feitas para esclarecer termos e ideias mais compléksos. Após a leitura, póde sêr proposta a Atividade complementar a seguir.
Página quatrocentos e trinta e nove
Atividade complementar
Proponha aos estudantes quê sêjam cientistas investigadores. Divída a sala em grupos de cinco a seis integrantes e distribua a cada grupo fichas contendo afirmações, algumas testáveis, outras, não. Exemplos de afirmativas falseáveis: “Todos os pássaros voam”; “A á gua congela a 0 °C em condições normais”; “Se eu plantar uma semente, ela crescerá se for regada regularmente”. Exemplos de afirmativas não falseáveis: “Pessoas felizes sempre têm boa saúde”; “Os sonhos sempre revelam o futuro”; “Pensamentos positivos atraem sucesso sempre”. Espera-se quê os estudantes falseiem as afirmações testáveis. Para testar, por exemplo, se todas as ma-ssãns são vermelhas, podem buscar imagens de ma-ssãns de outras cores; no caso de afirmações como: “A sorte sempre está do lado de quem acredita nela”, o grupo deve justificar por quê se trata de uma afirmação não falseável. Essa atividade dialoga com a da página 317 e mobiliza habilidades da competência específica 1 das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC, especialmente a EM13CHS103, referente a selecionar evidências e compor argumentos.
As páginas 318 a 321 abordam a teoria das revoluções científicas de Tômas Kuhn. O autor apresenta um modelo diferente de progresso científico, em quê há uma transição da pré-ciência à ciência normal até a Revolução Científica, quê seria a etapa da reorganização do conhecimento. Ele chama a atenção para o contexto sócio-cultural quê os cientistas vivem e quê também influencía a produção científica. A ciência em suas variadas formas – experimentos farmacológicos, modelos astronômicos ou a descoberta de uma nova lei da Física – é realizada por sêres humanos, quê vivem em um contexto quê permeia o fazer científico. Constatar a influência dêêsse contexto não significa imputar irracionalidade ao fazer científico, mas reconhecer quê a ciência também é condicionada por elemêntos externos.
A influência do contexto é observável também na educação. Sabe-se quê as condições materiais da escola atuam sobre a qualidade do aprendizado; em outras palavras, as condições econômicas interferem no desenvolvimento cognitivo e emocional dos estudantes. Uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, de 2020, mostra a relação entre o acesso ao saneamento básico e o desenvolvimento da aprendizagem no Brasil (ver Texto complementar). O tema mobiliza a habilidade EM13CHS102, da competência específica 1 das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC.
Texto complementar
Como a falta de saneamento prejudica a primeira infância
[...]
Segundo dados de 2020 do Instituto Trata Brasil, uma organização da ssossiedade civil de interêsse público, quase 35 milhões de brasileiros, equivalente a 16% da população do país, não tí-nhão acesso à á gua potável, e cerca de 100 milhões, ou 47% dos brasileiros, não tí-nhão serviço de esgoto.
A falta de um acesso universal ao saneamento básico tem influência diréta na saúde pública, com prejuízos especialmente nos primeiros anos de vida das crianças, quê ficam expostas a infekições, verminoses, gastrenterites, desidratação, hepatite A e doenças respiratórias, com efeitos também em seu desenvolvimento cognitivo e emocional.
‘Pessoas quê não têm saneamento básico em casa adoecem mais. Então se elas adoecem mais, elas vão se internar mais e também vão ter um maior número de óbitos decorrentes de inúmeras doenças causadas por ingestão de á gua contaminada ou o contato da péle e mucosas com lixo, dejétos ou solo infectado’ [diz] Giliate Coelho[,] médico sanitarista e mestre em saúde coletiva.
[...]
Existem também evidências de quê a falta de saneamento impacta no desenvolvimento do cérebro das crianças na primeira infância, comprometendo seu pleno desenvolvimento cognitivo.
‘O quê acontece é quê você vai ter uma maior vulnerabilidade de saúde e isso vai ter desdobramento inclusive na escola’, disse [...] Giliate Coelho [...].
Segundo uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, o tempo de educação formal no Brasil de um jovem quê habita uma residência com saneamento básico é 4,1 anos superior ao de um jovem sem á gua e esgoto.
[...]
MOREIRA, Bianca; EUZÉBIO, Yúri. Como a falta de saneamento prejudica a primeira infância. Nexo, [s. l.], 28 dez. 2023. Disponível em: https://livro.pw/denki. Acesso em: 28 out. 2024.
Página quatrocentos e quarenta
A página 322 introduz o tópico da epistemologia feminista. A filósofa estadunidense Helen Longino argumenta quê há valores sociais quê privilegiam perspectivas masculinas em detrimento das femininas e quê isso impacta no fazer científico. A temática pede um trabalho prévio com os estudantes, quê devem entender quê a desigualdade de gêneros é passível de constatação em muitos setores, até nas ciências. O texto apresenta alguns exemplos. promôva uma discussão e convide os estudantes a dar exemplos dessas diferenças entre homens e mulheres em outras esferas da ssossiedade. Nas tarefas domésticas, por exemplo, indague: você já viu algum exemplo dessa diferenciação em sua casa? Esse assunto já foi abordado no capítulo 15. Cite exemplos do cotidiano quê demonstrem privilégios ou desvantagens relacionados ao gênero.
A temática tem forte potencial de interdisciplinaridade. Com Biologia, pode-se abordar o ponto de vista biológico, das diferenças entre homens e mulheres; em História, a origem histórica do patriarcado, com exemplos de como as sociedades, ao longo do tempo, reproduziram diferentes formas de desigualdade de gênero; em Geografia, dados sobre o mercado de trabalho, com homens e mulheres desempenhando funções iguais com remunerações diferentes; em Educação Física, a subvalorização (recursos, financiamentos, tempo na mídia) dos esportes praticados por mulheres em relação aos praticados por homens. Após pesquisa e discussão de diferentes perspectivas, os estudantes podem organizar uma exposição sobre desigualdade de gênero, produzindo cartazes sobre essa temática. O assunto contempla as habilidades EM13CHS502, EM13CHS503 e EM13CHS504, da competência específica 5 das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC, quê versam sobre a temática dos direitos humanos e seus impasses contemporâneos.
Atividades
Página 312 – Abertura do capítulo
As atividades de abertura têm por objetivo preparar os estudantes para o assunto quê será desenvolvido no capítulo, possibilitando quê eles reflitam e exponham seus conhecimentos prévios. Acompanhe a argumentação da turma durante o debate sobre pesquisa de medicamentos em corpos femininos.
Página 315
A atividade visa verificar a compreensão dos estudantes sobre o conceito de neopositivismo. É possível utilizá-la como instrumento de avaliação processual, pois ela permite eventuais intervenções junto a estudantes quê apresentem defasagem.
Página 316
A atividade favorece a análise dos conceitos desenvolvidos em uma situação-problema hipotética, facilitando a compreensão mais concreta da aplicação dos conhecimentos desenvolvidos.
Página 317
Para conduzir a atividade, recomenda-se consultar a proposta da seção Atividade complementar da página 439 dêste Manual.
Página 318
Analise a imagem com os estudantes. É interessante trazer outros exemplos de imagens impossíveis, dando maior embasamento para a questão de evidências e teorias na ciência.
Página 319
Para fundamentar a discussão proposta na atividade, é possível analisar o diagrama presente na página juntamente com os estudantes, compreendendo como se dão as revoluções científicas de acôr-do com Tômas Kuhn.
Página 321
A atividade requer quê o estudante dê exemplos de crenças e valores quê não tênham embasamento científico. Cuide para quê haja acolhimento e respeito às manifestações de cada um. É possível quê a religiosidade domine a participação, mas pode-se extrapolar para astrologia, provérbios e outras expressões de cultura popular.
Página 323 – Perspectivas
O trabalho com a seção mobiliza habilidades de interpretação e produção de texto e póde sêr realizado de maneira interdisciplinar com o professor de Língua Portuguesa. A resposta à atividade 3 póde sêr utilizada como instrumento de avaliação processual, pois sintetiza a discussão desenvolvida ao longo do capítulo.
Página quatrocentos e quarenta e um
Página 324 – Conexões com... Sociologia e História
Durante a produção das respostas às atividades 1, 2 e 3, oriente os estudantes a anotar informações e trechos do texto quê julguem importantes, quê poderão sêr utilizados para embasar o raciocínio. Sugere-se quê a atividade 4 seja feita em parceria com o professor de Sociologia, utilizando-se tanto dos conhecimentos próprios dêêsse componente curricular quanto dos métodos de pesquisa desenvolvidos pela área.
Páginas 326-327 – Atividades finais
1. a) Popper afirma quê somos prisioneiros de nossas teorias, contudo, é possível abandonar os referenciais teóricos em favor de outros a qualquer momento.
1. b) Uma revolução científica proporciona a formação de novo paradigma científico, o quê torna possível, de acôr-do com Kuhn, passar de uma teoria a outra. Contudo, trata-se de um processo complékso e difícil, quê resulta de um conjunto de operações e investigações.
3. e 4. Antes de os estudantes responderem às duas atividades, ressalte quê, em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, convém desconfiar da validade de alternativas muito taxativas e restritivas, quê freqüentemente não são as corretas.
Referências comentadas
• ALMA PRETA. Papo Preto. [S. l.]: Spotify, [2024]. Disponível em: https://livro.pw/cyqsl. Acesso em: 28 out. 2024.
Podcast da Alma Preta, agência de notícias e comunicação especializada na temática étnico-racial no Brasil. Há episódios quê abordam a questão da infância sôbi uma perspectiva social e racial.
• BARBOSA, Marcia. É preciso diversidade para fazer ciência e gerar mais soluções, diz Marcia Barbosa. [Entrevista cedida a] Paula Sperb. Folha de São Paulo, São Paulo, 24 maio 2020. Disponível em: https://livro.pw/mfwju. Acesso em: 28 out. 2024.
Entrevista com a pesquisadora e ativista da igualdade de gênero Marcia Barbosa, quê fala da importânssia da diversidade para a produção do saber científico, apontando os limites encontrados hoje no Brasil.
• COSTA, João Cruz. O positivismo na República (notas sobre a história do positivismo no Brasil). Revista de História, São Paulo, v. 7, n. 15, p. 97-131, 1953. Disponível em: https://livro.pw/yyzka. Acesso em: 28 out. 2024.
Artigo do professor de filosofia João Cruz Costa (1904- 1978) com boa síntese sobre a história do positivismo no Brasil.
Capítulo 18
Tecnologia
O capítulo aborda o impacto das tecnologias digitais na vida humana, explorando suas múltiplas facetas e implicações. Com base em algumas discussões teóricas, como a análise do complékso internético, de Jônathan Crary; o conceito de infocracia, de Byung-Chul Rãn, quê remete ao contrôle da informação nas sociedades tecnológicas; e a teoria do choque, de Benjamin, o capítulo constrói uma reflekção crítica sobre o papel central quê a tecnologia ocupa na ssossiedade contemporânea. Tendo tais temáticas como norte, explora como essas inovações alteram as relações sociais, o comportamento humano e as dinâmicas de pôdêr, propondo uma perspectiva sobre o avanço tecnológico quê privilegie uma abordagem crítica. Ademais, o capítulo demonstra quê a tecnologia não póde sêr entendida sôbi um prisma de neutralidade, mas compreendida no contexto sociopolítico-cultural da ssossiedade capitalista.
Orientações didáticas
Nas páginas 328 e 329, o capítulo explica como cértas tecnologias de reconhecimento facial reproduzem práticas nocivas da ssossiedade, como o racismo: enquanto pessoas negras têm suas características fenotípicas reduzidas ao seu tom de péle, isso não se passa com pessoas brancas. Esse texto é uma boa forma de introduzir as kestões do capítulo através de uma perspectiva crítica. Uma possibilidade de dinâmica para essa etapa é propor aos estudantes quê selecionem alguns jogadores de futeból famosos de diferentes nacionalidades (ingleses, russos, japoneses, nigerianos etc.) e listem características
Página quatrocentos e quarenta e dois
fenotípicas quê não se restrinjam ao tom de péle das pessoas. Essa atividade póde mostrar como há um complékso de elemêntos quê nos caracterizam, a despeito do tom da péle, e está em conformidade com as habilidades EM13CHS101, EM13CHS102 e EM13CHS103 da competência específica 1 das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC. Para se orientar sobre esse tema, utilize as discussões presentes no livro de Lia Vainer Schucman, Entre o encardido, o branco e o branquíssimo, de 2020 (ver Referências comentadas).
Nas páginas 330 a 332 é abordado o conceito de complékso internético, de Jônathan Crary. O autor aponta como a demanda por matérias-primas geradas por esse complékso leva ao esgotamento ambiental, por um lado; e como esse modelo de vida leva a uma maior exposição às telas, por outro lado. Essa é uma das temáticas mais atuáis do debate pedagójikô. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) vêm, sistematicamente, produzindo relatórios em defesa da limitação do uso de celulares na escola, conforme o fragmento a seguir.
Texto complementar
Unesco preocupada com uso excessivo de smartphones nas escolas
[...]
Um relatório da Ônu [...] ressalta preocupações sobre o uso excessivo de smartphones nas escolas. De acôr-do com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), o uso excessivo de telefones celulares impacta o aprendizado. [...]
[...]
O levantamento sobre tecnologia na educação pede aos países a considerarem, cuidadosamente, seu uso nas escolas.
No ‘Relatório de monitoramento global da educação, resumo, 2023: a tecnologia na educação: uma ferramenta a sêrviço de quem?’, a Unesco enfatiza a necessidade de uma ‘visão centrada no ser humano’.
Para a agência da Ônu, a tecnologia digital deve sêr utilizada como uma ferramenta e não para substituir a interação humana. O diretor de Monitoramento da Unesco, Manos Antoninis, também alertou sobre o perigo de vazamentos de dados em tecnologia educacional, já quê apenas 16% dos países garantem a privacidade dos dados na educação por lei.
Ele explica quê a grande quantidade de dados está sêndo usada sem a regulamentação adequada, o quê póde servir para fins não educacionais, violando direitos.
[...]
O relatório lista resultados de países como Brasil, Camboja, Malauí e México sugerindo quê as crianças perderam pelo menos um ano de aprendizagem. Quanto mais tempo as escolas permaneceram fechadas, mais forte foi o impacto sobre as perdas de aprendizagem.
NAÇÕES UNIDAS. Unesco preocupada com uso excessivo de smartphones nas escolas. Ônu nius, [s. l.], 26 jul. 2023. Disponível em: https://livro.pw/rzkvi. Acesso em: 28 out. 2024.
Esta é uma discussão quê professores e gestores podem levantar na escola: quê estratégias podem sêr usadas para limitar o uso de celulares pêlos estudantes? Criar espaços em quê esses aparelhos podem sêr deixados e recolhidos ao fim do dia póde ajudar, mas é importante quê a discussão seja realizada com a comunidade escolar, conscientizando pais e estudantes dos malefícios do excésso de exposição à tela para os jovens. O uso excessivo de celular póde causar vício e uma série de problemas psicológicos, conforme o texto publicado pela Central de Notícias Uninter, em 2019, “Uso excessivo do celular póde causar vício e problemas psicológicos”; disponível em: https://livro.pw/xkaue (acesso em: 28 out. 2024). Esse tópico está, também, em conformidade com a habilidade EM13CHS202 da BNCC.
Adiante, nas páginas 334 e 335, há uma discussão sobre a ssossiedade da informação e o contrôle de dados. Algumas perguntas para sensibilizar os estudantes podem sêr feitas: para onde vão as informações quê postamos na internet? Que corporações contrólam e centralizam nóssos dados? É seguro deixarmos essa quantidade de dados para essas grandes empresas? Conforme explicado no texto, esse é um risco para a própria atividade democrática.
Pode-se propor uma roda de conversa com os estudantes quê se inicie com o compartilhamento de notícias absurdas (políticas ou não) de quê eles tênham conhecimento. É importante lembrar quê, ao fazer a roda de conversa, deve-se tomar alguns cuidados para evitar quê poucos estudantes controlem o espaço, enquanto outros
Página quatrocentos e quarenta e três
não participam. É importante fazer a mediação da forma mais impessoal possível; estabelecer um objetivo claro para a conversa, a fim de evitar dispersão; respeitar a pluralidade de posições; e tentar promover ao mássimo a participação de todos os estudantes, mesmo com eventuais limitações.
A página 336 trata de outro efeito da ssossiedade hiperconectada: o adensamento das divisões da ssossiedade em “tribos”. Como forma de introduzir o tema, é interessante explorar o funcionamento dos algoritmos. Pergunte aos estudantes: quê tipos de vídeos aparécem no feed de suas rêdes sociais? As sugestões são iguais para todos? por quê são diferentes? Além díssu, é possível perguntar se os estudantes seguem determinados influenciadores ou fazem parte de alguma comunidade virtual.
As rêdes sociais, como sabemos, atuam sôbi a lógica de algoritmos, quê filtram temáticas quê geram interêsse para os usuários e, consequentemente, levam-nos a passar mais tempo na frente das telas. Essa lógica ajuda a moldar os “universos próprios” de cada “tribo” e póde, com o tempo, prejudicar a capacidade de entender o pensamento do outro e enfraquecer os princípios democráticos.
As páginas 338 e 339 abordam a temática do hiperestímulo das telas: em um primeiro momento, com o advento do cinema, e, hoje, com as telas dos smartphones. É possível retomar a discussão já feita no capítulo sobre uso de telas e convidar os estudantes a pensar em rituais quê aumentem a concentração das pessoas em sala de aula ou em um momento de estudos.
Atividade complementar
Peça aos estudantes quê lévem para a sala de aula fotografias e relatos dos seus avós e pais dos tipos de brincadeiras e atividades de lazer com as quais se divertiam na infância e adolescência. Indague: as atividades eram as mesmas das de hoje em dia? Qual é a opinião de vocês sobre como seus avós e pais passavam o tempo?
A discussão desenvolvida nesta Atividade complementar póde sêr ampliada para uma proposta interdisciplinar com Língua Portuguesa. Os estudantes podem sêr encorajados a produzir uma dissertação argumentativa, nos móldes do enêm, sobre o tema “Geração TDAH”, apresentado na página 340.
Na página 343, na seção Recapitule, há um resumo sobre os temas principais abordados no capítulo. É um momento oportuno para utilizar o método do mapa mental, já sugerido neste Manual. A dinâmica ajuda na fixação dos conceitos e na visualização dos principais temas estudados e suas conexões.
Atividades
Página 328 – Abertura do capítulo
A proposta das atividades de abertura é mobilizar os conhecimentos prévios e experiências dos estudantes. Além de introduzir os temas quê serão estudados, as atividades possibilitam a reflekção em torno dos impactos individuais e coletivos das tecnologias digitais.
Faça a correção coletiva das atividades propostas, pedindo aos estudantes quê compartilhem as respostas. É importante quê notem como a interação com as tecnologias é um desafio coletivo, não individual. Peça-lhes quê prestem atenção à fala do colega sobre as dificuldades enfrentadas, a fim de incentivar a convivência solidária.
Página 331
Caso julgue oportuno, é possível propor uma discussão interdisciplinar a respeito do tema com Biologia, explorando impactos fisiológicos do uso constante de telas.
Página 333 – Conexões com... Sociologia
Comente com os estudantes quê a sobreposição dos espaços digitais e não digitais influencía a própria experiência de tempo: marcada por rupturas e descontinuidades, a percepção da passagem do tempo acaba se perdendo, criando o quê Crary chama de “não tempo”.
Extrapolando as ideias do texto, é possível entender quê as tecnologias digitais impactam o exercício da cidadania e a construção de relações de solidariedade.
As atividades propostas dialogam com a habilidade EM13CHS404 e são uma ponte para discussões presentes em História, Geografia e Sociologia, quê também costumam abordar a relação entre desenvolvimento tecnológico e precarização do trabalho.
Página 335
Proponha a correção coletiva das atividades e faça a mediação. São abordados temas políticos atuáis para os quais os estudantes podem contribuir com experiências próprias ou de pessoas próximas sobre a influência das fêik news. Atente para o fato de o tema pôdêr gerar
Página quatrocentos e quarenta e quatro
situações de conflito, não sêndo toleráveis quaisquer manifestações de desrespeito.
Página 337 – Perspectivas
As atividades abordam um texto filosófico contemporâneo um pouco denso, com expressões quê podem não pertencer ao dia a dia dos estudantes. Incentive-os a pesquisar palavras desconhecidas e a contribuir com exemplos cotidianos relacionados ao tema. Essa é uma maneira didática de introduzir conceitos mais compléksos.
Página 339
Nem todas as cidades possuem cinemas, e, mesmo nos grandes centros, esse tipo de lazer póde não sêr tão acessível para a realidade dos estudantes. Permita quê compartilhem as experiências.
Página 341
As atividades proporcionam uma boa oportunidade de discutir sobre o uso consciente e crítico dos meios de comunicação digital na vida escolar e nas outras atividades cotidianas.
Página 342 – Perspectivas
Aproveite a seção para conversar com os estudantes sobre o papel quê as telas têm em suas atividades cotidianas e os possíveis impactos quê podem gerar em sua capacidade de concentração em meios de comunicação não digitais.
Página 344 – Atividades finais
2. A proposta da atividade é desenvolver o espírito crítico e a argumentação sobre o tema, quê tem causado grande polêmica nos anos recentes no Brasil, dado o risco do vício e do endividamento quê os jogos de apostas podem provocar.
Páginas 346 a 349 – Investigação – Combate às fêik news
O projeto propõe a elaboração de um podcast sobre fêik news. ôriênti os estudantes a pesquisar aplicativos para a realização da atividade. Há diversos disponíveis e quê são gratuitos. Recomenda-se compartilhar os podcasts dos grupos nas rêdes sociais dos estudantes e/ou da escola.
Referências comentadas
• CENTRO DE HUMANIDADES DIGITAIS. Podcasts e vídeos. Campinas: IFCH Unicamp, 2020. Disponível em: htt ps://chd.ifch.unicamp.br/podcast_video. Acesso em: 28 out. 2024.
Os podcasts e vídeos do Centro de Humanidades Digitais da Universidade Estadual de Campinas (CHD-Unicamp) trazem discussões bem contemporâneas a respeito da “governança” da internet e dos riscos inerêntes à concentração das informações por grandes corporações.
• CHAMAYOU, Grégoire. A ssossiedade ingovernável: uma genealogia do liberalismo autoritário. Tradução: Letícia Mei. São Paulo: Ubu, 2020.
Os capítulos 5 e 6, em especial, abordam a temática das grandes corporações e sua concentração de dados, por meio de ferramentas tecnológicas, no contexto do avanço do neoliberalismo. O autor ábri um debate sobre o papel do Estado para sua limitação.
• HOBSBAWM, Ériqui J. Tempos fraturados: cultura e ssossiedade no século XX. Tradução: Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das lêtras, 2013.
As partes 1 e 3 do livro trazem um debate sobre a questão da ár-te e da ciência no contexto do pós-modernismo. Essas discussões dialogam com diversas temáticas do capítulo.
• SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: branquitude, hierarquia e pôdêr na cidade de São Paulo. São Paulo: Veneta, 2020.
Responsável por popularizar o termo “branquitude” no Brasil, a obra desen vólve a maneira como o privilégio branco foi construído no país.
• UNESCO. Resumo do Relatório de Monitoramento Global da Educação 2023: tecnologia na educação: uma ferramenta a serviço de quem? Paris: Unesco, 2023. Disponível em: https://livro.pw/ziusg. Acesso em: 28 out. 2024.
O relatório da Unesco é um dos mais embasados estudos a retratar o impacto da internet na aprendizagem de crianças e jovens e norteia o desenvolvimento de políticas públicas para o setor em diversos países, como o Brasil.
Página quatrocentos e quarenta e cinco