Página XXIX
Orientações, sugestões e respostas
Neste tópico das Orientações para o professor, serão apresentados os objetivos das unidades, bem como as habilidades e competências da BNCC trabalhadas em cada tema. Além disso, serão apresentadas orientações, sugestões de atividades, materiais complementares e estratégias de avaliação para os conteúdos abordados em cada capítulo.
Unidade 1 A ciência do Universo
Objetivos da unidade
- Valorizar as explicações mitológicas desenvolvidas por diferentes povos ao longo do tempo e reconhecer sua importância.
- Refletir sobre a influência do contexto sociocultural no desenvolvimento científico.
- Explorar a formação e a evolução das estrelas.
- Compreender o processo de formação dos sistemas planetários.
- Aplicar as leis de Kepler para descrever o movimento dos planetas ao redor do Sol.
- Descrever as características do movimento.
- Compreender as três leis de Newton e sua aplicação na vida cotidiana.
- Explorar o conceito de queda livre.
- Analisar o lançamento de projéteis e suas equações.
Justificativas
A abordagem das páginas dessa unidade contribui para o desenvolvimento da Competência geral 1 e da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1, pois possibilita aos estudantes entender a evolução da Física, desde a Antiguidade até os dias atuais, e como os conceitos físicos estão presentes no nosso cotidiano. A análise dos modelos científicos e teorias propostos ao longo do tempo para explicar a origem do Universo e aspectos importantes da evolução do conhecimento científico permitem trabalhar a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2 e a habilidade EM13CNT201. Também são propostas atividades que contribuem para a valorização de manifestações artísticas e culturais, desenvolvendo a Competência geral 3, e a interpretação de textos de divulgação científica contribui para desenvolver a habilidade EM13CNT303.
A elaboração de questões, hipóteses e interpretações acerca da situação-problema proposta nessa unidade permite o desenvolvimento da habilidade EM13CNT301 e o trabalho em grupo desenvolve a Competência geral 9.
Abertura da Unidade - páginas 12 e 13
BNCC em contexto
Nessas páginas é abordada a Competência geral 1, pois possibilita aos estudantes refletir sobre a evolução da Ciência e sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade.
Inicie o trabalho com essas páginas solicitando aos estudantes que observem a fotografia, destacando que ela foi tirada pelo telescópio espacial James Webb do aglomerado de galáxias SMACS 0723. Comente que esse telescópio foi desenvolvido pela Nasa e lançado ao espaço em 2021 e que, ao contrário do seu antecessor, o Hubble, que observa principalmente em luz visível e ultravioleta, o James Webb opera predominantemente na faixa do infravermelho. Isso permite a ele que veja através de poeira e gases cósmicos que bloqueiam a visão de telescópios óticos, proporcionando imagens mais detalhadas de regiões do espaço, como berçários estelares e núcleos galácticos.
Respostas
a ) Resposta pessoal. Espera-se que eles reconheçam que há uma influência mútua entre Ciência e sociedade. Assim, a sociedade pode tanto influenciar a construção do conhecimento científico como este influenciar o desenvolvimento da sociedade.
b ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o Universo e as teorias a respeito de sua origem e evolução. Alguns podem citar a teoria do Big Bang. Incentive-os a expressar o que sabem dessa teoria. Verifique se eles relacionam a teoria do Big Bang à expansão de um ponto material extremamente quente e denso, com liberação de grande quantidade de energia.
c ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o Sistema Solar e sua formação. Eles podem citar que o Sistema Solar se formou de uma estrutura chamada nebulosa solar. Caso algum estudante relacione a origem do Sistema Solar com o Big Bang, comente que a formação do Sistema Solar se iniciou aproximadamente 9 bilhões de anos após o Big Bang.
d ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é levar os estudantes a expressar seus conhecimentos prévios sobre o telescópio espacial James Webb. Espera-se que eles comentem que o telescópio se mantém em órbita do Sol, pois sofre influência da força da gravidade da estrela.
Capítulo 1 - História da Ciência - páginas 14 a 22
Objetivos do capítulo
- Compreender a importância do conhecimento científico e suas origens.
- Analisar as contribuições de civilizações antigas para o conhecimento científico.
- Examinar como o desenvolvimento da Ciência influenciou e foi influenciado por fatores sociais, econômicos e religiosos.
- Refletir sobre a influência do desenvolvimento tecnológico nas ciências.
Página XXX
Páginas 14 a 20
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 14 e 15 contribui para o trabalho com as Competências gerais 1 e 2, pois incentiva os estudantes a reconhecer o caráter humano das ciências, sujeito aos contextos social, político, cultural e econômico em que está inserido.
Também contempla a habilidade EM13CNT201, pois incentiva os estudantes a analisar algumas teorias propostas ao longo do tempo sobre aspectos importantes da evolução do conhecimento científico.
A abordagem das páginas 14 e 15 permite o desenvolvimento do tema contemporâneo transversal Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas culturais brasileiras ao trabalhar fenômenos astronômicos observados e registrados pelos povos indígenas brasileiros Tupi-Guarani. Além disso, incentiva os estudantes a analisar e fruir manifestações artísticas e culturais, trabalhando a Competência geral 3.
Se julgar conveniente, inicie o trabalho desse capítulo orientando os estudantes a responder à questão 1 da página 14, utilizando a estratégia de metodologia ativa One-minute paper. Confira mais orientações sobre essa estratégia nas páginas XI e XII destas Orientações para o professor. Para isso, peça a eles que respondam à questão proposta em, no máximo, cinco minutos, possibilitando a livre expressão, a fluência na escrita e a capacidade de síntese. O objetivo da questão é levar os estudantes a refletir sobre a história da humanidade, incluindo a história da Ciência, e compreender como determinado conceito é construído, ou modificado, chegando à sua definição nos dias atuais.
Utilize as respostas para verificar os conhecimentos prévios da turma sobre a história da Ciência, e a relação entre o desenvolvimento da Ciência e o da humanidade.
Se julgar adequado, ao abordar os fenômenos astronômicos observados e registrados pelos povos indígenas brasileiros Tupi-Guarani, na página 14, acesse o site da revista Ciência & Cultura e trabalhe com os estudantes um pouco mais sobre a Astronomia indígena. Promova uma abordagem que incentive o respeito pelas mitologias, crenças e tradições. Disponível em: https://s.livro.pro/sakxk5. Acesso em: 23 set. 2024.
Ao comentar as áreas das Ciências da Natureza, além dos exemplos das áreas fundamentais que embasam as demais citadas na página 14, cite outras, como a Astrofísica, as Geociências, a Oceanografia, a Zootecnia e a Engenharia de alimentos. Explique que todas elas são consideradas áreas de estudo das Ciências da Natureza.
Na página 14, note que a lenda do boitatá varia de acordo com as regiões do Brasil. Assim, proponha uma atividade de pesquisa sobre as diferentes versões da lenda para que sejam apresentadas em sala de aula.
As páginas 15 a 19 tratam da transição para um pensamento racional em termos do desenvolvimento dos conhecimentos científicos e, apesar de serem apresentadas contribuições de diferentes civilizações separadamente, explique aos estudantes que diversas delas ocorreram de forma simultânea.
Ainda na página 15, se julgar necessário, comente que Cheikh Anta Diop (1923-1986) foi um matemático, físico e químico senegalês cuja obra teve impacto significativo na compreensão da história e cultura africana. Diop é amplamente reconhecido por seus estudos que desafiaram as narrativas eurocêntricas sobre a África e que buscaram provar a unidade cultural e histórica do continente africano. Diop argumentou que a civilização egípcia antiga tinha raízes africanas negras, desafiando a visão predominante de que o Egito antigo era uma civilização de origem mediterrânea ou semítica. Para isso, utilizou uma variedade de evidências, incluindo antropológicas, linguísticas e históricas, para fundamentar sua tese. Ele promoveu a ideia de que havia uma conexão cultural e histórica entre o Egito antigo e outras civilizações africanas. Sustentava que a África compartilhava uma história comum e que essa unidade cultural deveria ser reconhecida e celebrada. Diop também foi ativo politicamente, defendendo a unidade cultural africana, baseado no conhecimento e valorização da verdadeira história e identidade africana. Além de suas contribuições em História e Antropologia, Diop era químico e físico. Ele realizou pesquisas em radiocarbono e Física nuclear, e foi um defensor do uso da Ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da África.
Ao abordar os estudos do filósofo persa Avicena (980-1037),na página 16, explique aos estudantes que também existem registros de atividades relacionadas à Medicina, como documentos de grandes cirurgias traumáticas que datam do Egito antigo registradas em papiros, milênios a.C. e, consequentemente, antes de Avicena.
Ressalte como o desenvolvimento dos instrumentos de navegação, na página 17, reflete o avanço científico na época e como essas invenções foram importantes para as grandes navegações e como sua ausência poderia limitar o alcance das expedições.
Na página 18, se julgar conveniente, promova uma discussão sobre a Revolução Científica e a chegada dos portugueses ao Brasil. Explique que esse fato ocorreu graças à expansão marítima que abriu caminho para outras grandes descobertas. Isso tudo foi possível por causa da evolução dos conhecimentos científicos que contribuíram para a criação e o aperfeiçoamento de novas técnicas de navegação. Aproveite para comentar que os indígenas tinham crenças e costumes diferentes dos portugueses.
Acompanhando a aprendizagem
Ao final desse capítulo, solicite aos estudantes que retomem a resposta da questão 1 da página 14 e comparem com sua resposta inicial. Dessa forma, eles podem refletir sobre como sua compreensão evoluiu e quais aspectos consideram mais importantes agora.
Ligado no tema - página 20
Objetivos
- Reconhecer as etapas do método científico.
- Avaliar a aplicação do método científico para resolver problemas do cotidiano.
Orientações
Apresente ou reforce o entendimento do método científico e como ele pode ser aplicado fora do ambiente científico tradicional, reforçando a importância de cada etapa e como a abordagem sistemática auxilia a resolver problemas. Organize os estudantes em duplas para que identifiquem cada etapa do método científico do problema da lâmpada e respondam às duas questões da seção. Caminhe entre as duplas, oferecendo orientação e suporte conforme necessário. Ajude-os a refinar suas perguntas e hipóteses. Para finalizar, solicite a algumas duplas que comentem suas respostas, reforçando o método científico. Pergunte se há alguma outra situação no cotidiano deles em que possa ser aplicado esse método.
Página XXXI
As atividades 3 e 4 da página 21 permitem o trabalho integrado com o componente curricular de Filosofia. O professor desse componente pode auxiliar os estudantes na compreensão dos conceitos de mito e da Filosofia da Ciência.
Respostas - Página 22
5. c ) As tecnologias modernas de satélites e a observação astronômica desempenham um papel crucial no desenvolvimento da agricultura sustentável. Satélites meteorológicos fornecem dados precisos sobre o clima, permitindo aos agricultores que prevejam padrões climáticos, como chuvas e secas, e planejem suas atividades de acordo com eles. Sensores de satélite também monitoram a umidade do solo, a saúde das plantas e o uso da água, ajudando a otimizar a irrigação e reduzir o desperdício de recursos. Além disso, a observação astronômica e os dados de satélite contribuem para a previsão de eventos climáticos extremos, permitindo aos agricultores que tomem medidas preventivas para proteger suas culturas e maximizar a produção agrícola de maneira sustentável.
6. b ) Espera-se que os estudantes concluam que a maior parte do átomo é composta de espaços vazios, já que a maior parte das partículas de carga positiva não tem suas trajetórias alteradas. E o fato de que uma pequena fração de partículas foi desviada indicou que elas estavam colidindo com algo muito denso e positivamente carregado. Logo, o átomo seria composto de um núcleo central denso e a maior parte do seu volume seria de espaço vazio.
7. O objetivo dessa questão é incentivar os estudantes a verificar como os conceitos da Física podem ser observados e aplicados em diversas áreas do cotidiano. Eles podem citar a interação da Física com a Medicina e a Biologia em tratamentos e exames médicos; a integração entre Física, Geografia e Geologia no monitoramento, mapeamento e estudos da superfície terrestre via satélite; a integração entre Física e Química nos estudos de partículas e estrutura da matéria, entre outras situações.
Capítulo 2 - Origem e evolução do Universo - páginas 23 a 35
Objetivos do capítulo
- Descrever a teoria do Big Bang.
- Identificar o processo de formação das estrelas e descrever as fases do ciclo de vida das estrelas de diferentes massas.
- Analisar a importância da espectroscopia na determinação da composição das estrelas.
- Explorar a estrutura interna e a composição do Sol.
- Compreender a formação dos sistemas planetários e dos planetas.
Páginas 23 a 33
BNCC em contexto
A abordagem dos modelos científicos propostos ao longo do tempo para explicar a origem do Universo contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2. Além disso, a análise de interpretações sobre a dinâmica do Universo e sua evolução contribuem para desenvolver a habilidade EM13CNT201.
A leitura do esquema da página 24 contribui para o trabalho com a habilidade EM13CNT303, pois possibilita aos estudantes interpretar textos de divulgação científica.
Ao abordar os conteúdos da página 23, enfatize que, apesar do nome, o Big Bang não se trata de uma explosão, como a de uma bomba. O termo é uma analogia à rápida expansão do espaço, distribuindo a matéria e a energia que estavam comprimidas em uma pequena região.
Explique que a radiação remanescente do processo de expansão do Universo foi detectada em 1964 pelo astrofísico alemão Arno Penzias (1933-2024) e pelo astrônomo estadunidense Robert Woodrow Wilson (1936 -) por meio de um telescópio de micro-ondas. Na ocasião, eles verificaram que, para qualquer direção que apontassem o telescópio, sempre detectavam um ruído de fundo, identificado posteriormente como a radiação cósmica de fundo que permeia todo o espaço. Essa é uma das maiores evidências do Big Bang.
A interpretação do esquema da página 25 possibilita trabalhar o pensamento computacional. Para isso, oriente os estudantes a analisar cada etapa e processo separadamente, procurando informações detalhadas sobre cada uma delas. É importante que eles também analisem separadamente as possibilidades de processos, dependendo da massa das estrelas.
Na página 26, comente o trabalho da astrônoma inglesa Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979) com espectroscopia, que criou uma das bases da Astronomia moderna, particularmente com relação à composição química das estrelas e à estrutura da Via Láctea.
Integrando o conhecimento
Ao abordar a análise das linhas espectrais das estrelas na página 26, incentive os estudantes a refletir sobre como é conduzida essa investigação. Proponha que eles investiguem como a luz das estrelas interage com os gases em suas camadas externas e como isso resulta nas linhas espectrais. Para essa análise, a turma pode utilizar espectroscópios simples feitos de materiais acessíveis, como CDs, caixas de papelão e fontes de luz específicas. Essa atividade pode ser enriquecida em um projeto com o professor do componente curricular de Química, contribuindo, além da espectroscopia, para o cálculo da composição química de uma estrela usando gráficos das linhas espectrais.
Atividade extra
Se achar conveniente, trabalhe o esquema do ciclo de vida do Sol, como apresentado anteriormente, referente à página 26, aplicando a estratégia de metodologia ativa Jigsaw, descrita a seguir.
1. Organize a turma em quatro grupos de base. Divida o conteúdo em quatro partes, de acordo com as etapas do esquema. Entregue uma parte do conteúdo ou texto a cada estudante e reserve um tempo para que a leiam e pesquisem o assunto. É importante que eles tenham acesso somente à parte que lhes foi atribuída.
Página XXXII
2. Reconfigure os grupos, formando os novos grupos de especialistas, ou seja, reúna os estudantes responsáveis por cada parte do conteúdo. Eles devem trocar ideias sobre o que compreenderam do fragmento que ficou sob sua responsabilidade.
3. Solicite aos estudantes que voltem ao grupo de base e expliquem aos colegas as partes discutidas nos grupos de especialistas. Durante a dinâmica, caminhe entre os grupos e, caso algum estudante tenha dificuldade para se comunicar com a equipe, auxilie-o.
Sugira aos estudantes que troquem ideias em duplas para responder à questão 2 da página 27 e que exponham suas ideias às outras duplas.
Aproveite o momento para promover uma discussão sobre a importância da luz solar para a vida na Terra. Espera-se que eles respondam que a luz do Sol é essencial para as plantas realizarem a fotossíntese, inserindo energia nas cadeias alimentares. Além disso, a luz solar mantém a temperatura do planeta adequada à vida. O objetivo da questão é verificar se a turma relaciona a luz visível emitida pelo Sol à radiação gerada.
Formação dos buracos negros e supernovas - página 29
Após ler a manchete na página 29, pergunte aos estudantes o que eles sabem de buracos negros. O objetivo dessa questão é uma análise prévia do conhecimento deles sobre esse assunto.
Ao trabalhar a fotografia do buraco negro na página 29, explique à turma que não é possível fotografá-lo diretamente. Para produzir uma fotografia, é necessário que a luz refletida pelo objeto fotografado incida sobre a câmera fotográfica. No caso dos buracos negros, sua gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz que entra em uma região muito próxima dele consegue escapar. Assim, a fotografia apresentada na página é, provavelmente, algum corpo massivo sendo absorvido pelo buraco negro, girando tão rápido que emite a luz captada pela câmera.
Explique que os buracos negros absorvem os corpos apenas quando estes ultrapassam determinado limite, denominado horizonte de eventos. Quanto mais massivo é o buraco negro, maior é seu horizonte de eventos. Caso algum objeto ultrapasse o limite e entre nessa região, para um observador, do lado de fora, a imagem do objeto movimenta-se cada vez mais devagar, até paralisar. Isso acontece porque um buraco negro não absorve apenas a luz ou a massa, mas também o tempo.
BNCC em contexto
A questão 3 da página 30 possibilita aos estudantes elaborar explicações e reconhecer o Sistema Solar como um sistema planetário composto de outros astros que orbitam uma estrela por meio de interações gravitacionais, contribuindo para desenvolver a habilidade EM13CNT204.
Atividade extra
Peça aos grupos que escolham uma cultura e façam uma pesquisa sobre mitos que expliquem a formação e a evolução estelar de acordo com ela. É importante que eles comparem essas explicações com os modelos atuais que explicam esse tema. Em uma folha de cartolina branca, peça a eles que representem a mitologia estudada por meio de um desenho. Sugira algumas mitologias que eles podem pesquisar, como a nórdica, babilônica, indiana, egípcia, grega, indígena, entre outras.
Incentive-os a apresentar o que perceberam aos colegas, promovendo uma discussão sobre o assunto.
Caso julgue necessário, indique ou leia com eles trechos do livro a seguir, que apresenta diferentes versões da origem do Universo: BIRZNEK, F. C. A evolução das teorias cosmológicas: da visão do Universo dos povos antigos até a teoria do Big Bang. Curitiba: UFPR, 2015. Disponível em: https://s.livro.pro/1ef987. Acesso em: 27 set. 2024.
Por fim, peça a cada grupo que apresente o desenho e a mitologia investigada aos outros grupos da turma.
Conexões com ... - páginas 32 e 33
Objetivos
- Identificar e descrever diferentes explicações culturais sobre a origem do Universo.
- Compreender a importância de mitos e lendas para as sociedades que os criaram.
Orientações
Converse com os professores dos componentes curriculares de Sociologia e Filosofia a fim de desenvolverem uma aula conjunta, de modo a trabalhar a definição de mito e a importância dele na organização de diferentes povos.
Inicie a atividade discutindo com os estudantes como diferentes culturas têm as próprias explicações sobre a origem do Universo. Destaque a importância dos mitos como uma forma de refletir sobre o mundo e sobre a nossa existência. Discuta como esses mitos representam as estruturas sociais e as identidades coletivas dos povos que os criaram. É importante enfatizar a necessidade de interpretar os mitos por meio de cada contexto cultural.
É fundamental proporcionar um momento de reflexão e diálogo com os estudantes, de modo que eles compreendam que, apesar de serem construídos de maneira diferente do conhecimento científico, os mitos não devem ser vistos como inferiores ou opostos à Ciência moderna, e sim como formas de explicar fenômenos ligados à história e à identidade cultural de um povo, e que devem ser respeitados. Esses temas permitem a abordagem dos temas contemporâneos transversais Diversidade cultural e Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas culturais brasileiras.
Se julgar conveniente, apresente aos estudantes o texto a seguir, que define o mito e sua relevância para a existência do ser humano. Essa abordagem contribui para trabalhar a Competência geral 1.
Há milênios, muito antes de esse corpo de conhecimento que hoje chamamos de ciência existir, a relação dos seres humanos com o mundo era bem diferente. [...]
[...]
Uma vez que nos perguntamos sobre a origem do Universo, encontrar uma resposta se torna muito tentador. O caminho que cada indivíduo escolhe depende, sem dúvida, de quem está fazendo a pergunta. Uma pessoa religiosa vai procurar respostas dentro do contexto de alguma religião, que poderá ser tanto uma religião organizada como uma versão mais pessoal. O ateu tentará, talvez, achar uma resposta dentro de um contexto científico. Religiosas ou não, certamente a maioria das pessoas terá alguma resposta. O veículo encontrado por várias culturas foi o mito. Mitos são histórias que procuram viabilizar ou reafirmar sistemas de valores, que não só dão sentido à nossa existência como também servem de instrumento no estudo de uma determinada cultura.
[...]
GLEISER, Marcelo. A dança do Universo: dos mitos de criação ao Big Bang. 6ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 16-21.
Página XXXIII
Respostas - Páginas 34 e 35
1. c ) O Universo não é estático, pois está em constante expansão, e as galáxias distantes estão se afastando umas das outras, sugerindo que em algum período elas deveriam estar mais próximas.
8. a ) A diferença de massa entre elas é dada por:
delta 'm' é igual a 4 vezes 'm' subscrito H menos 'm' subscrito H e é igual a 4 vezes 1 vírgula 67 vezes 10 elevado a menos 27 menos 6 vírgula 65 vezes 10 elevado a menos 27 implica em delta 'm' é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 29 portanto delta 'm' é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 29 quilograma
b ) A energia de cada fusão é dada por:
E é igual a delta 'm' vezes c elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 29 abre parênteses 3 vezes 10 elevado a 8 fecha parênteses elevado ao quadrado implica em E é igual a 27 vezes 10 elevado a menos 13 portanto implica em E é igual a 2 vírgula 7 vezes 10 elevado a menos 12 J
Assim, a energia total, por segundo, é:
E subscrito total é igual a 2 vírgula 7 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a 38 portanto E subscrito total é aproximadamente igual a 4 vezes 10 elevado a 26 Joules
Então, a potência gerada no núcleo do Sol, por segundo, é:
P é igual a início de fração, numerador: E, denominador: delta 't', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 4 vezes 10 elevado a 26, denominador: 1, fim de fração portanto P é igual a 4 vezes 10 elevado a 26 J
9. a ) Resposta pessoal. O objetivo dessa atividade é levar os estudantes a perceber que existem diversas explicações para um mesmo fenômeno e que muitas delas estão relacionadas à cultura dos povos. Ao trabalhar a questão, verifique se os estudantes não estão utilizando argumentos preconceituosos e pejorativos para embasar seus respectivos pontos de vista. Enfatize que uma argumentação válida não se apoia em comentários e justificativas ofensivas e que podem desmerecer e inferiorizar as hipóteses de formação da Lua de diferentes povos.
b ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é desenvolver a argumentação, incentivando os estudantes a elencar e apresentar os principais argumentos que sustentam uma ideia.
c ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é desenvolver a oralidade e a divulgação de informações. Organize os estudantes em roda para que discutam as ideias propostas pelos grupos.
Capítulo 3 - Os astros no Universo - páginas 36 a 46
Objetivos do capítulo
- Identificar a diferença entre movimento de rotação e revolução da Terra.
- Demonstrar como a rotação da Terra causa o ciclo de dia e noite.
- Explorar como o conceito de referencial é essencial para definir movimento e repouso.
- Descrever o conceito de movimento retilíneo uniforme (MRU) e suas características.
- Definir o conceito de velocidade média e rapidez média e sua aplicação em movimentos cotidianos.
- Reconhecer o movimento dos planetas em torno do Sol e a relação com as leis de Kepler.
- Identificar as três leis de Kepler para o movimento dos planetas.
Páginas 36 a 40
BNCC em contexto
A abordagem da página 36 contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2 e da Competência geral 2, pois possibilita interpretar e compreender a dinâmica dos astros e do planeta Terra de acordo com o modelo heliocêntrico.
A leitura e interpretação da tirinha apresentada na página 37 contempla a Competência geral 3, promovendo a fruição e a valorização de manifestações artísticas e culturais.
Além disso, os conteúdos apresentados nas páginas 36 a 40 contribuem para o desenvolvimento das habilidades EM13CNT101 e EM13CNT204.
Ao trabalhar os movimentos da Terra, aproveite para comentar que diversos estudos científicos evidenciam o formato esférico da Terra. Há mais de 2 mil anos, o filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) escreveu que, de acordo com a observação das estrelas, ficava evidente que a Terra era circular e não muito grande, pois uma pequena mudança na posição de observação apresentaria uma grande alteração no horizonte. Entretanto, caso a Terra fosse plana, as mesmas estrelas seriam observadas de qualquer ponto e a qualquer momento.
Integrando o conhecimento
O estudo dos movimentos de rotação e revolução da Terra na página 36 promove uma integração com o componente curricular de Geografia ao discutir como esses movimentos causam o ciclo dia-noite e as estações do ano. Sendo assim, é possível desenvolver uma aula ou um projeto com o professor desse componente curricular, a fim de estudar como diferentes regiões da Terra experienciam as estações do ano de maneira distinta por causa da inclinação do eixo terrestre e de sua posição em relação ao Sol.
Ao abordar o conceito de movimento e de repouso na página 37, pergunte aos estudantes como é possível identificar se um corpo está em movimento ou em repouso. O intuito é promover um debate acerca das respostas e ideias propostas por eles. Verifique se eles compreendem que é necessário observar se o corpo muda de posição no decorrer do tempo ao compará-lo com um referencial.
Explique aos estudantes que o movimento é definido como a variação da posição de determinado objeto em relação a um dado referencial com o decorrer do tempo. A trajetória, por sua vez, é o lugar geométrico que contém o conjunto de todas as posições ocupadas por certo movimento, sendo classificada como retilínea ou curvilínea.
Por fim, explique a eles que a trajetória do movimento de um mesmo objeto é diferente para referenciais distintos. O texto a seguir explica a observação das trajetórias com base em diferentes referenciais, segundo o cientista italiano Galileu Galilei (1564-1642).
Página XXXIV
[…]
Galileu utilizou o princípio da relatividade dos movimentos, ou princípio da independência dos movimentos, para demonstrar a trajetória parabólica dos projéteis. Consideremos o seguinte exemplo: um projétil lançado a partir do solo com um certo ângulo de lançamento pode ter seu movimento decomposto em dois movimentos independentes: um horizontal e outro vertical. No lançamento de um projétil verticalmente para cima, sobre uma plataforma em movimento retilíneo e uniforme, um observador que esteja sobre a plataforma em movimento verá a trajetória do projétil como retilínea de ida e volta. Quanto a um observador que esteja parado no solo, onde a plataforma está em movimento, visualizará a trajetória do projétil como parabólica. Assim, cada observador terá uma visão diferente do movimento. Com isso, Galileu conseguiu resolver o paradoxo de Zenão, mostrando que a trajetória e velocidades são dependentes do referencial de onde se observa o movimento.
[…]
WOLFF, Jeferson de Souza; MORS, Paulo Machado. Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein. In: Textos de Apoio ao Professor de Física. Porto Alegre: v. 16, n. 5, 2005. p. 12.
Em vez de dividir a análise dos conceitos de deslocamento, velocidade e aceleração em situações consideradas vetores e em situações consideradas escalares, essa obra se refere a esses conceitos com um nome único (deslocamento, velocidade e aceleração). Em casos específicos, como no movimento unidimensional, cuja representação vetorial pode ser abandonada, trabalhando-se com um valor numérico para o módulo do vetor e o sinal positivo ou negativo para definir o sentido do vetor, a direção dele é dada pela direção da trajetória definida.
Aproveite o momento para classificar o movimento de determinado objeto em relação ao sinal (positivo ou negativo) do deslocamento e, consequentemente, da velocidade. Explique aos estudantes que:
se delta 's' é maior do que 0 implica em v é maior do que 0, tem-se o movimento para o mesmo sentido da orientação adotada, portanto o movimento é denominado progressivo.
se delta 's' é menor do que 0 implica em v é menor do que 0, tem-se o movimento para o sentido oposto da orientação adotada, portanto o movimento é denominado retrógrado.
Explique ainda que a notação vetorial pode ser aplicada apenas para determinadas grandezas, denominadas grandezas vetoriais, como deslocamento, velocidade, aceleração e força. Já grandezas que não podem ser representadas por um vetor são denominadas grandezas escalares, como massa, energia e temperatura. Essas grandezas são completamente definidas com o valor numérico, acompanhado de sua unidade de medida.
Na página 39, comente que muitos livros trazem a definição de velocidade escalar e velocidade escalar média. No entanto, não utilizaremos essas definições para evitar misturar conceitos, isto é, os vetoriais com os escalares. Assim, considera-se a velocidade escalar média como a rapidez desenvolvida por um corpo em que o deslocamento (com direção e sentido) é substituído pela distância percorrida abre parênteses d fecha parênteses em determinado intervalo de tempo, ou seja:
rapidez é igual a início de fração, numerador: distância percorrida, denominador: tempo, fim de fração
Comente que em alguns automóveis há um computador de bordo. Nesse caso, por exemplo, a rapidez média proporciona a autonomia, fornecendo a distância possível a ser percorrida com base na quantidade de combustível no tanque.
A manipulação dos valores expressos com sinais positivo ou negativo, representando os módulos dos vetores, e os sentidos são condições de contorno relacionadas ao tipo de movimento que se está trabalhando. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, pode-se abandonar a notação vetorial, pois a velocidade média é igual à rapidez do movimento. Por isso, podemos escrever v subscrito m é igual a início de fração, numerador: delta 's', denominador: delta 't', fim de fração.
Apresente aos estudantes outras unidades de medida de velocidade comumente utilizadas no cotidiano, como milhas por hora abre parênteses mi barra h fecha parênteses, indicada no velocímetro dos carros ingleses e estadunidenses, por exemplo, sendo 1 quilômetro é igual a 1 vírgula 6 milha, de maneira que 1 quilômetro por hora é igual a 1 vírgula 6 mi barra h. Para medir a velocidade dos barcos, normalmente aplica-se a medida nó, em que 1 nó é igual a 1 vírgula 150 mi barra h é igual a 1 vírgula 852 quilômetro por hora.
Acompanhando a aprendizagem
Ao final da abordagem da página 39, peça aos estudantes que diferenciem distância e deslocamento. Se for necessário, retome com eles esse assunto para averiguar sua aprendizagem acerca das características do movimento.
Páginas 42 a 45
As atividades resolvidas da página 40 possibilitam classificar o movimento de um móvel em relação à sua aceleração. Enfatize que, nos movimentos retilíneos, o movimento acelerado se dá quando os vetores aceleração e velocidade apresentam o mesmo sentido, ou seja, módulos de mesmo sinal. Já o movimento retardado ocorre quando os vetores aceleração e velocidade têm sentidos opostos, isto é, sinais diferentes.
Na página 42, ao abordar as leis de Kepler e seu modelo heliocêntrico, cujos planetas executam órbitas elípticas, ressalte que há relatos de estudiosos que propuseram uma explicação idêntica às apresentadas por Kepler muito tempo antes dele. Um desses relatos está relacionado à matemática e filósofa egípcia Hipátia (370-415), que viveu em Alexandria, no Egito, e que obteve sucesso na sociedade da época. Para mais informações, acesse o site Biografias de Mulheres Africanas. Disponível em: https://s.livro.pro/fv2bu0. Acesso em: 4 nov. 2024.
Aproveite o momento para propor aos estudantes uma pesquisa sobre mulheres que, apesar de toda opressão do machismo na comunidade científica, conseguiram ser mencionadas na construção da Ciência, como a física polonesa Marie Curie (1867-1934), com seus estudos sobre a radioatividade, e a matemática alemã Emmy Noether (1882-1935), com seus teoremas sobre simetrias e as leis da natureza, que são considerados base estruturante de toda a Física.
Integrando o conhecimento
Ao abordar as leis de Kepler na página 42, é possível trabalhar com o professor do componente curricular de História, explorando as mudanças na concepção acerca do Universo ao longo do tempo, desde as concepções geocêntricas até o modelo heliocêntrico, e analisar como essas mudanças influenciaram a sociedade e o pensamento científico. Também nas leis de Kepler, em um trabalho integrado com o professor do componente curricular de Matemática, é viável propor a resolução de problemas matemáticos que envolvam as leis do movimento planetário e o cálculo das órbitas, aplicando conceitos de geometria e trigonometria.
Página XXXV
Prática científica - página 43
Objetivos
- Identificar a forma de uma elipse e seus elementos principais.
- Investigar a variação da distância entre dois pontos fixos (focos) ao longo de uma elipse.
- Entender as órbitas elípticas dos planetas.
Orientações
Antes de iniciar a atividade, revise os conceitos básicos de elipse, focos e eixos maior e menor. Explique brevemente como esses conceitos se aplicam às órbitas dos planetas ao redor do Sol, destacando a primeira lei de Kepler. Mostre exemplos reais de órbitas planetárias.
Certifique-se de que todos os materiais estejam disponíveis para os estudantes e prepare um espaço adequado na sala de aula para que os grupos manipulem a cartolina e tracem as elipses. Caminhe entre os grupos para verificar o progresso e tirar as dúvidas. Certifique-se de que os alfinetes sejam posicionados corretamente e que o barbante esteja amarrado adequadamente a fim de formar uma elipse.
Oriente os estudantes a manter o barbante levemente esticado enquanto desenham a elipse. Isso garante que a soma das distâncias do lápis aos dois focos permaneça constante, resultando em uma forma elíptica precisa.
Ao trabalhar a segunda lei de Kepler, na página 44, explique aos estudantes que as pesquisas do físico inglês William Gilbert (1540-1603) sobre as forças magnéticas tiveram grande influência nos estudos de Kepler, postulando que a atração entre o Sol e os planetas seria similar à interação entre ímãs. Essas experiências se tornaram a segunda lei de Kepler (lei das áreas).
Na página 44, comente que as órbitas elípticas dos planetas estão representadas com proporções exageradas. A órbita da Terra, por exemplo, apresenta diferença de cerca de 3% entre a posição mais próxima do Sol e a posição mais afastada dele, de modo que a órbita da Terra é considerada quase circular. Porém, os cometas têm órbitas com alta excentricidade, com elipses alongadas (grande diferença entre os eixos maior e menor).
Respostas - Página 41
1. A distância percorrida pode ser obtida pela soma do comprimento dos vetores mostrados na figura:
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
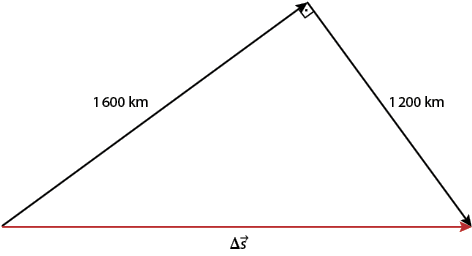
d é igual a 1600 mais 1.200 portanto d é igual a 2800 quilômetros
Já o deslocamento (total) é obtido pela soma vetorial dos vetores deslocamentos realizados e pode ser calculado pelo Teorema de Pitágoras:
delta 's' elevado ao quadrado é igual a 100 elevado ao quadrado mais 100 elevado ao quadrado implica em delta 's' é igual a raiz quadrada de 4.000.000 implica em
implica em portanto delta 's' é igual a 2.000 quilômetros
2. 01) Incorreta. O sistema formado pelos dois radares usa a posição em dois intervalos de tempo, fornecendo a velocidade média do automóvel. 04) Incorreta. Com os dados fornecidos pelo enunciado, não é possível determinar a aceleração do automóvel, logo não é possível classificar o movimento como acelerado ou retardado. 08) Incorreta. Na posição igual a 0, o radar deve estar "zerado", ou seja, deve marcar 't' é igual a 0. 16) Incorreta. O módulo da velocidade média é dado por v é igual a 10 metros por segundo. 32) Correta. Conforme o cálculo realizado na proposição anterior.
3. Primeiro deve-se converter a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo:
v subscrito inicial é igual a 270 quilômetros por hora é igual a 75 metros por segundo
v subscrito final é igual a 72 quilômetros por hora é igual a 20 metros por segundo
A aceleração do carro de corrida pode ser calculada por:
a subscrito m é igual a início de fração, numerador: delta v, denominador: delta 't', fim de fração implica em a subscrito m é igual a início de fração, numerador: 20 menos 75, denominador: 5 menos 0, fim de fração portanto a subscrito m é igual a menos 11 metros por segundo ao quadrado
O sinal negativo na aceleração indica que o movimento é retardado.
Respostas - Página 46
1. b ) Aplicando a terceira lei de Kepler, temos:
início de fração, numerador: T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito T início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito N início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito N início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração implica em início de fração, numerador: T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: abre parênteses 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a 8 fecha parênteses elevado ao cubo, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito N início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: abre parênteses 4 vírgula 5 vezes 10 elevado a 9 fecha parênteses elevado ao cubo, fim de fração implica em
implica em início de fração, numerador: T subscrito N início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 91 vírgula 125 vezes 10 elevado a 27, denominador: 3 vírgula 375 vezes 10 elevado a 24, fim de fração implica em
implica em início de fração, numerador: início de raiz quadrada; T subscrito N início sobrescrito, 2, fim sobrescrito fim de raiz quadrada, denominador: início de raiz quadrada; T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito fim de raiz quadrada, fim de fração é igual a início de raiz quadrada; 27 vezes 10 elevado ao cubo fim de raiz quadrada implica em início de fração, numerador: T subscrito N, denominador: T subscrito T, fim de fração é aproximadamente igual a 164 vírgula 3
3. a ) Como os arcos da figura correspondem a 1 mês, sendo o período de órbita da Terra igual a 1 ano, o que equivale a 12 meses, e como a área total da elipse é igual a 7 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados, podemos calcular a área correspondente a 1 mês da seguinte maneira:
A subscrito mês é igual a início de fração, numerador: 7 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados, denominador: 12, fim de fração é aproximadamente igual a 0 vírgula 58 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados
Pela segunda lei de Kepler, o raio vetor descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais.
Logo, A subscrito 1 é igual a A subscrito 2 é igual a A subscrito 3. Portanto, a soma das áreas é:
A subscrito T é igual a A subscrito 1 mais A subscrito 2 mais A subscrito 3 é igual a 3 vezes 0 vírgula 58 vezes 10 elevado a 22 implica em
implica em portanto A subscrito T é igual a 1 vírgula 75 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados
4. Usando a terceira lei de Kepler, que é válida para qualquer corpo em órbita ao redor do Sol:
início de fração, numerador: T subscrito T início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito T início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito P início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito P início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração implica em início de fração, numerador: 1 elevado ao quadrado, denominador: 2 vírgula 5 elevado ao cubo, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito P início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: 40 elevado ao cubo, fim de fração implica em T subscrito P início sobrescrito, 2, fim sobrescrito é igual a início de fração, numerador: 64.000, denominador: 15 vírgula 625, fim de fração implica em
implica em T subscrito P início sobrescrito, 2, fim sobrescrito é igual a 4.096 portanto T subscrito P é igual a 64 anos
Capítulo 4 - Dinâmica do movimento dos corpos - páginas 47 a 69
Objetivos do capítulo
- Descrever as leis de Newton e identificar situações em que elas são aplicadas.
- Identificar e calcular a força resultante em situações com múltiplas forças atuando em um objeto.
- Diferenciar o conceito de força peso da massa dos corpos.
Página XXXVI
Páginas 47 a 59
BNCC em contexto
Nas páginas 47 a 59, a abordagem da Dinâmica por meio das leis de movimento de Newton e sua aplicação às situações do cotidiano contribuem para desenvolver a Competência geral 1 e a habilidade EM13CNT204, pois possibilita aos estudantes empregar os conhecimentos das leis de Newton para entender e explicar a realidade.
Em sua obra Principia, publicada em 1687, Newton expressou o quanto o estudo das forças é importante para favorecer uma ampla visão acerca dos fenômenos da natureza.
[…] ofereço este trabalho como os princípios matemáticos da filosofia, pois toda a essência da filosofia parece constituir nisso – a partir dos fenômenos de movimento, investigar as forças da natureza e, então, dessas forças demonstrar os outros fenômenos […].
NEWTON, Isaac. Principia: princípios matemáticos de filosofia natural: livro I. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2012. p. 14.
Na citação, o cientista inglês Isaac Newton (1643-1727) se refere à Filosofia, pois naquela época áreas como Física, Química e Biologia ainda não estavam consolidadas. Por isso, os estudiosos da natureza eram considerados filósofos naturais. Nos livros I e II são apresentados os princípios básicos dos movimentos. O livro III trata do movimento de planetas, cometas e satélites naturais e do efeito maré.
Ao abordar os efeitos da força e sua natureza, na página 48, comente que se trata do conjunto de leis que possibilita a análise e a compreensão dos comportamentos estático e dinâmico dos corpos, de forma simples e dialética.
Na página 50, comente que a intuição, algo tão importante em diversos segmentos da vida, muitas vezes pode sugerir imprecisões científicas. É muito comum que os estudantes, ao longo da vida escolar, formulem hipóteses e conceitos espontâneos que podem parecer óbvios, mas depois comprovam que são inadequados. Um desses casos é a ideia de que um corpo só se mantém em movimento sob a ação de forças (essa confusão ocorre porque, geralmente, os estudantes pensam em corpos deslizando sobre superfícies ásperas). Na construção histórica do conceito de força e sua relação com o movimento dos corpos, o filósofo grego Aristóteles formulou uma teoria na qual a força aplicada sobre um objeto era diretamente proporcional à sua velocidade. Além disso, a velocidade era inversamente proporcional à resistência que o meio oferecia ao movimento do corpo.
Na página 50, ao discutir a primeira lei de Newton, explique que, embora essa lei tenha sido enunciada e sistematizada por Newton, o primeiro pensador a verificar essa propriedade dos corpos foi o cientista italiano Galileu Galilei. O objetivo de Galileu era analisar uma das teorias de Aristóteles, a de que o movimento dos corpos existe somente mediante uma força. Galileu, contudo, constatou que a tendência dos corpos é manter o estado natural de repouso ou de movimento em linha reta mesmo na ausência de forças.
Comente que a massa representa uma constante de proporcionalidade entre a força e a aceleração adquirida pelo corpo, denominada massa inercial. A massa determinada pela força que atua sobre o corpo em um campo gravitacional, isto é, medido pela força peso sobre o objeto, denomina-se massa gravitacional. No entanto, para os dois efeitos, massa inercial e gravitacional apresentam o mesmo valor.
Ao trabalhar a terceira lei de Newton, apresente aos estudantes o vídeo Skate: ação e reação (3ª lei de Newton), do Canal Futura, que mostra a manobra de skate de acordo com a ação e reação de Newton. Disponível em: https://s.livro.pro/zsmqvp. Acesso em: 2 out. 2024. Com esse tipo de abordagem, os estudantes são capazes de analisar situações que envolvam sua cultura, de modo que podem relacioná-las ao conhecimento científico por meio de ferramentas que fazem parte das culturas juvenis.
É importante enfatizar que as interações de ação e reação acontecem em corpos distintos, portanto elas nunca se anularão. Explique também que, mesmo que os corpos tenham dimensões e quantidades de massa diferentes, as forças de ação e reação terão a mesma intensidade.
Comente que a força de tração, definida na página 57, provém das forças de ligação entre os átomos que constituem a corda, de natureza eletromagnética. Ao puxarmos uma corda, a tendência é afastarmos os elementos dos quais ela é constituída. É importante salientar que as forças normal e de tração não são determinadas por uma função ou equação, como a força peso, e sim pelas condições e situações do sistema analisado.
Integrando o conhecimento
A decomposição das forças que agem em um bloco em um plano inclinado, na página 56, favorece um trabalho integrado com o professor do componente curricular de Matemática. É essencial que os estudantes compreendam que a decomposição vetorial é uma operação matemática em que determinado vetor é dividido em dois vetores componentes ortogonais, paralelos aos eixos x e y, respectivamente. A imagem a seguir ilustra a decomposição de um vetor em suas componentes x e y.
Aplica-se a trigonometria para obter o módulo dos vetores componentes ortogonais, de modo que:
'F' subscrito x é igual a 'F' vezes cos teta e 'F' subscrito y é igual a 'F' vezes sen teta
em que 'F' subscrito x e 'F' subscrito y são, respectivamente, o módulo das componentes horizontal e vertical.
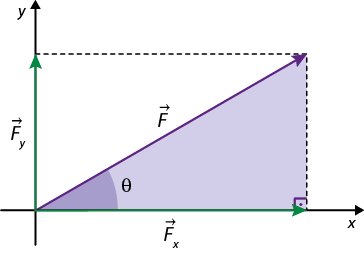
Página XXXVII
De acordo com a regra do paralelogramo para a soma vetorial, nota-se que o vetor é a resultante da soma dos vetores componentes, isto é, expressão com detalhe acima, início da expressão, 'F', fim da expressão, início do detalhe acima, seta para a direita, fim do detalhe acima é igual a expressão com detalhe acima, início da expressão, 'F', fim da expressão, início do detalhe acima, seta para a direita, fim do detalhe acima subscrito x mais expressão com detalhe acima, início da expressão, 'F', fim da expressão, início do detalhe acima, seta para a direita, fim do detalhe acima subscrito y, cujo módulo é obtido pela relação de Pitágoras 'F' é igual a início de raiz quadrada; 'F' subscrito x elevado ao quadrado mais 'F' subscrito y elevado ao quadrado fim de raiz quadrada.
Acompanhando a aprendizagem
Após abordar o conteúdo da página 58, organize os estudantes em duplas para debaterem o tema. A fim de instigar e nortear a discussão, faça perguntas como: "Em uma colisão, o que acontece com quem usa o cinto de segurança? E com quem não o utiliza?"; "Por que a pessoa que usa o cinto de segurança não é lançada para a frente?"; "Por que a pessoa que não o utiliza é lançada para a frente?". Após a discussão, peça-lhes que socializem suas conclusões com todos os colegas.
Atividade extra
Se for conveniente, ao trabalhar o efeito da aceleração sobre um corpo sujeito à determinada força resultante, proponha uma disputa de Cabo de guerra. Para isso, utilize uma corda de 10 metros de comprimento que seja resistente o bastante para não se romper.
1. Amarre uma fita no meio do comprimento da corda.
2. Em relação a essa fita, use um giz para marcar a posição referente a 2 metros à direita e a posição referente a 2 metros à esquerda.
3. Organize a turma em dois grupos. Cada grupo deverá puxar uma extremidade da corda.
4. O grupo vencedor é o que conseguir fazer a fita ultrapassar a respectiva marcação.
Com essa dinâmica, explique aos estudantes que a corda se movimenta para o lado que a puxou com força de maior intensidade, isto é, a força resultante sobre a corda atua no mesmo sentido da variação de movimento sofrida por ela.
Explique que, caso os dois grupos puxassem a corda com a mesma intensidade, a força resultante seria nula e a corda não entraria em movimento, ou seja, ficaria em repouso, exemplificando, portanto, a primeira lei de Newton.
Ligado no tema - páginas 58 e 59
Objetivos
- Compreender a importância dos dispositivos de segurança.
- Explicar de que forma conceitos físicos, como a inércia, são aplicados na segurança veicular.
Orientações
Inicie com um debate com os estudantes sobre a importância da segurança no trânsito. Para isso, eles devem considerar os dados fornecidos no texto sobre a mortalidade causada por acidentes de trânsito no Brasil. Também é possível iniciar perguntando se eles usam cinto de segurança e por quais motivos fazem isso.
Questione-os a respeito da relação entre a primeira lei de Newton e os equipamentos de segurança dos carros. Incentive-os a responder às questões de reflexão. Para finalizar a atividade, solicite aos estudantes que elaborem campanhas de conscientização sobre segurança no trânsito, que podem ser apresentadas depois para a escola ou para a comunidade.
BNCC em contexto
Abordar a aplicabilidade dos conceitos físicos estudados por meio das leis de Newton para o desenvolvimento de equipamentos de segurança, visando à resolução de problemas relacionados à vida, contempla a Competência geral 2 e o tema contemporâneo transversal Educação para o trânsito além de contribuir para desenvolver a habilidade EM13CNT306.
A questão b da página 59 incentiva os estudantes a agir coletivamente a fim de tomar decisões com base em princípios éticos e solidários, contribuindo para desenvolver a Competência geral 10.
Resposta
c ) Resposta pessoal. Essa questão incentiva os estudantes a expor seus conhecimentos prévios. Eles podem comentar que o uso da cadeirinha no Brasil passou a ser obrigatório em 2008. De acordo com os números oficiais apresentados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a quantidade de crianças hospitalizadas em estado grave após se envolverem em acidentes veiculares caiu 33% nos últimos oito anos, ao passo que a quantidade de óbitos teve uma queda de quase 20%. A cadeirinha mantém a criança no assento traseiro do veículo, evitando que seu corpo seja ejetado para a frente.
A atividade 8 da página 69 permite o trabalho integrado com os componentes curriculares de Geografia e Biologia. Os professores desses componentes podem comentar com os estudantes a importância do monitoramento via satélite para a preservação do ambiente.
Respostas - Páginas 60 e 61
4. a ) Espera-se que os estudantes produzam um esquema como o mostrado a seguir.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
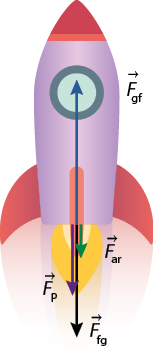
6. 'F' é igual a 'm' vezes a implica em 18 é igual a a vezes 0 vírgula 450 portanto a é igual a 40 metros por segundo elevado ao quadrado
9. Primeiramente, é preciso saber a intensidade da força expressão com detalhe acima, início da expressão, 'F', fim da expressão, início do detalhe acima, seta para a direita, fim do detalhe acima. Para isso, pode-se aplicar a segunda lei de Newton.
'F' é igual a 'm' subscrito lotado vezes a subscrito lotado implica em 'F' é igual a 20.000 vezes 5 portanto 'F' é igual a 100.000 newtons
Como a mesma intensidade de força é aplicada no ônibus vazio, tem-se:
'F' é igual a 'm' subscrito vazio vezes a subscrito vazio implica em 100.000 é igual a 16.000 vezes a subscrito vazio implica em portanto a subscrito vazio é igual a 6 vírgula 25 metros por segundo elevado ao quadrado
Página XXXVIII
10. Nessa situação, na caixa agem as seguintes forças:
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

Logo, tem-se:
'F' subscrito P é igual a 'F' subscrito N mais 'F' subscrito T implica em 70.000 é igual a 'F' subscrito N mais 10.000 portanto 'F' subscrito N é igual a 60.000 newtons
Respostas - Páginas 68 e 69
1. A intensidade da força gravitacional 'F' é dada por:
'F' é igual a início de fração, numerador: G vezes M maiúsculo vezes 'm' minúsculo, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração
Caso a distância entre eles fosse dobrada e a massa dos corpos fosse diminuída para a metade:
'F' linha é igual a início de fração, numerador: G vezes M maiúsculo sobre 2 vezes 'm' minúsculo sobre 2, denominador: abre parênteses 2 vezes d fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'F' linha é igual a início de fração, numerador: G vezes início de fração, numerador: M maiúsculo vezes 'm' minúsculo, denominador: 4, fim de fração, denominador: 4 vezes d elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'F' linha é igual a início de fração, numerador: G vezes M maiúsculo vezes 'm' minúsculo, denominador: 16 vezes d elevado ao quadrado, fim de fração implica em
implica em 'F' linha é igual a 1 16 avos vezes início de fração, numerador: G vezes M maiúsculo vezes 'm' minúsculo, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'F' linha é igual a 'F' sobre 16
5. A aceleração da gravidade na altura da peça é dada por:
'g' minúsculo subscrito p é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes M, denominador: abre parênteses R mais 'h' fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'g' minúsculo subscrito p é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes M, denominador: abre parênteses R mais 4 vezes R fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'g' minúsculo subscrito p é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes M, denominador: 25 vezes R elevado ao quadrado, fim de fração implica em
implica em 'g' subscrito p é igual a início de fração, numerador: 9 vírgula 8, denominador: 25, fim de fração implica em 'g' subscrito p é aproximadamente igual a 0 vírgula 4 portanto 'g' subscrito p é igual a 0 vírgula 4 metro por segundo elevado ao quadrado
Então, a força peso atuando sobre a peça é dada por:
'F' subscrito P é igual a 'm' vezes 'g' subscrito p é igual a 25 vezes 0 vírgula 4 portanto 'F' subscrito P é igual a 10 newtons
7. Espera-se que os estudantes façam um esquema como o mostrado a seguir.
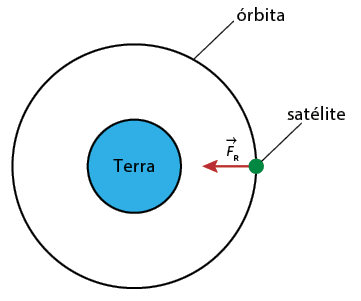
8. A intensidade da aceleração gravitacional pode ser calculada por:
'g' minúsculo é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes M, denominador: abre parênteses R subscrito T mais 'h' fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em 'g' minúsculo é igual a início de fração, numerador: abre parênteses 6 vírgula 67 vezes 10 elevado a menos 11 fecha parênteses vezes abre parênteses 5 vírgula 97 vezes 10 elevado a 24 fecha parênteses, denominador: abre parênteses 6 vírgula 4 vezes 10 elevado a 6 mais 0 vírgula 75 vezes 10 elevado a 6 fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em
implica em 'g' é igual a início de fração, numerador: 39 vírgula 82 vezes 10 elevado a 13, denominador: 5 vírgula 11 vezes 10 elevado a 13, fim de fração portanto 'g' é aproximadamente igual a 7 vírgula 8 metros por segundo elevado ao quadrado
9. 02) Falsa. Os satélites se mantêm em órbita em razão da força gravitacional que atua sobre eles. 16) Falsa. Os satélites artificiais obedecem às leis de Kepler.
11. Aplicando a lei da gravitação universal, temos que a gravidade do planeta descoberto é dada por:
'g' minúsculo subscrito p é igual a início de fração, numerador: G maiúsculo vezes 5 vezes M, denominador: abre parênteses 2 vezes R subscrito T fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 5 vezes G maiúsculo vezes M, denominador: 4 vezes R subscrito T elevado ao quadrado, fim de fração é igual a 5 quartos vezes 'g' minúsculo é igual a 5 quartos vezes 9 vírgula 8 é igual a 12 vírgula 25 implica em
implica em portanto 'g' subscrito p é igual a 12 vírgula 25 metros por segundo elevado ao quadrado
12. A intensidade da força gravitacional é igual à da força centrípeta, logo:
'F' subscrito G é igual a 'F' subscrito c p implica em 'F' subscrito G é igual a início de fração, numerador: 'm' vezes v elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração
A intensidade da força gravitacional, a uma distância de 1 vírgula 57 vezes 10 elevado a 20 m do centro da massa da estrela, pode ser obtida pela leitura do gráfico, sendo igual a 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a 20 N. Substituindo na expressão anterior:
1 vírgula 5 vezes 10 elevado a 20 é igual a início de fração, numerador: 5 vezes 10 elevado a 30 vezes v elevado ao quadrado, denominador: 1 vírgula 57 vezes 10 elevado a 20, fim de fração implica em v é igual a início de raiz quadrada; início de fração, numerador: 2 vírgula 35 vezes 10 elevado a 40, denominador: 5 vezes 10 elevado a 30, fim de fração fim de raiz quadrada implica em
implica em v é igual a 0 vírgula 686 é igual a vezes 10 elevado a 5 portanto v é igual a 6 vírgula 86 vezes 10 elevado a 4 metro barra s
Capítulo 5 - Movimentos na Terra - páginas 70 a 83
Objetivos do capítulo
- Descrever o movimento de queda livre e as condições em que ele ocorre.
- Comparar as interpretações históricas do movimento de queda livre do filósofo grego Aristóteles e do cientista italiano Galileu Galilei.
- Aplicar as equações do movimento uniformemente variado (MUV) para descrever o movimento de queda livre.
- Identificar os componentes horizontal e vertical do movimento oblíquo.
Páginas 70 a 81
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 70 a 81 fornece subsídios para que os estudantes elaborem explicações e previsões sobre os movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, o que contribui para desenvolver a habilidade EM13CNT204 e a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2.
Além disso, o trabalho com essas páginas desenvolve a Competência geral 2, pois possibilita à turma exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem da Ciência.
Descrever a trajetória de um projétil em movimento oblíquo.
Ao abordar os experimentos de Galileu na página 71, ressalte que não há consenso entre os historiadores com relação a eles. Contudo, o mérito de suas conclusões está, justamente, em dar visibilidade a antigas discussões teóricas por meio de exemplos impactantes e concretos. Desse modo, a compreensão de que o movimento de queda pode ser estudado por meio da análise do movimento em planos inclinados consistiu em um grande avanço tanto para o estudo de movimentos acelerados quanto para a compreensão da gravitação universal.
Página XXXIX
Compartilhe ideias – página 71
Retome o método científico, lembrando-os das etapas do processo, como formulação de hipóteses, testes, observação e conclusão, para auxiliá-los na análise investigativa. Oriente-os durante a atividade de investigação, incentivando a troca de ideias e a identificação dos pontos fundamentais para a solução do problema.
Esse boxe promove a empatia, a troca de ideias e o respeito às opiniões dos colegas, desenvolvendo, assim, a Competência geral 9. Além disso, proporciona uma oportunidade para explorar o pensamento computacional dos estudantes. Esse pensamento inclui a decomposição do problema em partes menores, o reconhecimento de padrões, a análise dos dados e a solução do problema utilizando os elementos obtidos nos processos anteriores.
Resposta
a ) Os estudantes podem concluir que a folha aberta tem mais área de contato com o ar, sofrendo também mais influência da força de resistência do ar. Os corpos, quando se movem pelo ar, experimentam uma resistência ao movimento, reduzindo sua velocidade, o que chamamos de resistência do ar, oposta ao movimento dos corpos. Essa força depende da área frontal do objeto em queda, ou seja, a quantidade de ar que o objeto retira de seu caminho quando cai e da velocidade de queda do objeto em relação ao meio (quanto maior a velocidade, maior a força total em razão do impacto com as moléculas que compõem o meio).
O conceito de aceleração apresentado na página 72 deve ser trabalhado com cuidado, por causa do grau de abstração dessa grandeza. Recomendamos que, antes de abordar a aceleração, sejam trabalhados exemplos de movimentos variados, comuns no cotidiano dos estudantes. Peça a eles que citem movimentos que acreditam ser variados e proporcione um tempo para todos se expressarem.
BNCC em contexto
O conteúdo dessas páginas contempla a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2 e a habilidade EM13CNT204 ao trabalhar explicações e previsões a respeito dos movimentos de objetos na Terra, com base na análise das interações gravitacionais, motivando os estudantes a recorrer à abordagem científica para realizar essa análise.
Incentive os estudantes a trocar experiências ao responderem à questão 2 da página 75. Aproveite para ressaltar a simetria entre o movimento ascendente e o descendente quando não há resistência ao movimento. Se julgar conveniente, é possível reutilizar os resultados dos planos inclinados de Galileu, discutidos anteriormente, para retomar a influência de forças que podem se opor ao movimento dos corpos.
Ao abordar os conceitos de lançamento horizontal e oblíquo, explore com os estudantes as componentes dos movimentos que ocorrem em mais de uma direção. Comente que, mesmo decompondo o movimento em componentes x e y, como apresentado na página 77, o móvel descreve apenas um movimento, determinado pela soma de todas as componentes. Essa decomposição é um artifício de cálculo que auxilia a tratar o caso real, não impedindo de vermos o movimento completo.
BNCC em contexto
O conteúdo dessa página contribui para o desenvolvimento da Competência geral 2, pois incentiva os estudantes a recorrer à abordagem própria das Ciências, incluindo a investigação, a reflexão e a análise crítica para investigar causas e elaborar hipóteses.
Além disso, contempla a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2 e a habilidade EM13CNT204 ao trabalhar explicações e previsões a respeito dos movimentos de objetos na Terra com base na análise das interações gravitacionais.
Ao trabalhar as representações gráficas da página 78, comente com os estudantes que o gráfico x y é um referencial independente do tempo, por isso a trajetória é traçada de forma completa (do começo ao fim do movimento). Mas, em todos os casos, é sempre possível fazer gráficos que representem a evolução temporal de cada uma das coordenadas, traçando gráficos das respectivas funções horárias.
Enfatize que a diferença entre lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo é a direção da velocidade inicial.
No gráfico x y, a direção da velocidade é definida pelo aumento ou diminuição do ângulo teta. Quanto maior for essa inclinação, maior será a componente y em comparação à x, configurando um lançamento que tende a ser vertical. Se o valor de teta for pequeno, o lançamento tenderá a ser horizontal.
Integrando o conhecimento
A abordagem histórica das diferentes visões sobre o movimento de queda dos corpos possibilita trabalhar com professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, permitindo conhecer diferentes pensamentos científicos e sua importância para a construção da aprendizagem. Assim, os professores de ambas as áreas de conhecimento exploram as concepções científicas de maneira histórica e epistemológica, desenvolvimento, assim, a Competência específica de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 1 e a Competência geral 1, pois valoriza os conhecimentos historicamente construídos.
Se for interessante, proponha ao professor do componente curricular de História uma atividade de pesquisa para que os estudantes compreendam mais detalhadamente o que fundamentava ambas as visões. Vocês podem organizá-los em dois grupos, assim cada um deve pesquisar um pensamento. Depois, um grupo apresenta as informações obtidas para o outro. Os estudantes podem apresentá-las com auxílio de recursos digitais, produzindo, eles mesmos, um documentário. Para isso, é possível gravar um vídeo, elaborar um podcast, entre outras possibilidades, o que desenvolve a Competência geral 4 ao compreender, manipular e criar tecnologias digitais de informação nas práticas escolares. Nesse tipo de abordagem, eles utilizam ferramentas que fazem parte das culturas juvenis para divulgar conhecimentos científicos.
Prática científica - página 79
Objetivos
- Entender o conceito de queda livre e o lançamento horizontal.
- Identificar fatores que influenciam o movimento de queda.
Página XL
Orientações
Essa é uma atividade com materiais simples, mas com grande potencial para que os estudantes verifiquem a diferença entre queda livre e lançamento horizontal. É possível aproveitar a atividade prática para explicar que a velocidade é uma grandeza vetorial, a qual tem direção, sentido e módulo. Também é possível abordar o lançamento horizontal, decompondo o vetor velocidade, e demonstrar, teoricamente, que, mesmo que a régua tenha dado velocidade horizontal para uma das moedas, o tempo de queda das duas é o mesmo. Assim, conclui-se que, embora dois corpos descrevam trajetórias diferentes, eles chegam juntos ao solo em razão da mesma aceleração, a qual nesse caso é a gravitacional. Além disso, nessa prática é possível calcular a aceleração da gravidade, medindo a altura da mesa, o alcance e o tempo de queda.
Incentive os estudantes a responder à questão do texto da contextualização, de modo que fique claro que devem elaborar hipóteses sobre a queda dos corpos.
Conexões com... - páginas 80 e 81
Objetivos
- Entender a problemática do lixo espacial e sua interferência no cotidiano.
- Explorar soluções para diminuir o lixo espacial.
Orientações
Inicie a aula apresentando a manchete "Lixo espacial é problema crescente com soluções difíceis" e discuta brevemente com os estudantes sobre o que eles entendem por lixo espacial. Mostre algumas ilustrações que representem a superfície terrestre, os foguetes, os satélites e os detritos espaciais, a fim de visualizarem o problema. Se possível, acesse com eles a plataforma Leolabs, que mostra em tempo real todos os satélites em volta da Terra, disponível em: https://s.livro.pro/9j2vhv. Acesso em: 29 set. 2024. Proponha uma discussão em sala de aula sobre as razões do acúmulo de lixo espacial e os impactos potenciais em satélites operacionais e na Estação Espacial Internacional (EEI).
Respostas - Páginas 82 e 83
1. I ) Incorreta. A altura máxima só depende da velocidade inicial. Como as velocidades iniciais e a altura inicial são iguais, a altura máxima também será a mesma.
II ) Correta.
III ) Incorreta. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade das esferas é nula, porém a aceleração é sempre constante, e não nula (aproximadamente 9 vírgula 8 metros por segundo elevado ao quadrado), durante a trajetória.
2. A velocidade atingida pelo paraquedista em 50 segundos de queda é dada por:
v é igual a v subscrito 0 mais a vezes 't' é igual a 0 mais 9 vírgula 7 vezes 50 portanto v é igual a 485 metros por segundo
Transformando a velocidade para quilômetro por hora:
v é igual a 485 vezes 3 vírgula 6 portanto v é igual a 1.746 quilômetros por hora
O valor obtido no cálculo é maior do que o valor real atingido, pois no cálculo se considera um movimento de queda livre sob ação apenas da força da gravidade sem resistência do ar.
3. O tempo de queda pode ser obtido por:
y é igual a início de fração, numerador: 'g' vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em 10 é igual a início de fração, numerador: 10 vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em 't' elevado ao quadrado é igual a início de fração, numerador: 2 vezes 10, denominador: 10, fim de fração implica em
implica em 't' é aproximadamente igual a 1 vírgula 41 portanto 't' é aproximadamente igual a 1 vírgula 41 segundo
A velocidade na queda livre é dada por:
v é igual a v subscrito 0 mais 'g' vezes 't' implica em v é igual a 0 mais 10 vezes 1 vírgula 41 implica em
implica em v é igual a 14 vírgula 1 portanto v é igual a 14 vírgula 1 metros por segundo
5. a ) Na altura máxima da trajetória, ocorre a inversão no sentido do movimento, e a velocidade se anula.
b ) No lançamento vertical, os corpos estão sujeitos à ação da força gravitacional, portanto a aceleração é a da gravidade, a qual permanece constante durante todo o movimento.
c ) Durante a descida, o corpo também executa um MRUV, mas este é um MRUV acelerado.
d ) Desprezando a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, portanto o objeto retorna à posição inicial no instante que equivale ao dobro do tempo de subida.
e ) Como a aceleração é constante e os tempos de subida e descida são iguais, as velocidades em uma mesma posição têm o mesmo módulo, apenas os sentidos de movimento são diferentes.
6. A velocidade de queda, desconsiderando a resistência do ar, é dada por:
v é igual a início de raiz quadrada; 2 vezes g vezes H fim de raiz quadrada é igual a início de raiz quadrada; 2 vezes 10 vezes 828 fim de raiz quadrada é igual a raiz quadrada de 16.560 implica em
implica em portanto v é igual a 128 vírgula 1 metros por segundo
Convertendo a velocidade real para metro por segundo:
v subscrito real é igual a 94 vírgula 3 quilômetros por hora é igual a 26 vírgula 2 metros por segundo
Então, a razão entre as velocidades é:
início de fração, numerador: v, denominador: v subscrito real, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 128 vírgula 1, denominador: 26 vírgula 2, fim de fração portanto início de fração, numerador: v, denominador: v subscrito real, fim de fração é aproximadamente igual a 4 vírgula 9
7.
01 ) Correta.
02 ) Correta.
04 ) Incorreta. A velocidade vertical com que ambos atingem o solo é a mesma, porém o objeto lançado horizontalmente tem uma componente horizontal de velocidade não nula. Portanto, o módulo da velocidade de ambos ao atingirem o solo é diferente.
08 ) Correta.
16 ) Incorreta. A componente horizontal do objeto lançado horizontalmente executa um movimento uniforme, enquanto sua componente vertical executa um movimento uniformemente variado.
8. O tempo em que a bola de golfe permanece no ar pode ser obtido usando a função horária da velocidade para um MRUV:
v subscrito y é igual a v início subscrito, 0 subscrito y, fim subscrito menos 'g' vezes 't' implica em 0 é igual a 50 vezes sen 30 graus menos 10 vezes 't' subscrito subida implica em
implica em 0 é igual a 25 menos 10 vezes 't' subscrito subida implica em 't' subscrito subida é igual a 25 sobre 10 portanto 't' subscrito subida é igual a 2 vírgula 5 segundos
Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, quando desprezada a resistência do ar, tem-se:
't' subscrito total é igual a 't' subscrito subida mais 't' subscrito descida implica em 't' subscrito total é igual a 2 vírgula 5 mais 2 vírgula 5 portanto 't' subscrito total é igual a 5 vírgula 0 segundos
A distância horizontal percorrida pode ser calculada usando a função horária das posições para um MRU, então:
x é igual a x subscrito 0 mais v subscrito x vezes 't' implica em x é igual a 0 mais 50 vezes cos 30 graus vezes 5 implica em
implica em x é igual a 50 vezes 0 vírgula 87 vezes 5 portanto x é igual a 217 vírgula 5 metros
9. a ) A função horária da velocidade é obtida por:
v é igual a v subscrito 0 mais a vezes 't' portanto v é igual a 10 vezes 't'
Já a função horária para a posição do objeto é dada por:
's' é igual a 's' subscrito 0 mais v subscrito 0 vezes 't' mais início de fração, numerador: a vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração portanto 's' é igual a 5 vezes 't' elevado ao quadrado
b ) Para montar a tabela, devemos substituir os valores do tempo nas equações horárias.
Página XLI
Para 't' é igual a 0, temos que v é igual a 0 e 's' é igual a 0.
Para 't' é igual a 0 vírgula 4 segundo, temos:
v é igual a 10 vezes 0 vírgula 4 portanto v é igual a 4 metros por segundo
's' é igual a 5 vezes 't' elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 0 vírgula 4 elevado ao quadrado portanto 's' é igual a 0 vírgula 8 metro
Para 't' é igual a 0 vírgula 8 segundo, temos:
v é igual a 10 vezes 0 vírgula 8 portanto v é igual a 8 metros por segundo
's' é igual a 5 vezes 't' elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 0 vírgula 8 elevado ao quadrado portanto 's' é igual a 3 vírgula 2 metros
Retome o que estudou - página 83
Respostas
1. A principal inovação no modelo proposto pelo matemático e astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543) foi a de substituir o foco do Universo, considerando o Sol como o centro das órbitas planetárias. Além disso, ele revolucionou a Astronomia ao simplificar as órbitas planetárias, mais tarde validadas por Galileu e pelo matemático alemão Johannes Kepler (1571-1630), fazendo o modelo heliocêntrico ser aceito.
2. A formação de um sistema planetário geralmente começa em uma nuvem de gás e poeira, chamada nebulosa. A gravidade leva essa nuvem a colapsar. À medida que a temperatura e a pressão aumentam, inicia-se a fusão nuclear, transformando hidrogênio abre parênteses H fecha parênteses em hélio abre parênteses H e fecha parênteses e liberando grande quantidade de energia. O material restante da nebulosa começa a se aglutinar e formar planetas, luas e demais corpos que constituem o sistema planetário.
3. A velocidade é uma grandeza vetorial que indica a taxa de variação da posição de um objeto em relação ao tempo e tem direção e sentido. A aceleração, por outro lado, é a taxa de variação da velocidade de um objeto em relação ao tempo, além de ser uma grandeza vetorial. Se a aceleração for positiva, a velocidade do objeto estará aumentando; se for negativa, a velocidade estará diminuindo.
4. As leis de Newton descrevem que os objetos não mudam seu estado de movimento a menos que uma força externa atue sobre eles, além de entender como as forças afetam o movimento dos corpos e como as forças atuam aos pares, analisando as interações entre objetos.
Já o uso do cinto de segurança é importante porque ele reduz o risco de lesões em caso de acidente. Em uma colisão, o corpo do ocupante tende a continuar se movendo com a mesma velocidade do veículo. Nesse caso, o cinto de segurança aplica uma força sobre o corpo, diminuindo a velocidade do ocupante gradualmente e reduzindo o impacto, o que mantém o corpo em uma posição segura.
5. É caracterizado pela aceleração constante por causa da gravidade, que faz o objeto cair em direção à Terra. Desprezando a resistência do ar, a única força atuante sobre o corpo durante a queda é a força gravitacional, fazendo a velocidade do objeto aumentar constantemente com o tempo.
Unidade 2 A Física e a vida na Terra
Objetivos da unidade
- Analisar a natureza do campo magnético terrestre e sua importância para a vida na Terra.
- Calcular a interação entre cargas elétricas e o campo magnético por meio da força magnética.
- Conhecer alguns instrumentos de observação e identificar qual é mais eficiente para visualizar determinados objetos.
- Explicar como ocorrem os fenômenos ópticos: reflexão e refração.
- Compreender o funcionamento dos instrumentos ópticos, relacionando com os fenômenos ópticos.
Justificativas
A análise da natureza e das propriedades do campo magnético da Terra permite aos estudantes reconhecer sua importância para a vida no planeta, contribuindo para desenvolver as habilidades EM13CNT209 e EM13CNT202. Já a compreensão dos processos tecnológicos e desenvolvimento de equipamentos de observação contribuem para o desenvolvimento das Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 2 e das Competências gerais 1 e 2, assim como do tema contemporâneo transversal Ciência e tecnologia.
Além disso, abordar fenômenos naturais com base na interação da luz com a matéria e as propriedades específicas de materiais contribui para desenvolver a habilidade EM13CNT307.
Abertura da unidade - páginas 88 e 89
Solicite aos estudantes que observem a imagem da página 89 e, antes de abordar seu conteúdo, tentem explicar do que se trata. Verifique se eles identificam que se trata do Sol. Em seguida, pergunte como eles acham que essa imagem foi obtida. Depois, incentive-os a ler a legenda da imagem e comente a respeito dos nomes das sondas espaciais: SDO é a sigla em inglês para Solar Dynamics Observatory (Observatório da Dinâmica Solar); já SOHO é a sigla em inglês para Solar and Heliospheric Observatory (Observatório Solar e Heliosférico).
Posteriormente, promova uma leitura em conjunto dos textos da página 88 e verifique os conhecimentos que eles têm sobre a radiação solar e sua interação com a Terra. Incentive-os a registrar seus conhecimentos prévios e as discussões sobre as questões para, ao final da unidade, retomá-los e alterá-los conforme seu aprendizado.
Respostas
a ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é resgatar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o campo magnético terrestre. Eles podem citar que, sem o campo magnético, provavelmente a Terra não teria condições de abrigar vida, pois as partículas provenientes do Sol poderiam interferir na atmosfera e na superfície terrestre, além de que a radiação e as partículas de alta energia poderiam danificar tecidos vivos.
b ) O objetivo dessa questão é resgatar os conhecimentos dos estudantes sobre o eletromagnetismo. Eles podem citar que as partículas carregadas em movimento geram um campo magnético em torno delas que interage com o campo magnético da Terra.
c ) O objetivo dessa questão é resgatar os conhecimentos dos estudantes sobre instrumentos de observação. Eles podem responder que as sondas espaciais e outros instrumentos de observação devem ter espelhos e/ou lentes para captar a luz proveniente do corpos celestes.
Página XLII
Capítulo 6 - Campo magnético terrestre - páginas 90 a 100
Objetivos do capítulo
- Compreender a natureza do campo magnético terrestre, diferenciando polo geográfico de polo magnético.
- Reconhecer o magnetismo como fenômeno natural e algumas de suas aplicações tecnológicas.
- Relacionar o campo magnético com a corrente elétrica.
- Analisar e calcular a interação entre as cargas elétricas e o campo magnético por meio da força magnética.
Páginas 90 a 98
BNCC em contexto
A apresentação da estrutura do planeta Terra e das características do campo magnético terrestre na páginas 90 a 92 contribui para o desenvolvimento das Competências gerais 1, 2 e 7 ao fazer uma construção histórica do conhecimento sobre o tema, além das Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 2. A abordagem dessas páginas contribui para o desenvolvimento da habilidade EM13CNT201, pois possibilita aos estudantes descobrir o processo de formação da Terra e reconhecer como funciona o núcleo do planeta, e das habilidades EM13CNT202, EM13CNT205 e EM13CNT209 quando os leva a entender o comportamento dos campos magnéticos terrestres.
Na página 90, a abordagem da origem do campo magnético da Terra por meio da análise de um filme de ficção contribui para aproximar os conhecimentos científicos do universo das culturas juvenis, levando os estudantes a desenvolver uma postura crítica diante desse tipo de mídia ao explicar que o núcleo do planeta é sólido. Enfatize para os estudantes que as teorias a respeito da constituição interna da Terra provêm da análise de dados sísmicos, ou seja, trata-se de modelos, e não de observação direta.
Na página 91, quando apresentar a representação esquemática do campo magnético da Terra, explique aos estudantes que não há um grande ímã na superfície terrestre. O objetivo desse esquema é representar como o campo magnético da Terra está orientado em relação ao planeta.
Atividade extra
Para que os estudantes verifiquem as propriedades magnéticas de alguns objetos, proponha a atividade a seguir. Em grupos de no máximo quatro integrantes, peça-lhes que observem quais materiais são atraídos por um ímã. Para isso, providencie antecipadamente um ímã e objetos de materiais diferentes, como borracha escolar, régua, lápis e clipe. Coloque o objeto sobre uma mesa e aproxime dele o ímã. Em seguida, depois de identificar qual dos objetos sofre atração, escolha um deles e veja a possibilidade de colocar diversos em sequência. Aproxime o ímã do primeiro e observe o que acontece com os demais. Conversem sobre a atividade realizada e anotem suas conclusões.
Peça aos estudantes que registrem no caderno os materiais utilizados e como eles interagiram com os ímãs.
Integrando o conhecimento
Ao abordar os temas da página 92, combine com o professor do componente curricular de Biologia uma atividade de pesquisa com os estudantes sobre a magnetorrecepção. Solicite que pesquisem animais que possuem esse sentido e que produzam cartazes com as características desses animais. Por fim, aplique a estratégia de metodologia ativa Gallery Walk para que eles apresentem os materiais produzidos para os colegas. Para isso, veja mais orientações sobre essa estratégia nas páginas XI e XII destas Orientações para o professor.
Na página 93, leve ímãs em barra e permita aos estudantes que investiguem na prática as propriedades de atração e repulsão dos ímãs.
Compartilhe ideias - página 95
Essa atividade contribui para desenvolver o pensamento computacional. Oriente os estudantes a identificar cada uma das etapas para a montagem do aparato, criando um organograma completo da estratégia, o qual deve incluir as etapas de levantamento de hipóteses, coleta de materiais, montagem, procedimentos de imantação, verificações, possíveis problemas e suas soluções, conclusão e divulgação científica.
Conexões com... - página 96
Objetivo
Identificar a importância do conhecimento das propriedades magnéticas dos materiais para o desenvolvimento da humanidade.
Orientações
Combine com os professores de História e de Geografia para que eles comentem com os estudantes a relevância da bússola nas Grandes Navegações e como atualmente ela vem sendo substituída por novas tecnologias, que possibilitam a navegação marítima, aérea ou terrestre mesmo sem visibilidade alguma, pois o aparelho GPS (Sistema de Posicionamento Global, em português) fornece todas as informações sobre altitude, longitude e latitude em tempo real. Esse sistema de orientação utiliza as transmissões via satélite, por meio de ondas eletromagnéticas, para obter informações precisas sobre a localização em qualquer ponto da Terra. Os simuladores digitais disponíveis na internet são ferramentas da cultura juvenil que contribuem para aproximar o conhecimento científico do cotidiano dos estudantes.
Se julgar necessário, acesse o site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para mais informações sobre a invenção da bússola. Disponível em: https://s.livro.pro/hw1i0a. Acesso em: 15 out. 2024.
BNCC em contexto
O trabalho com temas sobre o campo magnético e a vida na Terra e em Marte contribui para o desenvolvimento da Competência geral 1, pois envolve fenômenos que afetam o ambiente terrestre e o potencial de vida fora dela. Além disso, o entendimento dos conceitos científicos voltados às informações complexas sobre Física e Astronomia contribui para o trabalho com a Competência geral 4.
Ao conhecer o aspecto consciente socioambiental, os estudantes podem compreender que o campo magnético desempenha um papel de proteção, o que contribui para o desenvolvimento da Competência geral 7.
Página XLIII
Ao discutirem os efeitos das radiações solares e o papel do campo magnético na manutenção da atmosfera, além de entenderem a descrição do movimento das partículas provenientes dos ventos solares e suas interações com o campo magnético da Terra, os estudantes desenvolvem a compreensão das interações gravitacionais e eletromagnéticas, o que contribui para o desenvolvimento das habilidades EM13CNT103, EM13CNT105 e EM13CNT204.
Prática científica - página 98
Objetivos
- Observar os formatos de linhas de campos gerados por diferentes ímãs.
- Identificar o efeito dos diferentes tipos de materiais utilizados como suporte da limalha de ferro abre parênteses Fe fecha parênteses nos campos magnéticos gerados.
Orientações
Incentive os estudantes a usar fundamentos do pensamento computacional para encontrar maneiras de observar e registrar as linhas do campo magnético de diferentes ímãs, contribuindo para desenvolver o pensamento computacional. O objetivo é levá-los a considerar importantes aspectos que devem ser observados no decorrer da investigação.
Oriente-os para que não inspirem a limalha de ferro.
Os ímãs e a limalha de ferro devem ser guardados e armazenados para utilizar em outras investigações. Já a folha de papel sulfite pode ser encaminhada para a coleta seletiva.
Respostas - Páginas 99 e 100
1. I) Incorreta. O polo Sul geográfico coincide, aproximadamente, com a posição do polo Norte magnético, pois atrai o polo Sul de um ímã. II) Correta. III) Correta. IV) Incorreta. As linhas de campo magnético terrestre emergem e adentram, aproximadamente, nos polos geográficos. Portanto, as regiões dos polos geográficos apresentam mais concentração de linhas de campo, sendo regiões de mais intensidade quando comparadas com a região da linha do equador.
Capítulo 7 - Eletromagnetismo - páginas 101 a 113
Objetivos do capítulo
- Descrever como correntes elétricas geram campos magnéticos e a interação desses campos com materiais, aplicando conceitos como a regra da mão direita e a lei de Ampère.
- Mostrar como solenoides e eletroímãs geram campos magnéticos, com foco em sua utilidade prática em dispositivos elétricos cotidianos, como fechaduras e motores.
- Discutir fenômenos naturais, como a interação entre ventos solares e o campo magnético da Terra.
Páginas 101 a 111
BNCC em contexto
O texto explora conceitos de eletromagnetismo como a relação entre correntes elétricas e campos magnéticos, a lei de Ampère e a regra da mão direita. Também discute o funcionamento de eletroímãs e a aplicação de campos magnéticos em fechaduras e o campo magnético do Sol, destacando tanto aspectos teóricos quanto práticos. Nesse capítulo,
são abordados conhecimentos históricos e científicos sobre eletromagnetismo e suas aplicações no cotidiano, promovendo seu uso para entender fenômenos naturais e tecnológicos. Além disso, são apresentadas diferentes linguagens científicas, como a descrição de fenômenos físicos, fórmulas matemáticas e a interpretação de vetores e símbolos, exemplificando o uso dessas linguagens para expressar ideias e compartilhar informações técnicas. Isso contribui para o desenvolvimento das Competências gerais 1, 2 e 4, além das Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 3 e das habilidades EM13CNT107, EM13CNT201, EM13CNT301 e EM13CNT302.
Se considerar necessária uma explicação mais detalhada sobre o eletroímã, abordado na página 101, diga aos estudantes que uma bobina conduzindo corrente elétrica constitui-se em um eletroímã. Uma bobina é um conjunto de espiras, ou seja, um fio condutor curvado na forma circular. A intensidade de um eletroímã pode ser aumentada simplesmente ao aumentar a corrente que flui pelo dispositivo e o número de espiras em torno do núcleo.
Atividade extra
Caso seja possível, reproduza a imagem do campo magnético produzido por um fio condutor retilíneo apresentada na página 102. Para isso, utilize uma pilha, um fio condutor, uma folha de papel sulfite e limalha de ferro ou farelo de palha de aço.
Atravesse o fio retilíneo perpendicularmente à folha de papel sulfite e espalhe a limalha de ferro sobre o papel, próximo ao fio. Em seguida, conecte o fio e a pilha e peça aos estudantes que observem a configuração da disposição da limalha de ferro sobre o papel.
Espera-se que eles percebam que a limalha se organiza de acordo com as linhas do campo magnético produzido pelo fio retilíneo.
Na página 103, ao abordar a representação do campo magnético gerado pela corrente elétrica no fio, se julgar conveniente, represente os vetores perpendiculares que entram e saem no plano da página usando uma folha de papel e um lápis. Para isso, atravesse a folha de papel com o lápis e mostre aos estudantes as duas perspectivas.
BNCC em contexto
Nas páginas 104 a 107 são apresentados conceitos de eletromagnetismo, como a formação e o comportamento de solenoides, a força magnética e a interação entre partículas carregadas e campos magnéticos, a aplicação desses conceitos em dispositivos elétricos, como motores e outros dispositivos tecnológicos, e sua relação com fenômenos. Além disso, os estudantes são incentivados a usar linguagens científicas, como fórmulas matemáticas, vetores e a regra da mão direita, favorecendo a capacidade de interpretar e utilizar diversas formas de expressão para descrever fenômenos físicos, o que caracteriza o desenvolvimento das Competências gerais 1 e 4 e da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1, além das habilidades EM13CNT107, EM13CNT301 e EM13CNT302.
Prática científica - páginas 108 e 109
Objetivos
- Aplicar conceitos de eletromagnetismo como a interação entre a corrente elétrica e o campo magnético, observando a criação de movimento.
- Desenvolver habilidades práticas durante a montagem de circuitos e a manipulação de materiais, incentivando o entendimento de como componentes simples podem ser combinados para criar um dispositivo funcional.
- Explicar a transformação de energia elétrica em energia mecânica.
Página XLIV
Orientações
Antes de iniciar a atividade, revise com os estudantes os conceitos de eletromagnetismo envolvendo corrente elétrica, campo magnético e forças que agem sobre um condutor em um campo magnético. Explique também o funcionamento básico de um motor elétrico para que os estudantes possam fazer conexão entre a teoria e a prática e identificar possíveis falhas durante a realização da atividade.
Oriente-os a prestar atenção ao que acontece quando o sentido de rotação da bobina é alterado e a posição do ímã é invertida. Isso os ajudará a fazer inferências sobre como o campo magnético afeta o movimento da bobina.
Por fim, caso o motor não funcione, incentive os estudantes a identificar problemas no circuito. Eles devem verificar a conexão dos fios, a posição do ímã e se o esmalte do fio foi completamente removido.
Todos os materiais dessa atividade podem ser reutilizados em outras atividades práticas.
Conexões com...- páginas 110 e 111
Objetivos
- Identificar como os conceitos de campo magnético, corrente elétrica e indução eletromagnética são utilizados em tecnologias médicas, auxiliando no diagnóstico e tratamento de doenças.
- Conhecer como os efeitos do eletromagnetismo podem influenciar processos químicos no corpo humano.
- Relacionar as funções biológicas, como os impulsos nervosos e a atividade elétrica do coração, com as tecnologias que utilizam eletromagnetismo para monitorar ou influenciar esses processos.
Orientações
Ao explorar o texto, explique que a ressonância magnética é baseada em princípios de eletromagnetismo (Física), enquanto o desenvolvimento de materiais como o biovidro envolve reações químicas complexas (Química) e interações biológicas (Biologia) no corpo humano. Isso reforça a importância de uma abordagem interdisciplinar nas ciências.
Incentive os estudantes a trocar ideias sobre como a utilização da ressonância magnética nuclear (RMN) e da estimulação magnética transcraniana (EMT) possibilita métodos que podem ser mais seguros e/ou eficazes em comparação a técnicas mais invasivas.
Proponha aos estudantes que reflitam sobre como a inovação científica, a exemplo do biovidro e dos robôs magnéticos, transforma o campo da Medicina. Questione sobre o que eles acham a respeito dos benefícios desses avanços e como essas tecnologias podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, peça a eles que considerem os desafios da biocompatibilidade dos materiais e da segurança no uso de novas terapias.
Respostas - Páginas 112 e 113
5. B é igual a início de fração, numerador: mi subscrito 0 vezes i, denominador: 2 vezes pi vezes R, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 4 vezes pi vezes 10 elevado a menos 7 vezes 3, denominador: 2 vezes pi vezes 24 vezes 10 elevado a menos 2, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 4 vezes 10 elevado a menos 7, denominador: 24 vezes 10 elevado a menos 2, fim de fração implica em B é igual a 0 vírgula 25 vezes 10 elevado a menos 5 portanto B é igual a 2 vírgula 5 vezes 10 elevado a menos 6 T
7. a ) B é igual a início de fração, numerador: mi subscrito 0 vezes N vezes i, denominador: 'L', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 4 vezes pi vezes 10 elevado a menos 7 vezes 20.000 vezes 10, denominador: 1, fim de fração é igual a 0 vírgula 0 8 vezes pi portanto B é igual a 0 vírgula 24 T
8. B é igual a início de fração, numerador: mi subscrito 0 vezes i, denominador: 2 vezes R, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 4 vezes pi vezes 10 elevado a menos 7 vezes 5, denominador: 2 vezes 4 vezes pi vezes 10 elevado a menos 2, fim de fração portanto B é igual a 2 vírgula 5 vezes 10 elevado a menos 5 T
9. II ) Como a velocidade da partícula é perpendicular às linhas de campo magnético, temos teta é igual a 90 graus e sen teta é igual a 1. Portanto, a intensidade da força magnética é dada por:
'F' é igual a símbolo de uma barra vertical q símbolo de uma barra vertical vezes v vezes B vezes seno teta é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 40 vezes 5 vezes 10 elevado ao cubo vezes 1 implica em
implica em 'F' é igual a 1.200 vezes 10 elevado a menos 3 portanto 'F' é igual a 1 vírgula 2 newton
10. a ) 'F' é igual a símbolo de uma barra vertical q símbolo de uma barra vertical vezes v vezes B vezes seno teta implica em 1 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 5 vezes B vezes 1 portanto B é igual a 10 T
b )
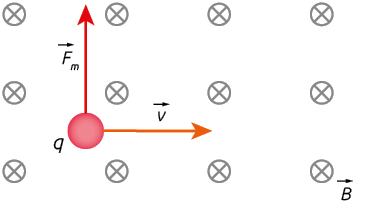
Capítulo 8 - Introdução à Óptica - páginas 114 a 126
Objetivos do capítulo
- Explicar os conceitos fundamentais relacionados à luz, sua propagação, reflexão e refração, além de introduzir os princípios da Óptica geométrica e os fenômenos ópticos associados.
- Apresentar o uso de telescópios e outros instrumentos ópticos na observação de fenômenos astronômicos e a importância das tecnologias na pesquisa e compreensão do Universo, promovendo a valorização do conhecimento técnico e científico.
- Abordar as contribuições históricas de cientistas para a compreensão da luz e a evolução dos instrumentos ópticos, enfatizando o desenvolvimento do conhecimento científico ao longo do tempo.
Páginas 114 a 117
BNCC em contexto
O texto promove a capacidade de investigar fenômenos invisíveis, como a infecção celular por vírus, utilizando microscópios avançados. Também estimula o desenvolvimento do pensamento crítico ao analisar como esses dispositivos contribuem para a pesquisa científica e para a solução de problemas de saúde, contribuindo para aprimorar a Competência geral 2. Além disso, aborda o uso de instrumentos como microscópios ópticos e eletrônicos, destacando suas funções e a importância na ampliação do conhecimento científico, o que colabora para desenvolver a habilidade EM13CNT301.
Ao abordar a manchete da página 114, questione os estudantes sobre como a microscopia tem colaborado na compreensão de processos biológicos, como a infecção viral, e fomente uma discussão sobre a importância dessas imagens para o avanço da Ciência, especialmente em áreas como Virologia e Medicina.
Página XLV
Compartilhe ideias - página 114
Oriente-os a buscar informações em artigos de revistas científicas ou de universidades e a anotar suas interpretações e ideias, permitindo retomar ou completar hipóteses iniciais.
Peça a eles que busquem informações sobre como o desenvolvimento tecnológico e a combinação de tecnologias podem contribuir para os avanços nas diferentes áreas das Ciências.
Essa atividade contribui para desenvolver a Competência geral 9.
Oriente os estudantes a observar as diferenças entre o microscópio óptico e o eletrônico, na página 115, tanto em termos de funcionamento quanto na capacidade de ampliação. Discuta como são usados para diferentes finalidades e tipos de amostras. Enfatize o papel dos estudos em Óptica no funcionamento desses instrumentos, levando-os a compreender as limitações e vantagens de cada um.
BNCC em contexto
O texto das páginas 116 e 117 aborda o funcionamento dos telescópios e as descobertas que possibilitaram e incentiva a curiosidade intelectual e a análise crítica sobre a Ciência da Astronomia. Ao mencionar telescópios espaciais como o Hubble e o Very Large Telescope, o texto também trata da utilização de tecnologias digitais na observação astronômica. As contribuições de cientistas de diferentes nacionalidades e épocas refletem a diversidade de saberes e o papel de cada um na construção do conhecimento científico. Desse modo, a seção contribui para desenvolver as Competências gerais 1, 2, 5 e 6.
Além disso, o texto aborda a evolução dos telescópios e como as teorias sobre a observação do Universo se desenvolveram ao longo do tempo, enfatizando a importância dos telescópios na pesquisa astronômica e a continuidade da pesquisa em tecnologias de observação. Assim, as páginas colaboram para o desenvolvimento das habilidades EM13CNT201 e EM13CNT310.
Ao apresentar os telescópios refratores e refletores, na página 117, leve os estudantes a entender a diferença no funcionamento de cada telescópio, enfatizando que os refratores utilizam lentes, enquanto os refletores usam espelhos. Mostre como os princípios físicos da refração e da reflexão da luz são aplicados em cada tipo de telescópio e de que forma isso influencia sua capacidade de captar imagens dos astros.
Páginas 119 a 124
BNCC em contexto
As páginas 119 a 123 exploram o desenvolvimento histórico da compreensão da luz, destacando contribuições de alguns filósofos e cientistas, incentivando a valorização do método científico e do conhecimento acumulado. Ao descrever como conceitos de luz evoluíram e como experimentos levaram a novas descobertas, o texto promove a análise crítica e a investigação científica, fundamentais na formação dos estudantes. O reconhecimento das contribuições de cientistas de diversas culturas e épocas ilustra a importância da diversidade de perspectivas na Ciência. Assim, contribui para o desenvolvimento das Competências gerais 1, 2 e 6.
A descrição dos instrumentos ópticos e os princípios da Óptica proporcionam uma base para entender a importância da tecnologia no estudo da luz. Desse modo, subsidia o aprimoramento das habilidades EM13CNT201, EM13CNT204 e EM13CNT310 e das Competências especificas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2 e 3.
Atividade extra
Se julgar interessante, proponha aos estudantes a construção de uma câmara escura, usando materiais simples. Para isso, peça a eles, antecipadamente, que levem uma caixa de sapato ou uma lata de leite em pó ou achocolatado; providencie papel vegetal, fita-crepe, velas e tesoura.
Faça um furo central no fundo da lata ou na lateral (menor) da caixa de sapato e coloque papel vegetal no lugar da tampa da lata ou na lateral oposta da caixa, usando a fita-crepe. Certifique-se de que a caixa ou a lata está bem lacrada, de modo que a luz entre em seu interior apenas pelo orifício.
Escolha um ambiente da escola em que a entrada de luz natural possa ser bloqueada e oriente os estudantes a posicionar a caixa (ou lata) no mesmo nível da vela, em uma superfície, com o orifício voltado para ela. Acenda a vela e peça que observem pelo papel vegetal. Ajuste a distância entre a caixa e a vela, se necessário. Verifique se eles percebem a formação da imagem invertida.
Essa atividade permite desenvolver a Competência geral 2, pois possibilita aos estudantes exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem da Ciência, incluindo a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas e elaborar hipóteses.
Nas páginas 122 e 123, ao explicar a reflexão, refração, absorção e dispersão da luz, incentive os estudantes a identificar exemplos desses fenômenos no dia a dia. Para isso, pergunte como eles enxergam a luz refletida em um espelho, como as lentes de óculos mudam a direção da luz, como objetos escuros absorvem mais calor ou como um prisma divide a luz branca em cores.
Ligado no tema - página 124
Objetivos
- Compreender o funcionamento e a aplicação do LIDAR.
- Refletir sobre os impactos da automação no futuro da mobilidade.
- Analisar a inclusão tecnológica nos veículos autônomos.
Orientações
Explique aos estudantes a importância dos sensores em carros modernos começando com exemplos simples, como sensores de estacionamento e sistemas de alerta de ponto cego. Em seguida, introduza o conceito de LIDAR como um dos sensores mais avançados, essencial para a operação de veículos autônomos.
Ao abordar a classificação dos níveis de automação dos veículos, incentive os estudantes a debater sobre cada nível, suas implicações e os desafios técnicos e éticos que surgem com o aumento da automação. Questione-os sobre como eles imaginam que será o futuro da mobilidade, com carros totalmente autônomos, discutindo as vantagens e as desvantagens.
Respostas
a ) Resposta pessoal. É possível que os estudantes mencionem que a adoção de carros autônomos pode reduzir a oferta de empregos para motoristas, exigindo requalificação profissional. No entanto, possivelmente melhorará a segurança rodoviária ao diminuir acidentes causados por erro humano. As normas de trânsito e a infraestrutura urbana também precisarão se adaptar a essa nova realidade.
b ) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes digam que o constante monitoramento de trajetos e rotinas pode levar a preocupações com privacidade e segurança de dados, além do potencial uso indevido das Informações pessoais coletadas.
Página XLVI
c ) Resposta pessoal. O objetivo dessa questão é compreender que os carros autônomos podem trazer diversos benefícios, mas há ainda muitos problemas a serem resolvidos, entre eles o desenvolvimento tecnológico. Espera-se que eles pesquisem em fontes confiáveis possíveis falhas nos carros autônomos, como dificuldade em operar sob condições climáticas adversas, erros de detecção e identificação de obstáculos, além de vulnerabilidade a ataques cibernéticos. Essas questões podem ser resolvidas com avanços em sensores e algoritmos, mais proteção cibernética e testes rigorosos. Os benefícios dos carros autônomos incluem redução de acidentes causados por erro humano, redução de congestionamentos e mais eficiência de transporte.
Respostas - Página 125
1. a
)
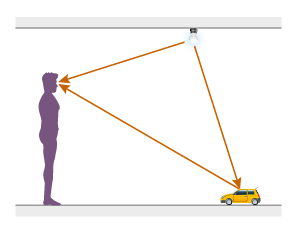
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
Capítulo 9 - Reflexão e refração da luz - páginas 127 a 144
Objetivos do capítulo
- Explicar o fenômeno da refração da luz ao passar por diferentes meios, incluindo a definição de índice de refração, e a relação entre velocidade da luz nos meios.
- Demonstrar como as leis da refração são utilizadas para prever a trajetória da luz e suas implicações com fenômenos visuais do cotidiano, como a observação de objetos submersos.
- Discutir como o entendimento da refração da luz é fundamental para o funcionamento de dispositivos ópticos, como lentes e fibras ópticas, e suas aplicações em diversas áreas, incluindo tecnologia e Biologia.
Páginas 127 a 131
BNCC em contexto
As páginas 127 e 128 abordam conceitos relacionados à reflexão da luz, especialmente em espelhos planos, contribuindo para a habilidade EM13CNT101.
Na página 127, auxilie os estudantes a identificar cada elemento da imagem que representa o raio de luz incidindo sobre a superfície lisa e polida. Enfatize que os três traços representam a parte de trás do espelho. Ao abordar a representação da formação de uma imagem em espelho plano ao final da página, oriente os estuantes a comparar essa representação com a primeira.
BNCC em contexto
O texto explora os elementos geométricos de espelhos esféricos e descreve como eles influenciam a formação de imagens em espelhos côncavos, convexos e parabólicos.
A análise dos diferentes tipos de espelhos e suas características permite uma reflexão sobre como as propriedades físicas influenciam as imagens formadas. O uso de princípios da Geometria e da Física para descrever a reflexão da luz fundamenta uma argumentação científica sólida, contribuindo para o desenvolvimento das Competências gerais 2 e 3.
Durante a leitura da página 129, diga aos estudantes que a lei da reflexão também é válida para a reflexão da luz nos espelhos esféricos, de modo que os ângulos de incidência e de reflexão em relação à direção da normal ao espelho são iguais.
Acompanhamento da aprendizagem
Se julgar conveniente, oriente os estudantes a responder à atividade 5 da página 132 com base na estratégia de metodologia ativa Think-pair-share. Para isso, veja mais orientações sobre essa estratégia nas páginas XI e XII destas Orientações para o professor. Primeiramente, os estudantes devem observar as imagens da atividade individualmente e, em seguida, compartilhar suas conclusões com os colegas.
Essa abordagem permite avaliar a compreensão dos estudantes em relação à formação de imagens por espelhos planos e esféricos. Caso eles tenham dificuldade em responder à atividade, retome as páginas referentes a esses conteúdos.
Páginas 133 a 144
BNCC em contexto
As páginas 133 a 136 abordam a definição e a importância da refração da luz, permitindo que os estudantes entendam o fenômeno físico e sua relevância em diversas aplicações, como fibras ópticas e microscópios, contribuindo para o desenvolvimento da Competência geral 2 e da Competência específica de Ciências da Natureza 1. Além disso, o texto explica como as lentes funcionam, suas classificações (convergentes e divergentes) e as condições para formação de imagens, o que é essencial para entender dispositivos ópticos, contribuindo para o desenvolvimento da habilidade EM13CNT301.
Ao abordar o conteúdo da página 130, diga aos estudantes que, nos espelhos esféricos, o procedimento para obter geometricamente a imagem de um objeto refletida é o mesmo que em espelhos planos, mas, como cada um dos raios incide no espelho com ângulos diferentes, os espelhos esféricos não configuram imagens iguais e simétricas ao objeto, como ocorre nos espelhos planos.
Diga aos estudantes que as imagens reais são formadas pelo encontro efetivo dos raios refletidos por um espelho, que, por sua natureza, podem ser projetadas em um anteparo, diferentemente das imagens virtuais, que não podem ser projetadas.
Na questão 4 da página 134, comente com os estudantes que no caso da miragem, as camadas de ar mais próximas do chão estão mais quentes, por isso menos densas. Ao atravessar camadas de ar com diferentes índices de refração, a luz tem sua trajetória desviada. Na fotografia, a região que se parece com água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses sobre a areia é uma ilusão de óptica, em que vemos a imagem do céu e de regiões da superfície do solo produzida por sucessivas refrações da luz proveniente desses objetos.
Na página 135, se conveniente, proponha a leitura do material disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nele, os estudantes vão encontrar mais informações sobre o conteúdo de dioptros planos. Disponível em: https://s.livro.pro/qyxkpa. Acesso em: 17 out. 2024.
Página XLVII
Ao trabalhar o conteúdo da página 139, diga aos estudantes que o olho mágico, dispositivo de segurança utilizado em portas de residências, é formado por um conjunto de lentes que se comporta como uma lente divergente, formando uma imagem virtual, menor e direita dos objetos à sua frente.
Prática científica - páginas 142 e 143
Objetivos
- Compreender os fenômenos de reflexão da luz em superfícies curvas.
- Explorar o efeito de lentes naturais, como gotas de água, na refração da luz.
Orientações
Mencione para os estudantes que é possível projetar imagens utilizando espelhos esféricos côncavos, dependendo da distância da imagem ao espelho. Além disso, para projetar imagens por meio de lentes, deve-se utilizar uma lente convergente. Assim como nos espelhos, a imagem poderá ser projetada em certas situações, dependendo da distância do objeto à lente.
Algumas alternativas a esse experimento envolvem dispor uma gota de água sobre uma régua ou colher transparente ou colocar algumas gotas de água na tela de um celular e observar a imagem aumentada nesses pontos. A gota continua se comportando como uma lente.
Após a atividade, a garrafa plástica e o papel espelhado podem ser encaminhados para reciclagem. A água pode ser descartada na pia e o restante dos materiais, usados em outras atividades práticas.
Respostas
7. Espera-se que os estudantes mencionem que os objetos pareceram maiores. A gota de água atua como uma lente convergente porque sua forma arredondada faz os raios de luz se curvarem e se concentrarem em um ponto, ampliando a imagem dos objetos observados. A água, como um meio transparente, tem a capacidade de refratar (curvar) a luz, e a forma curva da gota faz que funcione de maneira semelhante a uma lente convexa, aumentando as imagens.
8. Se o tamanho da gota de água aumentar, o raio de curvatura da gota também aumenta, o que diminui o efeito de ampliação, porque a gota se torna uma lente menos curvada e, portanto, menos convergente. Por outro lado, se a gota for menor, a curvatura aumenta, concentrando os raios de luz mais rapidamente e formando uma imagem mais ampliada. Isso acontece porque lentes mais curvadas em geral têm focos mais próximos, proporcionando maior ampliação.
9. Espera-se que os estudantes citem quando as lentes são utilizadas em várias áreas da Ciência e da tecnologia, impactando significativamente a qualidade de vida das pessoas, como em telescópios, microscópios, óculos, lentes de contato, câmeras, retrovisores etc. Espera-se que o vídeo mencione que essas aplicações impactam diretamente o avanço científico, a saúde e a segurança da sociedade, mostrando como elas melhoram nossa vida.
Conexões com… - página 144
Objetivos
- Compreender a relação entre o movimento das placas tectônicas e os fenômenos sísmicos.
- Explorar o papel da fibra óptica na detecção de abalos sísmicos.
- Refletir sobre os desafios e avanços tecnológicos no monitoramento de desastres naturais.
Orientações
Comente com os estudantes que cientificamente há duas maneiras de medir a magnitude e avaliar a intensidade dos abalos sísmicos. A classificação é feita com base nas chamadas escala Richter e escala de Mercalli. Explique que os eventos são classificados de acordo com a magnitude e a intensidade estabelecida por essas escalas, podendo ser considerados de micro a extremo na escala Richter e de muito fraco a catastrófico na escala de Mercalli. Para conhecer mais a respeito desse e de outros assuntos relacionados a sismos, acesse o link a seguir, que apresenta um rico material informativo do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do estado do Ceará. Disponível em: https://s.livro.pro/c7g2h6. Acesso em: 17 out. 2024.
Respostas - Página 145
3. início de fração, numerador: n subscrito gelo, denominador: n subscrito Si, fim de fração é igual a 0 vírgula 39 implica em início de fração, numerador: início de fração, numerador: c, denominador: v subscrito gelo, fim de fração, denominador: início de fração, numerador: c, denominador: v subscrito Si, fim de fração, fim de fração é igual a 0 vírgula 39 implica em início de fração, numerador: c, denominador: v subscrito gelo, fim de fração vezes início de fração, numerador: v subscrito Si, denominador: c, fim de fração é igual a 0 vírgula 39 implica em
implica em início de fração, numerador: v subscrito Si, denominador: v subscrito gelo, fim de fração é igual a 0 vírgula 39 implica em início de fração, numerador: v subscrito Si, denominador: 2 vírgula 3 vezes 10 elevado a 8, fim de fração é igual a 0 vírgula 39 implica em
implica em v subscrito Si é igual a 0 vírgula 39 vezes 2 vírgula 3 vezes 10 elevado a 8 portanto v subscrito Si é aproximadamente igual a 0 vírgula 9 vezes 10 elevado a 8 metro por segundo
n subscrito Si é igual a início de fração, numerador: c, denominador: v subscrito Si, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 3 vezes 10 elevado a 8, denominador: 0 vírgula 9 vezes 10 elevado a 8, fim de fração portanto n subscrito Si é aproximadamente igual a 3 vírgula 33
n subscrito gelo é igual a início de fração, numerador: c, denominador: v subscrito gelo, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 3 vezes 10 elevado a 8, denominador: 2 vírgula 3 vezes 10 elevado a 8, fim de fração portanto n subscrito gelo é aproximadamente igual a 1 vírgula 30
4. n subscrito z vezes seno ângulo i é igual a n subscrito ar vezes seno ângulo r implica em n subscrito z vezes 30 sobre r é igual a 1 vezes 50 sobre r implica em
implica em n subscrito z é igual a 50 sobre 30 portanto n subscrito z é aproximadamente igual a 1 vírgula 67
5. n subscrito A vezes seno ângulo i é igual a n subscrito B vezes seno ângulo r implica em 1 vezes 's' e n 30 graus é igual a n subscrito B vezes sen 15 graus implica em
implica em n subscrito B é igual a início de fração, numerador: 0 vírgula 5, denominador: 0 vírgula 26, fim de fração portanto n subscrito B é aproximadamente igual a 1 vírgula 92
Retome o que estudou - página 146
Respostas
1. Essa questão possibilita verificar se os estudantes reconhecem a importância do campo magnético da Terra para a manutenção das condições favoráveis de vida. Espera-se que eles respondam que a ação do campo magnético terrestre protege o planeta das radiações e dos ventos solares, pois as partículas provenientes destes que o atingem, de dois a quatro dias após a ejeção, normalmente são por ele defletidas ou capturadas. O campo magnético da Terra também protege a atmosfera, visto que a influência dos ventos e sua atividade no ambiente terrestre levariam a uma perda contínua das partículas que a compõem.
2. No experimento do físico dinamarquês Hans Oersted (1777-1851), verificou-se que correntes elétricas produzem campos magnéticos, e a explicação mais aceita para a origem do campo magnético da Terra é a movimentação de íons em seu interior (corrente elétrica) com seu movimento de rotação.
3. As leis da reflexão são válidas para qualquer situação, tanto para a reflexão regular quanto para a difusa.
4. Espera-se que os estudantes respondam que, no microscópio óptico, as estruturas responsáveis pela formação das imagens são as lentes, por isso o principal fenômeno nesse equipamento é a refração da luz. Nos telescópios refratores também são as lentes que produzem as imagens pela refração da luz. Já nos telescópios refletores, as estruturas principais na formação das imagens são os espelhos esféricos ou parabólicos, que produzem as imagens pela reflexão da luz.
Página XLVIII
Unidade 3 Matéria e energia
Objetivos da unidade
- Analisar o espectro eletromagnético.
- Compreender as características das ondas.
- Conhecer as diferentes faixas de frequência do espectro eletromagnético e suas aplicações.
- Compreender as características do espectro visível.
- Descrever como ocorre o efeito estufa e entender sua importância para a Terra.
- Compreender os mecanismos de proteção da Terra contra a radiação ultravioleta.
- Conhecer os efeitos do calor e como ocorre sua transferência entre os corpos.
- Compreender os princípios da calorimetria.
- Caracterizar sistemas conservativos e sistemas dissipativos.
- Compreender o princípio de conservação de energia.
- Conhecer as propriedades dos fluidos.
- Conceituar empuxo.
- Compreender a equação de Bernoulli.
Justificativas
A abordagem das páginas desta unidade contribui para o desenvolvimento da Competência geral 1, pois incentiva os estudantes, em vários momentos, a relacionar os conhecimentos científicos historicamente construídos a situações e à explicação de fenômenos. Ao abordar o espectro eletromagnético, relacionando-o com o estudo da origem e evolução de uma estrela, contribui para desenvolver as Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 2.
A unidade também incentiva os estudantes a conhecer as características das radiações, permitindo-lhes avaliar os riscos e as vantagens em aplicações em equipamentos do cotidiano, contribuindo, assim, para desenvolver as habilidades EM13CNT103 e EM13CNT306.
A abordagem da relação entre o uso dos combustíveis fósseis e a intensificação dos efeitos estufa contribui para trabalhar a habilidade EM13CNT309 e o tema contemporâneo transversal Educação ambiental. Já a abordagem das transformações e conservações em sistemas que envolvem quantidade de matéria e de energia permite aos estudantes estabelecer relações que possibilitam o trabalho com as habilidades EM13CNT101 e EM13CNT102 e as Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 2.
Além disso, interpretar modelos explicativos e resultados experimentais para enfrentar uma situação-problema contribui para trabalhar a habilidade EM13CNT301 e a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3.
Abertura da unidade - Páginas 150 e 151
BNCC em contexto
Essas páginas, ao abordar a relação dos fenômenos climáticos à intensificação do efeito estufa, contribuem para desenvolver a habilidade EM13CNT309 e o tema contemporâneo transversal Educação ambiental.
Inicie o trabalho com essas páginas solicitando aos estudantes que observem a fotografia, questionando-os sobre como eles acham que essa imagem foi obtida. Verifique se percebem que foram utilizadas tecnologias presentes em satélites meteorológicos.
Se possível, leve para a sala de aula notícias recentes sobre furacões ou outros fenômenos climáticos que têm relação com o aquecimento global para complementar o estudo dessas páginas e das questões sugeridas. Pode-se também sugerir aos estudantes que pesquisem essas reportagens e as levem de casa.
A fim de desenvolver a Competência geral 9, sugira aos estudantes que respondam às questões em grupo.
Respostas - Página 150
a ) Os estudantes podem citar que a energia emitida pelo Sol chega à Terra por meio de ondas eletromagnéticas. Além disso, podem responder que o aquecimento é provocado principalmente pela radiação infravermelha.
b ) Os estudantes podem citar que o aquecimento das águas dos oceanos se relaciona com a formação de furacões, porque o processo se inicia quando o vapor de água aquecido sobe e se condensa. Nessa mudança de estado físico, ocorre liberação de calor para o ar atmosférico, que se aquece, se torna menos denso e se move para cima por causa da convecção, gerando uma região de baixa pressão que causa o movimento para cima de mais vapor de água aquecido, e o processo se repete.
c ) Espera-se que os estudantes respondam que a afirmação está correta, pois o ser humano recebe calor do ambiente e também cede calor ao ambiente, além de trocar matéria no processo da respiração e da alimentação, por exemplo.
Capítulo 10 - Ondas eletromagnéticas - página 152 a 159
Objetivos do capítulo
- Compreender o que é o espectro eletromagnético.
- Identificar as diferentes faixas de frequência que compõem o espectro eletromagnético.
- Analisar a abrangência de aplicações do espectro eletromagnético.
- Caracterizar ondas eletromagnéticas.
Páginas 152 a 157
BNCC em contexto
A abordagem utilizada no capítulo contribui para o desenvolvimento das Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 2, pois possibilita aos estudantes compreender a origem das radiações por meio da evolução de uma estrela, como o Sol, e das que constituem o espectro eletromagnético.
Página XLIX
Também contempla a Competência geral 1, pois os incentiva a valorizar e a utilizar os conhecimentos historicamente construídos para compreender fenômenos naturais.
Acompanhando a aprendizagem
Ao iniciar o trabalho com esse capítulo, peça aos estudantes que respondam à questão 1 da página 152 e verifique o entendimento deles sobre o que são ondas eletromagnéticas, seu espectro e suas diferentes aplicações. Incentive-os a debater entre si as razões pelas quais pode ser mais interessante o telescópio James Webb utilizar faixas do infravermelho do que o espectro visível, por exemplo. Promova uma troca de ideias sobre algumas das características da radiação eletromagnética e suas aplicações, verificando os conhecimentos prévios da turma e anotando as ideias. Guarde essa lista e, ao longo do capítulo, evidencie quais estão corretas e quais foram os erros das incorretas.
Atividade extra
Se julgar conveniente, inicie o estudo da página 153 representando os elementos de uma onda por meio de uma corda com uma de suas extremidades fixa a uma parede. Para isso, movimente a extremidade livre na direção vertical e questione os estudantes sobre como é possível medir o comprimento de onda, a amplitude, a frequência e o período. Além disso, pergunte-lhes qual é a direção de propagação da onda.
Verifique se eles percebem que o movimento vertical de oscilação produzirá um movimento ondulatório na corda cuja direção de propagação das ondas será na horizontal. Esse tipo de onda é chamado de transversal, pois a direção da velocidade de propagação é perpendicular ao movimento de vibração. Essa atividade contribui para desenvolver a Competência geral 2.
Ao trabalhar a imagem do espectro eletromagnético da página 154, quando mencionar a radiação infravermelha, comente que, até o momento, não foram observados corpos que atingiram o zero absoluto. Já o espectro visível normalmente é designado pelas cores que percebemos em um arco-íris, não havendo um limite claro entre uma cor e outra, assim como ocorre com as demais ondas do espectro eletromagnético.
Caso julgue interessante, ao trabalhar os conceitos sobre raios X, leve para a sala de aula algumas radiografias e explique aos estudantes que as partes mais escuras são as regiões onde houve maior incidência de raios X, e as áreas mais claras correspondem às que tiveram absorção total ou parcial dessa radiação. Aproveite para perguntar quais cuidados os técnicos de radiologia devem ter durante o trabalho. Verifique se eles respondem que, ao realizar esses procedimentos, os técnicos ou responsáveis ausentam-se da sala onde é feito o exame a fim de evitar a exposição à radiação, uma vez que ela pode causar danos à saúde.
O boxe Dica da página 155 menciona a icterícia. Se julgar interessante, acesse o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e apresente aos estudantes a campanha Dezembro Laranja, que tem por objetivo conscientizar a população a respeito da prevenção do câncer de pele desde a infância, além de alertar sobre possíveis sinais do câncer de pele para diagnóstico e tratamento. Disponível em: https://s.livro.pro/trochc. Acesso em: 7 nov. 2024.
Integrando o conhecimento
Ao trabalhar o conceito da radiação ultravioleta, é importante comentar com os estudantes que a UV-A é uma radiação com a frequência mais baixa, próxima da luz visível, e não é danosa à saúde. No entanto, a de frequência mais alta, chamada UV-C, é a mais danosa, mas é quase totalmente bloqueada pela camada de ozônio da atmosfera terrestre. Aproveite para ressaltar a importância da conservação da camada de ozônio, contemplando o tema contemporâneo transversal Educação ambiental.
Já a radiação ultravioleta considerada intermediária, chamada UV-B, tem energia suficiente para prejudicar os olhos e as células da pele, provocando queimaduras e câncer de pele. Comente com os estudantes que devemos sempre nos proteger contra os raios solares utilizando filtro solar, chapéus e óculos escuros, além de evitar exposições prolongadas a essa radiação.
Enfatize que exposições moderadas devem ser consideradas nos horários adequados e evitadas entre 10 horas e 16 horas. Dessa maneira, a radiação pode ser benéfica, induzindo a síntese da maior parte da vitamina D do organismo, a qual atua no fortalecimento dos ossos. Aproveite para mencionar também que a luz solar desempenha um papel crucial no ciclo circadiano, regulando diversas funções do corpo humano ao longo do dia. Esse ciclo controla processos como o sono, a liberação de hormônios, a temperatura corporal e o metabolismo. Para essa abordagem, é válido propor uma aula em conjunto com o professor do componente curricular de Biologia visando ressaltar a importância da radiação solar para os seres vivos.
O boxe complementar Hedy Lamarr da página 155 mostra a dificuldade que as mulheres enfrentaram ao longo da história para serem reconhecidas na Ciência, muitas vezes tendo suas contribuições ignoradas ou atribuídas a homens. Em um contexto dominado por preconceito de gênero, elas foram frequentemente excluídas de instituições educacionais, privadas de recursos e relegadas a papéis secundários, independentemente de suas habilidades. Nesse contexto, peça aos estudantes que façam uma pesquisa sobre a contribuição das mulheres na Ciência nos últimos anos.
Integrando o conhecimento
A percepção do espectro da luz visível ocorre em razão dos elementos biológicos que constituem o olho humano, como os cones e os bastonetes. Por isso, é interessante propor uma discussão voltada à função dessas células.
Se julgar adequado, junto ao professor do componente curricular de Biologia, promova uma atividade de pesquisa, solicitando aos estudantes um trabalho sobre os componentes do olho humano que estejam relacionados à visão a fim de explicar a função de cada um.
Para isso, forme grupos com cinco integrantes e reserve um momento para que apresentem as informações à turma. Nas apresentações podem ser usados recursos digitais. Eles podem gravar um vídeo com animações e imagens, elaborar um podcast etc. Dessa maneira, desenvolve-se a Competência geral 4, compreendendo, utilizando e criando tecnologias digitais de informação nas práticas escolares. Essa estratégia incentiva os estudantes a usar ferramentas das culturas juvenis.
Página L
Ao fim da atividade, verifique se eles compreenderam a função de cada um dos componentes do olho humano.
Ligado no tema - páginas 156 e 157
Objetivos
- Identificar o uso de ondas eletromagnéticas na comunicação.
- Compreender a evolução histórica das telecomunicações.
- Refletir sobre o uso de ondas eletromagnéticas em outras áreas do cotidiano além da telecomunicação.
Orientações
Garanta que os estudantes tenham uma compreensão clara acerca da evolução das telecomunicações e da importância das ondas eletromagnéticas nesse contexto. Verifique se eles conseguem identificar informações baseadas em evidências científicas e em notícias falsas sobre doenças causadas por ondas eletromagnéticas utilizadas na telecomunicação. Considere organizar a turma em grupos para discutir os impactos sociais e éticos das tecnologias 4Ge 5G e das futuras redes, como o 6G. Incentive-os a diferenciar os impactos e os usos das ondas eletromagnéticas tendo como base seu espectro.
As perguntas têm como objetivo levar os estudantes a aprofundar o entendimento referente à aplicação das ondas eletromagnéticas na telecomunicação, ao mesmo tempo que instigam a reflexão crítica sobre o impacto dessas tecnologias no cotidiano e na saúde. Elas incentivam a conexão entre o conhecimento científico e sua aplicação prática, abordando desde a evolução histórica das telecomunicações até questões éticas e sociais relacionadas às novas tecnologias, como o 6G, desenvolvendo o tema contemporâneo transversal Ciência e Tecnologia. Ademais, também propiciam a discussão em grupo, promovendo a troca de ideias e o desenvolvimento de habilidades argumentativas dos estudantes.
Respostas - Página 158
8. Sabendo que a onda de rádio é eletromagnética e que sua velocidade na atmosfera é aproximadamente igual à do vácuo, cujo valor é de cerca de 3 vezes 10 elevado a 8 metro barra s, temos: f é igual a 1.200 quilo-hertz é igual a 1.200 vezes 10 elevado ao cubo hertz e v é igual a 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetro por segundo é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundos;
v é igual a lambda vezes f implica em 3 vezes 10 elevado a 8 é igual a lambda vezes 1.200 vezes 10 elevado ao cubo implica em lambda é igual a 250 portanto lambda é igual a 250 metros
Capítulo 11 - O espectro solar e a Terra - páginas 160 a 174
Objetivos do capítulo
- Identificar o espectro visível e compreender como ele se relaciona com as cores percebidas.
- Entender o conceito de espectros de absorção e emissão e como eles são utilizados para identificar elementos químicos.
- Estudar o efeito estufa.
- Reconhecer a importância da proteção contra a radiação ultravioleta, destacando os impactos dessa radiação na saúde humana.
BNCC em contexto
O trabalho com as páginas 160 e 174 contribui para o desenvolvimento das Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 2, pois possibilita aos estudantes compreender alguns dos fenômenos naturais com base no estudo de diferentes radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol e identificar características e a composição química dos astros celestes.
A habilidade EM13CNT103 também é contemplada ao abordar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação por equipamentos do uso cotidiano.
Páginas 160 a 171
Inicie o trabalho deste capítulo enfatizando aos estudantes que todas as radiações que completam o espectro eletromagnético compartilham muitas propriedades básicas: todas elas são compostas de fótons; viajam com a mesma velocidade; comportam-se ora como partícula, ora como onda.
O objetivo da questão 1 da página 160 é levar os estudantes a identificar situações que envolvem a energia solar. Portanto, eles podem citar, por exemplo, a radiação infravermelha em aquecedores solares e usinas solares térmicas e a luz visível em placas fotovoltaicas.
Atividade extra
Ao abordar como percebemos as cores de um objeto, na página 163, é válido aplicar à turma as seguintes atividades.
a ) Imagine que você, ao passear por um parque com seu primo mais novo, tenham encontrado algumas rosas brancas. Seu primo, uma criança muito curiosa, pergunta por que elas têm essa cor. O que você responderia a ele?
b ) Ao pousar na Lua, um astronauta olha para cima enquanto o Sol está visível acima do horizonte. Qual é a cor do céu observado por ele? Explique sua resposta.
c ) Em uma atividade prática, peça aos estudantes que iluminem objetos de diferentes cores com lanternas que emitem luz nas cores branca, verde, vermelha e azul. Para isso, basta colocar papel-celofane sobre as lâmpadas das lanternas. Em seguida, peça-lhes que anotem os resultados observados e os expliquem.
Prática científica - páginas 164 e 165
Objetivos
- Analisar o espectro da luz e suas diferentes frequências e comprimentos de onda.
- Identificar e explicar os diferentes espectros de luz emitidos por fontes luminosas.
Orientações
Oriente os estudantes a registrar as observações realizadas no desenvolvimento da atividade e refletir sobre as diferenças entre os espectros, relacionando-as às características da fonte de luz. Essa análise proporcionará o entendimento necessário acerca de como diferentes fontes de luz produzem espectros distintos e servirá como base para discussões em sala de aula a respeito dos princípios físicos envolvidos. Os estudantes podem usar caixas de creme dental para substituir o rolo de papelão.
Página LI
Após a atividade, os materiais podem ser armazenados e utilizados em outras atividades práticas.
Respostas
6. Espera-se que os estudantes mencionem que os elementos químicos presentes na estrela emitem ou absorvem luz em comprimentos de onda específicos, então, ao comparar essas linhas com espectros conhecidos de elementos, seria possível identificar quais estão presentes na estrela. Além disso, a cor predominante do espectro ajudaria a estimar a temperatura da estrela, pois estrelas mais quentes emitem mais radiação azul e ultravioleta, enquanto as mais frias emitem, sobretudo, vermelha e infravermelha.
7. Espera-se que os estudantes mencionem que analisando a luz que atravessa a atmosfera e identificando os gases presentes com base nas linhas de absorção no espectro.
8. Espera-se que os estudantes apresentem como construir um espectroscópio simples e como analisar diferentes fontes de luz.
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 166 a 169 contribui para o desenvolvimento das Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 2, pois possibilita aos estudantes compreender alguns dos fenômenos naturais ao analisarem a interação entre matéria e energia com base no estudo de diferentes radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Assim, eles avaliam potencialidades, limites e riscos do uso de diferentes materiais e/ou tecnologias para tomar decisões responsáveis e conscientes diante dos diversos desafios contemporâneos.
Compartilhe ideias - página 168
Ressalte aos estudantes que todos os equipamentos que têm a finalidade de eliminar, neutralizar ou minimizar os riscos ocupacionais, de maneira a tornar as condições de trabalho mais seguras para os profissionais, são considerados equipamentos de proteção individual (EPIs). Eles diminuem a probabilidade de acidentes e doenças ocupacionais e são obrigatórios para diversas funções.
Apresente aos estudantes a Lei nº 6.514, relativa à segurança e à medicina do trabalho. Disponível em: https://s.livro.pro/a3vuty. Acesso em: 14 out. 2024.
Essa abordagem permite trabalhar o tema contemporâneo transversal Trabalho.
Integrando o conhecimento
Ao trabalhar o efeito estufa, sugira aos estudantes que explorem também os aspectos biológicos desse fenômeno. Uma possibilidade é discutir como o efeito estufa impacta os ecossistemas e a biodiversidade. Esse assunto está relacionado ao tema contemporâneo transversal Educação ambiental e possibilita desenvolver a Competência geral 7, pois incentiva os estudantes a refletir e argumentar com base em dados confiáveis a fim de defender pontos de vista que promovam a consciência socioambiental.
Se julgar interessante, proponha a eles que investiguem como o aumento da temperatura global afeta o hábitat de diversas espécies, provocando a extinção de algumas e a adaptação de outras. Esse estudo pode ser enriquecido com a colaboração do professor do componente curricular de Biologia, que pode aprofundar a análise dos processos biológicos envolvidos e o impacto provocado pela crise climática.
Conexões com... - página 171
Objetivos
- Compreender os benefícios e os riscos da exposição à radiação solar.
- Reconhecer a função dos protetores solares.
- Identificar os impactos ambientais de alguns compostos dos protetores solares.
Orientações
Ajude os estudantes a refletir sobre a dualidade dos efeitos da radiação solar, destacando tanto os benefícios quanto os riscos associados à exposição ao Sol. Os protetores solares que absorvem a radiação ultravioleta geralmente têm compostos orgânicos aromáticos e são conhecidos como protetores químicos. Já os que refletem os raios ultravioleta têm óxidos metálicos e são conhecidos como protetores solares físicos.
Promova discussões voltadas ao impacto ambiental das substâncias químicas presentes nos protetores solares, incentivando os estudantes a considerar as consequências para os ecossistemas marinhos, como o branqueamento dos corais. Ao abordar esses aspectos, pode-se também realizar uma aula em conjunto com o professor do componente curricular de Biologia. Além disso, sugira que façam pesquisas em grupo sobre alternativas sustentáveis para proteção solar, estimulando a conscientização ecológica e o desenvolvimento de soluções práticas.
Respostas - Página 163
4. O objetivo da questão é resgatar os conhecimentos prévios dos estudantes com relação ao espalhamento da luz na atmosfera. Eles podem citar que a cor do céu se altera por causa do espalhamento da componente azul e da transmissão da componente vermelha da luz solar na atmosfera.
Respostas - Página 172
6. Espera-se que os estudantes respondam que o disco de Newton fica na cor branca, quando todas as cores se misturam, pois ele é pintado com as cores componentes da luz branca. Além disso, eles devem comentar que a mistura das cores do arco-íris para formar a luz branca no disco de Newton é o oposto da decomposição da luz por um prisma, no qual a luz branca é dividida em suas cores componentes.
Respostas - Página 174
16. A refração ocorre quando a luz entra na gota de água, curvando-se por conta da mudança de velocidade. A dispersão acontece porque diferentes cores (comprimentos de onda) são refratadas em ângulos diferentes. Isso leva as cores a se separarem e formarem o arco-íris.
Página LII
Capítulo 12 - Introdução à calorimetria - páginas 175 a 197
Objetivos do capítulo
- Definir temperatura.
- Entender as mudanças climáticas e suas causas.
- Compreender as escalas de temperatura.
- Explicar o conceito de calor.
- Descrever os modos de transferência de calor.
- Explorar e calcular a dilatação térmica dos corpos.
- Explicar os princípios da calorimetria.
- Compreender os princípios que regem a mudança de fase.
Páginas 175 a 179
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 175 a 179 contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3 e das habilidades EM13CNT102, EM13CNT105 e EM13CNT309, possibilitando aos estudantes a percepção da relação entre a utilização dos combustíveis fósseis e o aumento do efeito estufa, bem como o reconhecimento de que isso impacta diretamente nas mudanças climáticas globais. Essa abordagem também permite trabalhar o tema contemporâneo transversal Educação ambiental.
A reportagem da página 175 permite o trabalho com os temas contemporâneos transversais Direitos da criança e do adolescente e Educação em direitos humanos. É válido acessar as seguintes reportagens, trabalhando as culturas juvenis e incentivando o protagonismo dos estudantes em relação às situações do seu cotidiano. Disponíveis em: https://s.livro.pro/s0sbck e https://s.livro.pro/gwzon4. Acessos em: 9 out. 2024.
Compartilhe ideias - página 176
Se for possível, peça às duplas que acessem o simulador sugerido no boxe Dica e analisem as imagens formadas. Tanto nas imagens da página como no simulador, oriente os estudantes para que observem a quantidade e a localização de áreas indicadas em vermelho, que se referem às que apresentam maiores temperaturas.
Durante a pesquisa sobre os efeitos das alterações climáticas, sugeridas na questão do boxe, peça aos estudantes que procurem, além de informações relacionadas aos prejuízos ao meio ambiente, informações relativas aos problemas sociais causados pelas alterações climáticas.
Resposta
a ) Os estudantes podem mencionar que foi percebido um aumento significativo nas temperaturas ao longo do século, evidenciado pela predominância da cor vermelha em 2021. Esse aumento de temperatura é a evidência do aquecimento global causado pelo aumento das emissões e, consequentemente, da concentração de gases de efeito estufa. Os efeitos incluem derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, alteração negativa da vida marinha e aumento na frequência de eventos climáticos extremos. Para reduzir esse fenômeno, os estudantes podem citar a adoção e intensificação do uso de energias renováveis, a promoção do reflorestamento, o incentivo a meios de transporte sustentáveis, além da intensificação na conscientização da população e o apoio a políticas públicas que tenham como objetivo a redução da emissão de gases de efeito estufa.
Conexões com... - página 177
Objetivo
Encontrar um algoritmo que leve a uma equação de conversão entre diferentes escalas de temperatura.
Orientações
Lembre os estudantes de que, independentemente da escala adotada, as alturas inicial e final do líquido no interior do termômetro são as mesmas, assim como a razão entre essas alturas, sendo possível chegar a uma relação matemática entre as escalas de temperatura.
Na letra b, mencione que a temperatura mede o grau de agitação médio das partículas; quanto maior a temperatura, maior essa agitação.
Na página 178, o trabalho com a charge permite o desenvolvimento da leitura inferencial. Pergunte aos estudantes o que produz o efeito de humor nesse texto.
Prática científica - página 179
Objetivo
Perceber as trocas de calor por meio da sensação de quente ou frio.
Orientações
Explique aos estudantes o conceito de transferência de calor e como nosso corpo percebe essa transferência. Mencione como nosso sistema sensorial responde às mudanças de temperatura. Discuta o fenômeno da adaptação sensorial, ou seja, como a percepção de quente ou frio depende da temperatura de referência anterior, destacando o papel dos sensores de temperatura na pele.
Páginas 181 a 185
Integrando o conhecimento
Ao trabalhar os fenômenos climáticos na página 184, é possível desenvolver uma aula conjunta com o professor do componente curricular de Geografia, relacionando o conteúdo estudado com a atmosfera, o tempo e o clima. Se possível, convide o professor de Geografia para complementar o esquema apresentado na página, relacionando-o com o assunto ilhas de calor. Peça a ele que sugira materiais complementares sobre o assunto.
Páginas 188 a 195
Prática científica - página 193
Objetivos
- Descrever o calor como a energia em transferência entre corpos com temperaturas diferentes.
- Entender o processo de condução térmica.
Página LIII
Orientações
Enfatize aos estudantes a necessidade de usar luvas térmicas ao manipular objetos que possam estar a altas temperaturas. Nessa atividade, realize as etapas A e B e sugira que os estudantes registrem os procedimentos realizados em cada etapa e os resultados observados por meio de vídeo, que pode ser feito com uma filmadora ou um smartphone.
Certifique-se de que os parafusos estejam bem fixados no arame com a parafina. Caso algum parafuso caia fora da ordem, peça aos estudantes que tentem explicar por que isso ocorreu.
Embora simples, essa é uma atividade que tem grande potencial para que os estudantes observem a condução térmica. É possível explorar a prática substituindo o fio condutor por outros tipos de material. Além disso, contribui para desenvolver o pensamento computacional e as Competências gerais 1 e 9.
Respostas
1. A temperatura da extremidade do fio condutor aumenta à medida que se aproxima da chama da vela, resultando em um aquecimento mais rápido da parafina. Quanto maior a temperatura da extremidade do fio, menor será o tempo necessário para a parafina derreter.
2. Espera-se que os estudantes mencionem o material do fio (metais como cobre são melhores condutores do que materiais não metálicos), a espessura (fios mais espessos têm maior capacidade de conduzir calor) e o comprimento (fios mais longos podem apresentar mais resistência térmica, diminuindo a eficiência).
3. A quantidade de parafina utilizada tem relação direta com o tempo necessário para que os parafusos caiam. Quanto mais parafina, maior a barreira térmica, retendo calor e prolongando o tempo que os parafusos ficam presos.
4. A parafina que fixa os parafusos mais próximos da fonte de calor (a chama da vela) se aquece mais rapidamente, resultando em um derretimento mais rápido e, consequentemente, na queda dos respectivos parafusos.
Ligado no tema - páginas 194 e 195
Objetivos
- Entender o que são biocombustíveis, em especial o biodiesel, e como eles se diferenciam dos combustíveis fósseis.
- Identificar os benefícios e os desafios do uso de biodiesel em termos de sustentabilidade ambiental e suas implicações para a economia nacional.
- Avaliar as vantagens e limitações do biodiesel no contexto das necessidades energéticas brasileiras.
Orientações
Explore com os estudantes os desafios da implementação dos biocombustíveis, como o custo elevado de produção e o aumento da demanda por soja. Incentive uma reflexão sobre o equilíbrio entre a produção de biocombustíveis e a segurança alimentar. Oriente-os a propor possíveis soluções, como diversificação de matérias-primas para a produção de biodiesel (mamona, girassol, dendê etc.) e inovações tecnológicas para melhorar a eficiência e reduzir os custos de produção.
Essa seção possibilita trabalhar o tema transversal Educação ambiental.
Respostas - Página 180
2. É necessário esperar certo tempo para que o termômetro troque calor com o corpo e entre em equilíbrio térmico com ele. Dessa maneira, a temperatura atingida pelo termômetro será, aproximadamente, a mesma que a temperatura do corpo.
5. início de fração, numerador: T subscrito F menos 32, denominador: 9, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito C, denominador: 5, fim de fração implica em início de fração, numerador: 35 vírgula 6 menos 32, denominador: 9, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito C, denominador: 5, fim de fração portanto T subscrito C é igual a 2 graus Celsius
6. início de fração, numerador: T subscrito C, denominador: 5, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito K menos 273, denominador: 5, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 313 menos 273, denominador: 5, fim de fração é igual a 40 sobre 5 portanto T subscrito C é igual a 40 graus Celsius
7. início de fração, numerador: T subscrito C, denominador: 5, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito F menos 32, denominador: 9, fim de fração implica em início de fração, numerador: T subscrito C, denominador: 5, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 59 menos 32, denominador: 9, fim de fração implica em T subscrito C é igual a 15 portanto T subscrito C é igual a 15 graus Celsius
8. A escala kelvin é definida em função da energia cinética das partículas que constituem o meio no qual a temperatura é medida. O zero dessa escala (ao contrário das escalas Celsius ou Fahrenheit, por exemplo) não é arbitrário, correspondendo à temperatura cuja energia cinética das partículas é nula.
9. 01) Falsa, pois ocorre a troca de calor da panela com água quente com o meio, o calor passa do corpo de maior temperatura para o de menor, fazendo que a panela com água quente entre em equilíbrio térmico com o ambiente mais frio, assim diminuindo sua temperatura. 02) Correta. 04) Correta, pela transferência de energia, o corpo de maior temperatura aquece o corpo de menor temperatura até entrar em equilíbrio térmico. 08) Falsa, pois início de fração, numerador: T subscrito F menos 32, denominador: 212 menos 32, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito X menos abre parênteses menos 20 fecha parênteses, denominador: 80 menos abre parênteses menos 20 fecha parênteses, fim de fração implica eminício de fração, numerador: T subscrito F menos 32, denominador: 180, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito X mais 20, denominador: 100, fim de fração implica em início de fração, numerador: T subscrito F menos 32, denominador: 9, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito X mais 20, denominador: 5, fim de fração implica eminício de fração, numerador: menos 130 menos 32, denominador: 9, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito X mais 20, denominador: 5, fim de fração implica em 9 vezes T subscrito X mais 180 é igual a menos 810 implica em9 vezes T subscrito X é igual a menos 990 portanto T subscrito X é igual a menos 110 graus X. 16) Correta.
Respostas - Página 186
1. I) Incorreta. A colher esquenta por condução. II) Correta. Conforme explicado no item anterior. III) Correta. Para que a colher não esquentasse, o cozinheiro poderia ter usado uma feita com material que conduzisse menos o calor, como a de madeira.
6. Convertendo a quantidade de calor para joule, temos:
Q é igual a 4 vírgula 2 vezes 99 portanto Q é igual a 415 vírgula 8 joules
Aplicando a relação do fluxo de calor, temos:
fi é igual a início de fração, numerador: Q, denominador: delta 't', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 415 vírgula 8, denominador: 41 vírgula 45, fim de fração é igual a 10 portanto fi é igual a 10 joules por segundo
Respostas - Página 187
7. a ) fi é igual a início de fração, numerador: Q, denominador: delta 't', fim de fração é igual a 500 sobre 10 portanto fi é igual a 50 calorias por segundo
b ) fi é igual a início de fração, numerador: Q, denominador: delta 't', fim de fração implica em 50 é igual a Q sobre 100 portanto Q é igual a 5.000 calorias
8. fi é igual a início de fração, numerador: k vezes A vezes abre parênteses T subscrito maior menos T subscrito menor fecha parênteses, denominador: e, fim de fração é igual a
é igual a início de fração, numerador: 2 vírgula 0 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 8 vírgula 0 vezes abre parênteses 25 vírgula 0 menos abre parênteses menos 6 vírgula 0 fecha parênteses fecha parênteses, denominador: 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a menos 2, fim de fração implica em
implica em fi é igual a início de fração, numerador: 16 vezes 31, denominador: 1 vírgula 5, fim de fração portanto fi é igual a 330 vírgula 66 calorias barra s
Página LIV
Respostas - Página 196
3. delta 'L' é igual a 'L' subscrito 0 vezes alfa subscrito Fe vezes delta T é igual a 24 vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6 vezes abre parênteses 42 menos 2 fecha parênteses implica em
implica em delta 'L' é aproximadamente igual a 0 vírgula 0 1056 portanto delta 'L' é aproximadamente igual a 1 centímetro
Assim, como os trilhos são colocados um ao lado do outro e ambos dilatam, eles devem ser afastados em no mínimo 2 centímetros para permitir a dilatação sem deformação da estrutura.
4. Para a chapa, teremos uma dilatação superficial abre parênteses beta é igual a 2 vezes alfa fecha parênteses:
delta A é igual a A subscrito 0 vezes beta subscrito aço vezes delta T implica em abre parênteses 20 vezes 20 fecha parênteses vezes 2 vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 200 portanto
portanto delta A é igual a 1 vírgula 76 centímetro quadrado
Assim, a nova área será:
A é igual a A subscrito 0 mais delta A é igual a 400 mais 1 vírgula 76 portanto A é igual a 401 vírgula 76 centímetros quadrados
6. 'C' é igual a início de fração, numerador: Q, denominador: delta T, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 5.000, denominador: abre parênteses 80 menos 10 fecha parênteses, fim de fração é igual a 5.000 sobre 70 portanto 'C' é aproximadamente igual a 71 vírgula 43 calorias barra grau Celsius
c é igual a início de fração, numerador: Q, denominador: 'm' vezes delta T, fim de fração implica em início de fração, numerador: 5.000, denominador: 500 vezes 70, fim de fração é igual a 5.000 sobre 35.000 portanto c é aproximadamente igual a 0 vírgula 14 caloria por grama vezes grau Celsius
8. gama é igual a 3 vezes alfa é igual a 3 vezes 23 vezes 10 elevado a menos 6 grau Celsius elevado a menos 1 portanto gama é igual a 69 vezes 10 elevado a menos 6 grau Celsius elevado a menos 1
Aplicando a fórmula da dilatação volumétrica:
delta V é igual a V subscrito 0 vezes gama vezes delta T é igual a 2.000 vezes 69 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 60 portanto delta V é igual a 8 vírgula 28 centímetros cúbicos
Respostas - Página 197
10. Q é igual a 'm' vezes 'L' é igual a 800 vezes 80 portanto Q é igual a 64.000 calorias
11. Q é igual a 'm' vezes c vezes delta T é igual a 500 vezes 1 vezes abre parênteses 36 vírgula 5 menos 5 fecha parênteses portanto Q é igual a 15.750 calorias
12. Q é igual a 1.000 calorias e delta T é igual a 10 graus Celsius, assim:
Q é igual a 'm' vezes c vezes delta T implica em 1.000 é igual a 800 vezes c vezes 10 implica em c é igual a 0 vírgula 125 portanto c é igual a
é igual a 0 vírgula 125 caloria por grama vezes grau Celsius
13. a ) A capacidade térmica pode ser calculada por:
'C' é igual a início de fração, numerador: Q, denominador: delta T, fim de fração é igual a início de fração, numerador: menos 800, denominador: menos 43 vírgula 5, fim de fração é aproximadamente igual a 18 vírgula 39 portanto 'C' é aproximadamente igual a 18 vírgula 39 calorias por grau Celsius
b ) Usando a equação fundamental da calorimetria:
Q é igual a 'm' vezes c vezes delta T implica em menos 800 é igual a 200 vezes c vezes abre parênteses menos 43 vírgula 5 fecha parênteses implica em
implica em c é aproximadamente igual a 0 vírgula 0 92 portanto c é aproximadamente igual a 0 vírgula 0 92 caloria por grama vezes grau Celsius
15. a ) Q é igual a 'm' vezes c vezes delta T implica em delta T é igual a início de fração, numerador: Q, denominador: 'm' vezes c, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 500, denominador: 150 vezes 0 vírgula 50, fim de fração portanto delta T é aproximadamente igual a 6 vírgula 7 graus Celsius
b ) Q é igual a 'm' vezes c vezes delta T implica em delta T é igual a início de fração, numerador: Q, denominador: 'm' vezes c, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 500, denominador: 200 vezes 4 vírgula 18, fim de fração portanto delta T é aproximadamente igual a 0 vírgula 6 graus Celsius
Capítulo 13 – A energia nos sistemas termodinâmicos - páginas 198 a 210
Objetivos do capítulo
- Compreender o conceito de sistemas conservativos.
- Identificar características de sistemas dissipativos.
- Diferenciar sistemas conservativos de sistemas dissipativos.
- Explorar o princípio da conservação de energia.
- Analisar exemplos práticos de sistemas conservativos e dissipativos.
Páginas 198 a 207
Na página 198, enfatize aos estudantes que um sistema corresponde a um grupo bem definido de átomos, moléculas, partículas ou corpos que se resume ao local a ser estudado. Cite exemplos como o planeta Terra, o corpo de um ser vivo, o vapor em alta temperatura no interior de uma máquina térmica, um líquido aquecido armazenado no interior de uma garrafa térmica, entre outros.
Diga aos estudantes que o mais importante é ser capaz de definir claramente o que está contido no sistema e o que está fora dele, além de compreender que, quando se adiciona energia a ele, o sistema pode usá-la para aumentar sua energia própria interna, se esta permanecer nele, ou para realizar um trabalho sobre os elementos que são externos a ele, caso a energia deixe o sistema.
Comente que um sistema termodinâmico é caracterizado por suas variáveis de estado termodinâmico e, quando conhecidos a massa, a pressão, o volume e a temperatura, as condições em que o sistema se encontra ficam caracterizadas, permitindo seu estudo.
Compartilhe ideias
O boxe Compartilhe ideias da página 198 leva os estudantes a identificar outros sistemas termodinâmicos que podem utilizar energia para a realização de trabalho. Eles podem citar, por exemplo, o motor a combustão interna, que converte a energia química do combustível em energia térmica, e a energia térmica em trabalho, simplificadamente.
Acompanhando a aprendizagem
Após estudar todos os três tipos de sistemas, reproduza na lousa uma imagem simples, mas que represente de maneira adequada os três sistemas citados, como a apresentada a seguir, em que as setas representam as trocas de matéria e calor com o ambiente. Em seguida, peça aos estudantes que identifiquem cada tipo de sistema e expliquem como os identificaram.



Representação de sistemas termodinâmicos.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 198 a 205 contribui para desenvolver as Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 2, pois auxilia os estudantes a compreender a aplicação do princípio da conservação de energia em sistemas termodinâmicos e analisar o planeta Terra como um desses sistemas, utilizando interpretações sobre sua dinâmica de aproveitamento da energia solar para aquecer o planeta, fundamental tanto para a manutenção da vida quanto para a biodiversidade terrestre. Também possibilita desenvolver as habilidades EM13CNT101 e EM13CNT102 ao abordar o conhecimento sobre as transformações e conservações em sistemas que envolvem quantidade de matéria e de energia, além de permitir previsões, avaliação de possíveis intervenções e construção de protótipos de sistemas térmicos, considerando a sua composição e os efeitos de suas variáveis termodinâmicas.
Página LV
O sistema conservativo abordado na página 204 pode ser trabalhado discutindo as propriedades do calorímetro e enfatizando o princípio da conservação da energia. Entretanto, chame a atenção dos estudantes para o fato de que em qualquer situação real o material trocará parte da energia com a substância que compõe o equipamento, sendo necessário conhecer sua capacidade térmica.
Prática científica - páginas 206 e 207
Objetivos
- Identificar e explicar as diferenças entre calor e temperatura.
- Interpretar dados para compreender as trocas de calor.
- Aplicar o princípio da conservação de energia.
Orientações
Comente com os estudantes que a troca de energia ocorre entre a chama do fogão e a panela, causando o aumento de sua temperatura interna. A troca de massa da panela de pressão com o ambiente ocorre por meio de uma das válvulas que estão em sua tampa. Essa válvula permite a saída de vapor, a fim de controlar a pressão no seu interior. Além disso, cite como exemplos de sistemas abertos água fervente em uma panela sem tampa e o corpo humano, e a atmosfera terrestre e a roupa de mergulho como exemplos de sistemas isolados.
Oriente os estudantes a não manipular o aquecedor e o recipiente com água aquecida. As etapas que envolvem esses materiais devem ser realizadas pelo professor. Oriente-os também a registrar no caderno todas as observações e questionamentos que surgirem durante a atividade.
Após a realização da atividade, a água pode ser descartada na pia e os outros materiais podem ser guardados e utilizados em outras atividades práticas.
Respostas
1. Espera-se que os estudantes utilizem materiais de fácil acesso, como recipientes ou embalagens recicláveis. Os materiais utilizados no sistema termodinâmico aberto devem ser condutores, e a substância em seu interior precisa ter contato direto com o meio externo. Já para o sistema isolado, os materiais devem ser isolantes, dificultando o máximo possível a troca de energia com o meio externo, e não podem permitir a perda de matéria para o ambiente, ou seja, ele deve ser vedado.
3. A troca de energia do sistema com o meio externo pode ser analisada por meio da temperatura. Portanto, afere-se a variação da temperatura em função do tempo. A troca de matéria pode ser analisada por meio da quantidade de massa da substância. Assim, afere-se a variação de massa do sistema.
9. Espera-se que os estudantes mencionem que a água no recipiente exposto diminuiu mais do que no calorímetro, o que indica que houve mais evaporação. O calorímetro foi mais eficiente em reduzir essa perda, pois impede a troca de calor com o ambiente, mantendo a água mais protegida e, assim, perdendo menos por evaporação.
11. Espera-se que os estudantes produzam um vídeo que traga uma análise sobre a diferença da evolução da temperatura de duas quantidades iguais de água, uma no calorímetro e outra exposta ao ambiente, ao longo do tempo. Além disso, os procedimentos executados para a realização da prática devem ser expostos de maneira clara e ordenada. Por fim, conclusões e resultados deverão ser destacados, a fim de mostrar as diferenças entre um sistema fechado e um sistema aberto.
Atividade extra
Se julgar interessante, proponha aos estudantes uma atividade em grupo para discutir a importância da energia contida nas ligações químicas para os sistemas e os organismos vivos. Para isso, divida a turma em grupos de quatro integrantes e peça a eles que respondam às seguintes questões.
- Por que a ingestão de alimentos é importante para a nossa sobrevivência?
- Por que, diferentemente dos seres humanos e outros animais, as plantas não precisam de grande complementação de outras substâncias para o seu desenvolvimento?
Proponha um momento para que os estudantes se reúnam durante a aula e respondam às questões. Peça-lhes que anotem suas conclusões em um material que possam entregar ao final da aula.
Além de contribuir para o desenvolvimento das Competências gerais 2 e 9 ao exercitar a curiosidade intelectual e utilizar o conhecimento das diferentes áreas, a atividade possibilita o trabalho com os professores dos componentes curriculares de Biologia e Química. Para finalizar, convide antecipadamente os professores desses componentes para uma aula em conjunto. O objetivo é dar um retorno para os estudantes quanto às suas respostas e proporcionar um momento para novas discussões sobre o tema.
Acompanhando a aprendizagem
Ao concluir o estudo do capítulo, peça aos estudantes que respondam novamente à primeira questão e comparem as respostas com as que deram no início do estudo. Essa abordagem os incentiva a fazer uma autoavaliação, comparando os conhecimentos anteriores com os que adquiriram ao longo do estudo do capítulo.
Respostas - Página 208
1. c ) Não. Sem o funcionamento do compressor, o calor não será removido e a temperatura interna começará a aumentar gradualmente por conta da transferência de calor do ambiente externo para o interior do refrigerador.
Página LVI
d ) Sendo 2 vírgula 5 horas é igual a 150 minutos, tem-se:
T maiúsculo abre parênteses 't' minúsculo fecha parênteses é igual a 2 vírgula 0 0 mais 0 vírgula 0 2 vezes 't' minúsculo implica em T maiúsculo abre parênteses 150 fecha parênteses é igual a 2 vírgula 0 0 mais 0 vírgula 0 2 vezes 150 é igual a
é igual a 5 vírgula 0 0 portanto T abre parênteses 150 fecha parênteses é igual a 5 vírgula 0 0 graus Celsius
e ) T maiúsculo abre parênteses 't' minúsculo fecha parênteses é igual a 2 vírgula 0 0 mais 0 vírgula 0 2 vezes 't' minúsculo implica em 4 vírgula 0 0 é igual a 2 vírgula 0 0 mais 0 vírgula 0 2 vezes 't' minúsculo implica em
implica em 't' é igual a início de fração, numerador: 4 vírgula 0 0 menos 2 vírgula 0 0, denominador: 0 vírgula 0 2, fim de fração portanto 't' é igual a 100 minutos
f ) Com o compressor desligado, abrir e fechar a porta da geladeira altera a temperatura interna, pois o ar quente do ambiente entra e não é removido, fazendo a temperatura subir gradualmente. Quando o compressor está ligado e a porta é aberta e fechada frequentemente, a conta de energia elétrica pode aumentar, pois o compressor precisa trabalhar mais para remover o calor extra que entra, resultando em mais consumo de energia.
5. a ) Aplicando a relação da conservação de energia, temos:
somatório Q é igual a 0 implica em Q subscrito água mais Q subscrito metal mais Q subscrito C é igual a 0 implica em
implica em 'm' subscrito água vezes c subscrito água vezes abre parênteses T menos T início subscrito, 0 subscrito água, fim subscrito fecha parênteses mais 'm' subscrito metal vezes c subscrito metal abre parênteses T menos T início subscrito, 0 subscrito metal, fim subscrito fecha parênteses é igual a 0 implica em
implica em 300 vezes 1 vezes abre parênteses 55 menos 20 fecha parênteses mais 80 vezes 0 vírgula 6 vezes abre parênteses 55 menos 315 fecha parênteses mais Q subscrito C é igual a 0 implica em
implica em 10.500 menos 12.480 mais Q subscrito C é igual a 0 portanto Q subscrito C é igual a 1.980 calorias
b ) Utilizando a relação da quantidade de calor para o calorímetro, temos:
Q subscrito 'C' é igual a 'C' subscrito C vezes delta T implica em 1.980 é igual a 'C' subscrito C vezes abre parênteses 55 menos 20 fecha parênteses implica em 'C' subscrito C é igual a 1.980 sobre 35 portanto 'C' subscrito C é aproximadamente igual a 56 vírgula 6 calorias por grau Celsius
c ) Aplicando a relação da conservação de energia, temos:
Q subscrito água mais Q subscrito metal é igual a 0 implica em 'm' subscrito água vezes c subscrito água vezes abre parênteses T menos T início subscrito, 0 subscrito água, fim subscrito fecha parênteses mais 'm' subscrito metal vezes c subscrito metal abre parênteses T menos T início subscrito, 0 subscrito metal, fim subscrito fecha parênteses é igual a 0 implica em
implica em 300 vezes 1 vezes abre parênteses T menos 20 fecha parênteses mais 80 vezes 0 vírgula 6 vezes abre parênteses T menos 315 fecha parênteses é igual a 0 implica em
implica em 300 vezes T menos 6.000 mais 48 vezes T menos 15.120 é igual a 0 implica em
implica em 348 vezes T é igual a 21.120 portanto T é aproximadamente igual a 60 vírgula 7 graus Celsius
Respostas - Página 210
11. Espera-se que os estudantes respondam que, nas condições citadas, o copo térmico pode ser classificado como um sistema fechado, pois troca somente energia com o ambiente.
12. O aquecimento do ar no interior do envelope faz suas moléculas se distanciarem umas das outras, assim, sua densidade diminui. Quando a força de empuxo (vertical e para cima) for maior do que a força peso (vertical e para baixo), o balão inicia o voo.
13. 'm' subscrito 1 vezes c subscrito água vezes delta T subscrito 1 é igual a menos abre parênteses 'm' subscrito 2 vezes c subscrito água vezes delta T subscrito 2 fecha parênteses
200 vezes abre parênteses T menos 20 fecha parênteses é igual a menos abre colchetes 400 vezes abre parênteses T menos 80 fecha parênteses fecha colchetes implica em 200 vezes T menos 4.000 é igual a
é igual a menos 400 vezes T mais 32.000 implica em
implica em 600 vezes T é igual a 36.000 implica em T é igual a 36.000 sobre 600 portanto T é igual a 60 graus Celsius
14. E subscrito d é igual a Q menos tau é igual a 1.000 menos 700 portanto E subscrito d é igual a 300 joules
15. Como o vapor está se condensando, ele está perdendo calor, portanto devemos utilizar 'L' subscrito v é igual a menos 540 calorias por gramas L. Assim:
Q início subscrito, 'L' subscrito v, fim subscrito mais Q subscrito v mais Q início subscrito, 'L' subscrito g, fim subscrito mais Q subscrito g é igual a 0 implica em
implica em 'm' subscrito v vezes 'L' subscrito v mais 'm' subscrito v vezes c vezes delta T mais 'm' subscrito g vezes 'L' subscrito f mais 'm' subscrito g vezes c vezes delta T é igual a 0 implica em
implica em 50 vezes abre parênteses menos 540 fecha parênteses mais 50 vezes 1 vezes abre parênteses 50 menos 100 fecha parênteses mais 'm' subscrito g vezes 80 mais 'm' subscrito g vezes 1 vezes abre parênteses 50 menos 0 fecha parênteses é igual a 0 implica em
implica em 130 vezes 'm' subscrito g é igual a 29.500 portanto 'm' subscrito g é aproximadamente igual a 227 gramas
Capítulo 14 - Hidrostática e hidrodinâmica - Páginas 211 a 227
Objetivos do capítulo
- Compreender o que é um fluido e suas propriedades.
- Entender o conceito de densidade.
- Estudar o que é pressão.
- Compreender como a pressão varia com a profundidade em um fluido.
- Investigar como mudanças na pressão em um ponto de um fluido fechado são transmitidas igualmente em todas as direções.
- Entender o conceito de empuxo e como ele explica o flutuar ou afundar de objetos em fluidos.
- Aprender a calcular a vazão de um fluido.
- Compreender e utilizar a equação da continuidade.
Páginas 211 a 215
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 211 a 215 contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3, pois possibilita aos estudantes investigar situações-problema e propor soluções com base no conhecimento científico e tecnológico. Também contempla a habilidade EM13CNT301 ao interpretar modelos explicativos e resultados experimentais para enfrentar uma situação-problema.
Ao iniciar o capítulo, questione os estudantes sobre os conceitos de massa, volume e densidade. Com base nas respostas, avalie os conhecimentos prévios deles sobre o assunto. Se achar interessante, apresente-lhes alguns exemplos relacionados aos conceitos de massa, volume e densidade. Para isso, use o exemplo de duas esferas idênticas, sendo uma maciça e outra oca; então, questione-os sobre o volume, a massa e a densidade de cada uma delas.
Ao definir o conceito de pressão, explique que apenas a componente normal da força aplicada exerce pressão sobre a área em questão. Em virtude disso, a pressão é uma grandeza física escalar.
Páginas 217 a 221
Acompanhando a aprendizagem
A finalidade da questão 2 da página 217 é analisar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o funcionamento de um elevador hidráulico. Depois de trabalhar o princípio de Pascal, peça a eles que retomem suas respostas sobre o funcionamento do elevador hidráulico. Se necessário, solicite-lhes que as complementem. Com isso, espera-se que eles compreendam a possibilidade de equilibrar uma força de grande intensidade com outra de menor intensidade.
Página LVII
Na página 218, ao iniciar o estudo sobre empuxo e flutuação de corpos em fluidos, explique aos estudantes que, mesmo que o objeto pareça ser mais leve, não existe alteração de sua massa nem de seu peso. O empuxo explica por que os objetos parecem mais leves quando imersos na água, por que os navios flutuam ou os balões sobem, entre outras situações. Ressalte que o empuxo é dirigido para cima e corresponde ao módulo da força peso do volume deslocado.
Prática científica - páginas 220 e 221
Objetivos
- Explicar o funcionamento do princípio de Pascal.
- Conhecer uma aplicação do princípio de Pascal.
Orientações
Oriente os estudantes para que tenham cuidado ao manipular as tachinhas. Após a montagem, as pontas delas poderão ficar aparentes na parte posterior dos palitos. Oriente-os a não as tocar.
Acompanhe a montagem da estrutura de palitos. Se algum estudante posicionar algum palito de forma inadequada, incentive-o a identificar o equívoco e solucionar o problema.
É essencial que a fixação da mangueira nas seringas não tenha vazamentos. Oriente-os a atentar à posição dos êmbolos das seringas antes de conectar as extremidades da mangueira.
Permita aos estudantes criar a própria versão, utilizando diferentes esquemas com os palitos de sorvete. No entanto, o objetivo final deve ser preservado.
Após a realização da atividade, os palitos de sorvete poderão ser descartados em coletor de material reciclável. O restante dos materiais poderá ser reutilizado em outras atividades práticas.
Páginas 223 a 226
O questionamento inicial da página 223 relaciona o aumento da velocidade à diminuição da pressão exercida por um fluido. Para abordar esse assunto, peça aos estudantes que realizem a mesma atividade prática descrita. Depois, promova uma conversa sobre os resultados obtidos. Explique que a velocidade do ar na superfície do papel aumenta, diminuindo a pressão, e, como a pressão de baixo da folha de papel (pressão atmosférica) é maior, ela empurra a folha para cima. Por fim, pergunte-lhes em quais situações do cotidiano esses efeitos são percebidos.
Ao trabalhar o escoamento de um fluido estacionário, na página 223, peça aos estudantes que considerem a seguinte situação: uma folha está boiando em um rio e, ao passar pela parte mais estreita dele, ela adquire mais velocidade. Questione-os por que isso ocorre.
Na página 224, o princípio de Bernoulli pode ser inicialmente abordado com questionamentos: "O movimento de uma bola através de um fluido pode ser alterado?"; "Como um avião pode ser sustentado no ar?". Por fim, comente que a equação de Bernoulli é uma aplicação da lei da conservação de energia entre dois pontos localizados no fluido.
Conexões com... - página 226
Objetivo
- Identificar como a vegetação e a fauna influenciam positivamente a estabilidade do solo.
- Investigar a urbanização desordenada, além das práticas agrícolas que impactam negativamente o solo.
Orientações
Inicie a abordagem dessa seção questionando os estudantes sobre a importância da cobertura vegetal para a proteção do solo.
Ao iniciar a abordagem do tema proposto, questione os estudantes sobre a importância do estudo dos efeitos das chuvas no solo relacionados com as questões ambientais e sociais.
Se julgar conveniente, apresente aos estudantes mais informações sobre racismo ambiental, acessando o site da Secretaria de Comunicação Social, disponível em: https://s.livro.pro/bmlf3l. Acesso em: 14 out. 2024.
Incentive uma troca de ideias entre os estudantes ao responder às questões sugeridas.
Respostas - Página 216
1. Ambos os cubos têm o mesmo volume, sendo 64 centímetros cúbicos. Para o primeiro cubo, tem-se:
mi subscrito A é igual a 'm' sobre V é igual a 173 sobre 64 é aproximadamente igual a 2 vírgula 7 gramas por centímetro cúbico portanto mi subscrito A é aproximadamente igual a 2 vírgula 7 vezes 10 elevado ao cubo quilogramas por metros cúbicos
Para o segundo, tem-se:
mi subscrito B é igual a 'm' sobre V é igual a 500 sobre 64 é aproximadamente igual a 7 vírgula 8 gramas por centímetro cúbico portanto mi subscrito B é aproximadamente igual a 7 vírgula 8 vezes 10 elevado ao cubo quilogramas por metros cúbicos
5. A pressão exercida por um fluido em um ponto depende apenas da altura do fluido sobre o ponto, ou seja, 8 centímetros abre parênteses 0 vírgula 0 8 metro fecha parênteses
p é igual a mi vezes 'g' vezes 'h' é igual a 10 elevado ao cubo vezes 10 vezes 0 vírgula 0 8 portanto p é igual a 800 pascals
V é igual a pi vezes r elevado ao quadrado vezes 'h' implica em 785 vírgula 4 é igual a 3 vírgula 14 vezes 25 vezes 'h' portanto 'h' é igual a 10 centímetros
6. p é igual a p subscrito atm mais d vezes 'g' vezes 'h' é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 mais 10 elevado ao cubo vezes 10 vezes 0 vírgula 1 portanto p é igual a 1 vírgula 0 1 vezes 10 elevado a 5 pascal
7. p subscrito 1 é igual a d subscrito 1 vezes 'g' vezes 'h' subscrito 1 é igual a p subscrito 2 é igual a d subscrito 2 vezes 'g' vezes 'h' subscrito 2 implica em d subscrito 1 vezes 'h' subscrito 1 é igual a d subscrito 2 vezes 'h' subscrito 2 implica em
implica em 'h' subscrito 2 é igual a início de fração, numerador: d subscrito 1 'h' subscrito 1, denominador: d subscrito 2, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 1 vezes 10 elevado ao cubo vezes 318 vírgula 25, denominador: 1 vírgula 24 vezes 10 elevado ao cubo, fim de fração é igual a 268 vírgula 0 2 metros
8. p subscrito 1 é igual a p subscrito 2 implica em d subscrito água vezes 'g' vezes 'h' subscrito água é igual a d subscrito óleo vezes 'g' vezes 'h' subscrito óleo implica em
implica em 1 vezes 2 é igual a d subscrito óleo vezes 2 vírgula 5 portanto d subscrito óleo é igual a 0 vírgula 8 grama por centímetro cúbico
9. p subscrito gás é igual a 140 menos 40 portanto p subscrito gás é igual a 100 milímetros de mercúrio é aproximadamente igual a 13.157 vírgula 2 pascals
10. Aplicando a relação da pressão do líquido, temos:
p é igual a d vezes 'g' vezes 'h' é igual a 1 vírgula 0 25 vezes 10 elevado ao cubo vezes 10 vezes 3.500 portanto p é igual a 3 vírgula 48 vezes 10 elevado a 7 pascal
Pela razão entre a pressão do líquido e a pressão atmosférica, temos:
início de fração, numerador: p, denominador: p subscrito atm, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 3 vírgula 48 vezes 10 elevado a 7, denominador: 1 vezes 10 elevado a 5, fim de fração portanto p é igual a 348 vezes p subscrito atm
11. Sabendo que 'h' é igual a 80 centímetros é igual a 0 vírgula 8 metro, temos:
delta p é igual a d vezes 'g' vezes 'h' é igual a 0 vírgula 8 vezes 10 elevado ao cubo vezes 10 vezes 0 vírgula 8 é igual a 6.400 portanto delta p é igual a 6.400 pascals
12. Para o bloco sobre a balança:
d é igual a início de fração, numerador: 'm' subscrito 1, denominador: V subscrito 1, fim de fração implica em 10 vírgula 5 é igual a início de fração, numerador: 250, denominador: V subscrito 1, fim de fração implica em V subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: 250, denominador: 10 vírgula 5, fim de fração portanto V subscrito 1 é igual a 23 vírgula 8 centímetros cúbicos
Para o bloco sobre a mesa:
d é igual a início de fração, numerador: 'm' subscrito 2, denominador: V subscrito 2, fim de fração implica em 10 vírgula 5 é igual a início de fração, numerador: 'm' subscrito 2, denominador: 15, fim de fração portanto 'm' subscrito 2 é igual a 157 vírgula 5 gramas
Página LVIII
Respostas - Página 222
2. a ) início de fração, numerador: 'F' subscrito 1, denominador: início de fração, numerador: pi vezes d subscrito 1 elevado ao quadrado, denominador: 4, fim de fração, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito 2, denominador: início de fração, numerador: pi vezes d subscrito 2 elevado ao quadrado, denominador: 4, fim de fração, fim de fração implica em 'F' subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: 4 vezes 20 vezes 10, denominador: 400, fim de fração portanto 'F' subscrito 1 é igual a 2 newtons
b ) V subscrito 1 é igual a V subscrito 2 implica em início de fração, numerador: pi vezes d subscrito 1 elevado ao quadrado, denominador: 4, fim de fração vezes 'h' subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: pi vezes d subscrito 2 elevado ao quadrado, denominador: 4, fim de fração 'h' subscrito 2 implica em 2 elevado ao quadrado vezes 0 vírgula 8 é igual a
é igual a 20 elevado ao quadrado vezes 'h' subscrito 2 portanto 'h' subscrito 2 é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3 m
3. b ) início de fração, numerador: 'F' subscrito 1, denominador: A subscrito 1, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito 2, denominador: A subscrito 2, fim de fração implica em 'F' subscrito 2 é igual a início de fração, numerador: A subscrito 2, denominador: A subscrito 1, fim de fração vezes 'F' subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: 9 vezes R subscrito 1 início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito 1, fim de fração vezes 10 implica em 'F' subscrito 2 é igual a 90 newtons
5. Como o objeto encontra-se em equilíbrio, a força resultante sobre ele é nula.
E é igual a 'F' subscrito p implica em d subscrito L vezes 'g' vezes V subscrito d é igual a d subscrito o b j vezes 'g' vezes V subscrito o b j implica em
implica em d subscrito L vezes V subscrito d é igual a d subscrito o b j vezes V subscrito o b j implica em 2 vezes V subscrito d é igual a 0 vírgula 8 vezes V subscrito o b j implica em
implica em V subscrito d é igual a 0 vírgula 4 vezes V subscrito o b j implica em V subscrito d é igual a 40 por cento V subscrito o b j
6. a ) E é igual a P implica em d vezes V vezes 'g' é igual a 'm' vezes 'g' implica em 0 vírgula 8 vezes V é igual a 500 portanto V é igual a 625 centímetros cúbicos
b ) E é igual a d vezes V vezes 'g' é igual a 800 vezes 625 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 é igual a 5 newtons
7. E é igual a P implica em d subscrito água vezes V início subscrito, sub, fim subscrito vezes 'g' é igual a 'm' vezes 'g' implica em d subscrito água vezes V subscrito sub é igual a 'm' subscrito gelo é igual a
é igual a d subscrito gelo vezes V subscrito gelo implica em d subscrito água vezes 0 vírgula 9 vezes V subscrito gelo é igual a d subscrito gelo vezes V subscrito gelo
d subscrito gelo é igual a 0 vírgula 9 vezes d subscrito água é igual a 0 vírgula 9 vezes 1.025 portanto d subscrito gelo é igual a 922 vírgula 5 quilogramas por metros cúbicos
8. Não, porque uma força aplicada no pistão de menor área de um elevador hidráulico realiza trabalho sobre ele, causando certo deslocamento e, em razão do princípio de Pascal, uma força de maior intensidade é aplicada no pistão de maior área, realizando o mesmo trabalho, de forma que esse pistão sofre um deslocamento menor, ou seja, a energia fornecida ao sistema se conserva, ocorrendo apenas uma multiplicação da força aplicada.
9. 'F' subscrito T mais 'F' subscrito P é igual a E implica em 'F' subscrito T mais 'm' vezes 'g' é igual a d subscrito L vezes 'g' vezes V subscrito d implica em
implica em 'F' subscrito T mais 0 vírgula 8 vezes 10 é igual a 1.000 vezes 10 vezes 3 vírgula 5 vezes 10 elevado a menos 3 implica em
10. início de fração, numerador: 'F' subscrito 1, denominador: A subscrito 1, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito 2, denominador: A subscrito 2, fim de fração implica em início de fração, numerador: 'F' subscrito 1, denominador: pi vezes R subscrito 1 elevado ao quadrado, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 'm' vezes 'g', denominador: pi vezes R subscrito 2 elevado ao quadrado, fim de fração implica em início de fração, numerador: 'F' subscrito 1, denominador: pi vezes abre parênteses 5 vezes 10 elevado a menos 2 fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração é igual a
é igual a início de fração, numerador: 20 vezes 10, denominador: pi vezes abre parênteses 20 vezes 10 elevado a menos 2 fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em início de fração, numerador: 'F' subscrito 1, denominador: pi vezes 25 vezes 10 elevado a menos 4, fim de fração é igual a
é igual a início de fração, numerador: 200, denominador: pi vezes 400 vezes 10 elevado a menos 4, fim de fração implica em 'F' subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: 200 vezes 25, denominador: 400, fim de fração portanto 'F' subscrito 1 é igual a 12 vírgula 5 newton
Respostas - Página 227
1. fi é igual a início de fração, numerador: V, denominador: delta 't', fim de fração implica em 72 é igual a início de fração, numerador: 259 vírgula 2 vezes 10 elevado ao cubo, denominador: delta 't', fim de fração portanto delta 't' é igual a 3.600 segundos é igual a 1 hora
2. fi é igual a A vezes v é igual a 20 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 5 é igual a 0 vírgula 0 1 metro cúbico por segundo
fi é igual a A vezes v é igual a 2 vírgula 5 vezes 30 é igual a 75 centímetros cúbicos por segundo
3. a ) fi é igual a início de fração, numerador: V, denominador: delta 't', fim de fração implica em delta 't' é igual a V sobre fi é igual a 1 sobre 75 portanto delta 't' é igual a 1 vírgula 3 vezes 10 elevado a menos 2 s
b ) fi é igual a A vezes v implica em 75 é igual a 2 vezes v portanto v é igual a 37 vírgula 5 centímetros por segundo
4. a ) fi é igual a início de fração, numerador: delta V, denominador: delta 't', fim de fração é igual a 1.000 sobre 200 portanto fi é igual a 5 litros barra minuto
b ) A é igual a pi vezes R elevado ao quadrado é igual a pi vezes 5 elevado ao quadrado portanto A é aproximadamente igual a 79 centímetros quadrados ou A é aproximadamente igual a 7 vírgula 9 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados
fi é igual a 5 litros por minuto é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por minuto
fi é igual a A vezes v implica em 5 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 7 vírgula 9 vezes 10 elevado a menos 4 vezes v portanto v é igual a 0 vírgula 63 metro por minuto
5. A subscrito 1 vezes v subscrito 1 é igual a A subscrito 2 vezes v subscrito 2 implica em 6 vezes 5 é igual a 3 vezes v subscrito 2 portanto v subscrito 2 é igual a 10 metros por segundo
6. fi é igual a início de fração, numerador: 40 vezes 6 vírgula 5 vezes 10 elevado a menos 5, denominador: 1, fim de fração é igual a 2 vírgula 6 vezes 10 elevado a menos 3 L barra s
fi é igual a início de fração, numerador: V, denominador: delta 't', fim de fração implica em V é igual a fi vezes delta 't' implica em V é igual a
é igual a 2 vírgula 6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes abre parênteses 30 vezes 24 vezes 60 fecha parênteses portanto V é igual a 112 vírgula 32 litros
Retome o que estudou - página 227
1. Espera-se que os estudantes respondam que a maior parte das ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol está na faixa da luz visível, a qual pode ser percebida por meio do sentido da visão.
2. Essa questão possibilita verificar a compreensão dos estudantes em relação aos efeitos da absorção ou perda de calor por uma substância. Espera-se que eles respondam que uma substância que absorve ou perde calor pode ter sua temperatura variada, suas dimensões alteradas e também mudar de fase. Eles podem citar ainda que estruturas como viadutos precisam de juntas de dilatação para que não ocorram rachaduras ou rompimento da estrutura quando sua temperatura variar e ocorrer a dilatação térmica.
3. Essa questão possibilita verificar se os estudantes conseguem diferenciar o calor utilizado na mudança de temperatura e o utilizado na mudança de fase. Eles devem citar que o calor sensível é a quantidade de calor que foi recebida ou perdida na mudança de temperatura de uma substância ou de um corpo. Já o calor latente é a quantidade de calor relacionada à mudança de fase, que altera o estado de agregação das partículas que compõem a substância.
4. Espera-se que os estudantes mencionem o fato de que um sistema termodinâmico é composto de matéria e energia, cujas quantidades são mantidas dentro de uma fronteira, limitando a região a ser estudada.
5. Espera-se que no esquema elaborado pelos estudantes sejam relacionados os sistemas aberto, fechado e isolado, caracterizando-os pela maneira em que se dá sua interação com o meio ou pela ausência da interação. Os estudantes poderão mencionar a panela de pressão, a atmosfera terrestre e a caixa térmica como exemplos para cada tipo de sistema, respectivamente, ou outros dispositivos que estejam relacionados ao seu cotidiano.
6. Espera-se que os estudantes respondam que a água não escoa em razão da pressão atmosférica que atua equilibrando a coluna de água no interior do copo, assim como ocorre no experimento de Torricelli, no qual a pressão atmosférica equilibrou a coluna de mercúrio no interior do tubo utilizado no experimento.
Unidade 4 Energia e Sociedade
Objetivos da unidade
- Elencar vantagens e desvantagens de cada tipo de usina elétrica que faz parte da matriz energética brasileira.
- Conceituar grandezas elétricas e analisar o consumo e a eficiência de aparelhos elétricos.
- Analisar como ocorrem as reações de fissão e fusão nuclear.
- Analisar acidentes relacionados a reações nucleares a fim de refletir sobre os cuidados necessários para evitá-los.
- Compreender os princípios da relatividade de Einstein (1879-1955), reconhecendo o contexto histórico e científico no qual ela foi desenvolvida.
Página LIX
- Compreender o espectro de radiação de um corpo aquecido e sua importância para a criação da Mecânica quântica.
- Compreender a dualidade da luz: de onda e de partícula.
Justificativas
Ao abordar a geração e a transmissão de energia elétrica, os estudantes a analisam e descrevem as principais vantagens e desvantagens dos tipos de usina, além de elencar possíveis medidas de uso consciente e responsável dessa energia. Tais temas contribuem para desenvolver as habilidades EM13CNT106, EM13CNT309 e EM13CNT310. Para que os estudantes analisem todo o processo de geração e distribuição de energia elétrica, essa unidade os incentiva a analisar a estrutura atômica de materiais bons e maus condutores, o que contribui para desenvolver a habilidade EM13CNT307. Outros conceitos abordados que também auxiliam os estudantes a refletir sobre medidas para reduzir o consumo de energia elétrica são o de resistência e de potência elétrica, colaborando para o desenvolvimento das habilidades EM13CNT107 e EM13CNT308.
Além disso, serão tratados conceitos sobre as reações nucleares apresentando alguns acidentes nucleares e a aplicação da fissão nuclear na geração de energia elétrica, colaborando para desenvolver as habilidades EM13CNT103 e EM13CNT104 em conjunto com os componentes curriculares de Biologia e Química. Ainda serão abordados a teoria da relatividade de Einstein e o desenvolvimento da Física quântica, incentivando a valorização do conhecimento científico construído ao longo do tempo, o que contempla as Competências gerais 1, 2 e 7 e as Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 3.
Abertura da unidade - páginas 232 e 233
Ao trabalhar as páginas de abertura da unidade, pergunte aos estudantes o que eles sabem sobre energia nuclear e radioatividade. Possivelmente, citarão situações negativas, como bombas atômicas, lixo nuclear, câncer, mutações, entre outros. É até esperado que haja certo nível de receio por parte da população geral quando o assunto é radioatividade, em razão dos desastres nucleares em usinas e das bombas atômicas. Enfatize que a radioatividade não tem somente aspectos negativos, mas também positivos, com muitas aplicações mais próximas de nosso cotidiano, como na Medicina, na geração de energia elétrica e na esterilização de lavouras.
Diga aos estudantes que, assim como ocorre em qualquer outra área da Ciência, a aplicação da radioatividade deve ser tratada de forma ética e consciente, respeitando as medidas de segurança e seguindo métodos.
Respostas
a ) Espera-se que os estudantes respondam que isso é possível pelo incentivo de formas de energia renováveis e por estudos sobre os impactos na área onde será implantado determinado tipo de usina elétrica, dando preferência a usinas que agridam menos o ambiente e gerem menos danos sociais, como o deslocamento de comunidades.
b ) O objetivo dessa questão é fazer os estudantes compartilharem seus conhecimentos com os colegas. Eles podem citar acidentes nucleares como os de Chernobyl (1986), Goiânia (1987) e Fukushima (2011), este o mais recente.
c ) Resposta pessoal. Espera-se que eles comentem que essa área estuda fenômenos na escala subatômica e teve origem no conceito da quantização de energia absorvida e/ou emitida pelos átomos, isto é, os átomos só podem absorver e emitir energia em quantidades específicas (discretas).
Capítulo 15 - Energia elétrica e Sociedade - páginas 234 a 243
Objetivos do capítulo
- Identificar as principais fontes de energia renováveis e não renováveis utilizadas no Brasil.
- Analisar os impactos do aumento no consumo de energia elétrica na sociedade e no meio ambiente.
- Compreender o funcionamento de diferentes usinas elétricas.
- Avaliar os aspectos positivos e negativos das usinas elétricas.
Páginas 234 a 241
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 234 e 241 favorece o desenvolvimento da Competência específica 3 da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e a habilidade EM13CNT310 ao possibilitar aos estudantes que reflitam sobre as tecnologias relacionadas à geração de energia elétrica, além de identificar necessidades locais e regionais em relação à oferta e à demanda desse tipo de energia, buscando avaliar e/ou promover ações que melhorem a qualidade de vida das pessoas.
Caso julgue conveniente, utilize a estratégia Debate ao abordar a questão 1. Mais orientações sobre essa estratégia estão nas páginas XI e XII destas Orientações para o professor. Oriente os estudantes a formar duplas e peça-lhes que pesquisem na internet reportagens que auxiliem na resposta e que as anotem no caderno. Incentive-os a pesquisar os impactos ambientais causados pelas diferentes usinas que geram energia elétrica (termelétricas que usam combustíveis fósseis, instalação de barragens para usinas hidrelétricas, resíduos radioativos de usinas nucleares etc.), além de fontes renováveis para a geração de energia elétrica, como energia eólica, solar, biomassa, entre outras.
Comente que, segundo os dados de consumo de energia elétrica divulgados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), contidos na página 234 do Livro do Estudante, esse consumo tem aumentado nos últimos anos. Comente também que essa tendência pode estar relacionada ao crescimento populacional, assim como ao aumento do acesso a aparelhos eletrônicos.
Página LX
Integrando o conhecimento
A tabela da página 234 favorece um trabalho com o componente curricular de Geografia. Junto ao professor desse componente, sugira aos estudantes que analisem o consumo de energia elétrica informado na tabela considerando as distribuições demográfica e de renda. Promovam uma discussão sobre os principais fatores que influenciam o consumo. Sugira aos estudantes que acessem o site indicado como fonte dos dados da tabela para obter mais informações sobre o consumo de energia elétrica no Brasil.
Esse tipo de pesquisa incentiva os estudantes a utilizar ferramentas das culturas juvenis para obter informações sobre temas relevantes em nossa sociedade.
Compartilhe ideias - página 234
Nesse boxe, os estudantes devem analisar o uso de energia elétrica no cotidiano deles e, com isso, refletir se são consumidores conscientes ou não. Eles podem se lembrar de diversas atividades relacionadas ao uso de aparelhos elétricos, como usar o celular ou o computador; preparar alimentos em um liquidificador; iluminar ambientes com lâmpadas; tomar banho aquecido com chuveiro elétrico; passar roupa; armazenar alimentos na geladeira ou aquecê-los no micro-ondas etc. Também podem pensar em atitudes como não deixar lâmpadas ligadas em ambientes desocupados; não demorar muito no banho; desligar os aparelhos elétricos que não estejam sendo utilizados; comprar aparelhos que economizem energia elétrica etc.
Ao trabalhar as usinas elétricas na página 235, comente que os longos períodos sem chuva, que colaboram para que o nível nos reservatórios de água diminua, bem como a falta de investimentos por parte do governo para distribuir energia por meio de fontes alternativas, implicam problemas na oferta de energia. Explique que isso já causou períodos de apagão no Brasil nos anos de 2001, 2002 e 2021, o que acarretou grandes prejuízos para a população.
Compartilhe ideias - página 236
Essa atividade contribui para desenvolver o pensamento computacional ao incentivar os estudantes a usar fundamentos da computação para organizar as etapas de obtenção e análise dos dados e a plotagem do gráfico sugerido. É importante, nesse processo, orientá-los para que dividam a atividade em etapas, a fim de facilitar a elaboração de uma solução.
Acesse os infográficos disponíveis no site da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para identificar as principais fontes de energia elétrica no Brasil, auxiliando os estudantes na atividade proposta. Disponível em: https://s.livro.pro/HuVw2W. Acesso em: 30 set. 2024.
Solicite aos estudantes que organizem os dados de forma que consigam montar um gráfico de setores, conforme mostrado na página. Com base nele, podem verificar se há mais fontes renováveis ou não renováveis na matriz elétrica da região onde vivem.
Quando iniciar a página 237, explique aos estudantes que, embora a energia elétrica seja gerada pelas hidrelétricas como uma fonte renovável, implantar esse tipo de usina causa problemas sociais e ambientais. Os sociais se referem diretamente à população que vive ao redor da área onde será construída a barragem. Já em relação aos impactos ambientais, o acúmulo de água inundará e destruirá grandes áreas de vegetação, além de modificar e/ou prejudicar a biodiversidade da região.
Ao citar as usinas termelétricas, comente com os estudantes que o Brasil tem em torno de 319 dessas usinas, que são acionadas em períodos de estiagem como forma de suprir a demanda nos horários de pico. Entretando, elas tornam a conta de luz mais cara e são altamente poluentes, pois a queima de combustíveis fósseis contribui para o aquecimento global e a emissão de poluentes causadores de problemas respiratórios.
Atividade extra
Ao finalizar o capítulo, proponha um júri simulado sobre a implantação de uma usina nuclear em sua cidade. Divida os estudantes em grupos: uma equipe com cinco integrantes representa pessoas favoráveis à implantação da usina; outra, também com cinco estudantes, representa os que são contrários à sua instalação; o restante da turma representa os jurados, que ouvem e anotam as principais justificativas dos dois grupos, votam e argumentam no debate. Os grupos podem usar slides, vídeos, cartazes e outros materiais para ilustrar suas alegações. Estipule as regras do debate, como tempo disponível para cada grupo, réplicas e preparo do tema, que podem ser combinadas com o auxílio dos estudantes. Você pode atuar como juiz ou designar algum estudante, indicado por votação.
Acompanhando a aprendizagem
Após a exposição dos tipos de usinas elétricas nas páginas 237 a 239, peça aos estudantes que se sentem em pares para responder à atividade 2 da página 242. Solicite o compartilhamento das respostas com a turma, discutindo sobre a importância das fontes de energia renováveis.
Ao final do capítulo, solicite aos estudantes um infográfico com os pontos positivos e negativos de cada usina elétrica, que pode ser feito digitalmente ou à mão. Esses infográficos podem ser realizados individualmente ou em duplas e finalizados com uma apresentação para a turma ou à comunidade escolar.
Ligado no tema - páginas 240 e 241
Objetivos
- Reconhecer a importância da busca por energias renováveis.
- Identificar as iniciativas de energia renovável na matriz energética brasileira.
- Conhecer as vantagens e desvantagens das energias renováveis.
Orientações
Durante a leitura da seção, verifique se os estudantes identificam os impactos ambientais causados, entre outros fatores, pelo uso excessivo de combustíveis fósseis e se reconhecem a necessidade de buscar fontes renováveis de energia. Verifique também o que eles entendem por fontes renováveis de energia; se necessário, promova uma conversa sobre esse assunto antes de prosseguir com a leitura da seção.
Página LXI
Incentive os estudantes a pesquisar informações complementares ao abordar as questões e a trabalhar em grupos, desenvolvendo a Competência geral 9.
Respostas - Páginas 242 e 243
1. Ambas as afirmativas podem ser consideradas verdadeiras. No caso da afirmativa a, as turbinas e os geradores das usinas elétricas não produzem energia, apenas transformam energia de diferentes fontes em energias mecânica e elétrica. Na afirmativa b, considerando a participação da energia solar no ciclo da água, na movimentação de massa de ar na atmosfera e na fotossíntese das plantas soterradas e, consequentemente, transformadas em petróleo, o Sol atuou como fonte primária da energia da água, do vento e dos combustíveis fósseis.
2. a ) As principais vantagens das usinas hidrelétricas se referem à utilização de fonte renovável de energia, ao fato de não emitirem gases poluentes e ao baixo custo para gerar energia.
b ) As usinas hidrelétricas são afetadas pela falta de chuva, o que pode diminuir o nível dos reservatórios, prejudicando assim a geração de energia elétrica. Já as usinas solares fotovoltaicas podem ser afetadas pelo mau tempo ou céu nublado, diminuindo o potencial de gerar energia elétrica, pois dependem da luz solar.
6. O argumento contra a energia nuclear não está de todo equivocado, pois fatores humanos, como erros no manuseio dos equipamentos e catástrofes ambientais espalhando material radioativo nos solos, além de ser alvo em período de guerras, tornam essa energia perigosa. Contudo, ela é sustentável e atende às necessidades da população atual sem comprometimento das gerações futuras e com os devidos cuidados. Além disso, é considerada uma energia limpa e economicamente viável, desde que siga uma série de padronizações, o que ajuda a reduzir os preços de energia elétrica.
10. A queima de biomassa e gás natural libera dióxido de carbono abre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses e metano abre parênteses C H subscrito 4 fecha parênteses, ambos gases de efeito estufa e que contribuem para o aquecimento global. Embora o dióxido de carbono liberado seja recapturado por novas plantas, o ciclo pode ser ineficiente e a captura pode não compensar totalmente as emissões. Além do dióxido de carbono, a combustão de biomassa libera outros poluentes, como monóxido de carbono abre parênteses C O fecha parênteses, óxidos de nitrogênio abre parênteses NO subscrito x fecha parênteses, compostos orgânicos voláteis e material particulado, que não são recapturados.
11. a ) Inicialmente, as placas solares e as torres de energia eólica captam a energia solar e dos ventos, respectivamente, e convertem em energia elétrica. Essa energia é armazenada em baterias, que alimentam o equipamento que faz a hidrólise da água. Esse processo libera hidrogênio, que é armazenado em tanques, que abastecem caminhões, e estes, por sua vez, distribuem o produto.
Capítulo 16 - Transmissão de energia elétrica - páginas 244 a 268
Objetivos do capítulo
- Identificar as diferenças entre condutores e isolantes.
- Descrever o princípio de conservação de cargas elétricas.
- Compreender os três processos de eletrização (atrito, contato e indução).
- Calcular a intensidade da força elétrica entre duas cargas pontuais utilizando a fórmula da lei de Coulomb.
- Explicar o conceito de campo elétrico e sua relação com as forças exercidas sobre cargas de prova.
- Descrever o significado das linhas de campo elétrico e sua indicação de direção e o sentido do campo elétrico.
- Definir o conceito de potencial elétrico e como ele se relaciona com a energia potencial de uma carga em um campo elétrico.
- Explicar o funcionamento e as aplicações do capacitor elétrico.
- Descrever o conceito de corrente elétrica.
- Explicar a diferença entre corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA).
- Analisar a relação entre corrente, tensão e resistência em um circuito elétrico simples.
- Identificar os componentes básicos de um circuito elétrico (resistores, capacitores, fontes de energia etc.).
- Explicar a relação entre potência elétrica, corrente e tensão.
Páginas 244 a 254
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 244 a 254 favorece o desenvolvimento das Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 3 e a habilidade EM13CNT307, pois fornece subsídios que possibilitam aos estudantes analisar propriedades dos materiais a fim de avaliar sua utilização em diferentes aplicações, cotidianas ou tecnológicas, e propor soluções seguras e sustentáveis.
Ao iniciar a abordagem da página 244, apresente aos estudantes o conceito de circuito elétrico por meio de um exemplo de circuito elétrico simples, composto de uma pilha com fios conectados a uma lâmpada. Se julgar interessante, monte esse circuito para demonstrar aos estudantes que a pilha é a fonte de energia análoga à usina geradora cuja energia chega até a lâmpada (o usuário) por meio de um circuito (sistema de distribuição).
Em relação à supercondutividade, na página 245, se julgar conveniente, mostre à turma vídeos sobre o fenômeno da levitação magnética. O da Universidade de Sherbrooke explica a relação entre a temperatura e o fenômeno da supercondutividade. Disponível em: https://s.livro.pro/ggrzmi. Acesso em: 30 set. 2024.
Prática científica - página 247
Objetivos
- Identificar os processos de eletrização por atrito, contato e indução.
- Analisar a distribuição e a conservação das cargas elétricas.
Página LXII
Orientações
Essa atividade pode ser proposta antes ou depois da apresentação dos processos de eletrização. Antes da apresentação, é uma forma de analisar os conceitos prévios dos estudantes sobre o assunto. Após a explicação, constitui um meio de demonstrar e analisar possíveis dúvidas e equívocos sobre os processos de eletrização e carga elétrica.
Comente com os estudantes que eles podem utilizar papel sulfite para substituir o pano de lã e canudos de plástico para bebidas para substituir o bastão de plástico. Ao final da atividade, os materiais podem ser usados em outras atividades práticas, com exceção do papel-alumínio, que deve ser reciclado.
Na página 252, comente que as linhas de campo elétrico permitem descobrir a direção e o sentido do vetor campo elétrico, pois este apontará na direção e no sentido que tangencia a linha de campo. O módulo do campo elétrico, por sua vez, é estimado pela proximidade entre as diferentes linhas de campo, sendo maior onde a densidade de linhas é maior, e vice-versa.
Ao relacionar o trabalho com a diferença de potencial, explique aos estudantes que trabalho é uma grandeza relacionada com a variação da energia entre dois corpos ou sistemas, sendo determinado também pelo produto entre a força aplicada e o deslocamento causado. Assim, temos: tau início subscrito, A B, fim subscrito é igual a 'F' vezes delta 's' início subscrito, A B, fim subscrito implica em tau início subscrito, A B, fim subscrito é igual a delta E início subscrito, A B, fim subscrito é igual a E subscrito A menos E subscrito B.
Para mover uma carga q ao longo de uma linha de força de um campo elétrico entre dois pontos A e B, é necessário que a força elétrica realize trabalho sobre ela, variando assim sua energia potencial elétrica, de forma que: tau início subscrito, 'F' subscrito E, fim subscrito é igual a E início subscrito, PE subscrito A, fim subscrito menos E início subscrito, PE subscrito B, fim subscrito.
Como a energia potencial elétrica é dada por E subscrito PE é igual a início de fração, numerador: k vezes Q vezes q, denominador: d, fim de fração e o potencial elétrico é dado pela expressão V é igual a início de fração, numerador: k vezes Q, denominador: d, fim de fração, chegamos à seguinte expressão: tau início subscrito, 'F' subscrito E, fim subscrito é igual a E início subscrito, PE subscrito A, fim subscrito menos E início subscrito, PE subscrito B, fim subscrito implica em tau início subscrito, 'F' subscrito E, fim subscrito é igual a q vezes abre parênteses V subscrito A menos V subscrito B fecha parênteses implica em tau início subscrito, 'F' subscrito E, fim subscrito é igual a q vezes U portanto U é igual a início de fração, numerador: tau início subscrito, 'F' subscrito E, fim subscrito, denominador: q, fim de fração.
Páginas 257 a 264
Ao abordar o tema Corrente elétrica na página 257, explique que a velocidade dos elétrons (velocidade de deriva) geralmente é da ordem de milímetro por segundo (milímetros por segundo).
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 257 a 260 favorece o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3 e a habilidade EM13CNT308, pois proporciona aos estudantes a capacidade de analisar o funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos e de compreender as tecnologias contemporâneas.
Ao trabalhar o tema Resistência elétrica na página 259, é possível utilizar um modelo mecânico para a resistência elétrica composto de um plano inclinado com pregos. Esferas são liberadas do alto da rampa e, de acordo com a densidade dos pregos, as esferas se deslocarão com mais ou menos dificuldade, eventualmente ficando presas pelo caminho. Um exemplo do experimento pode ser visto no vídeo indicado a seguir. Disponível em: https://s.livro.pro/gb8db2. Acesso em: 30 set. 2024.
Automação do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica - página 261
No boxe complementar Automação do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, da página 261, comente que, graças a esses sistemas automatizados empregados no sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, é possível isolar problemas que ocorrem na rede e evitar grandes apagões.
Essa pode ser uma oportunidade para abordar o projeto de vida dos estudantes, visto que a área de automação necessita de profissionais capacitados para produzir os programas e sistemas de monitoramento e as inteligências artificiais que identificam e corrigem as falhas automaticamente. Portanto, eles devem procurar uma formação profissional na área de programação e computação para desenvolver tais programas. Essa abordagem contribui para trabalhar o tema contemporâneo transversal Trabalho, além de aspectos das culturas juvenis.
Atividade extra
Para trabalhar com circuitos, pode ser realizada uma atividade com o uso do simulador on-line Phet, disponível em: https://s.livro.pro/zv92sd. Acesso em: 30 set. 2024. Antes da atividade, os estudantes devem pesquisar sobre o uso do amperímetro e do voltímetro. No simulador, solicite que construam um circuito simples com pelo menos uma fonte de tensão, um resistor e lâmpadas. Peça-lhes que utilizem o amperímetro para medir a corrente em diferentes partes do circuito e o voltímetro para medir a diferença de potencial em diversos pontos. Após as medições, discuta com os estudantes as variações na corrente e na tensão observadas em diferentes pontos do circuito e a relação entre a configuração do circuito e os valores medidos.
Prática científica - páginas 262 e 263
Objetivos
- Investigar as grandezas físicas associadas a um circuito elétrico simples.
- Realizar medidas de tensão e de correntes elétricas usando um multímetro.
- Identificar os riscos de conectar diversos aparelhos elétricos a uma mesma tomada ao comportamento das grandezas tensão e corrente elétrica.
Orientações
Se julgar pertinente, explique aos estudantes que os fusíveis são projetados para suportar uma corrente máxima. Se excedido o valor tolerável para a corrente elétrica que passa por ele, o fusível se rompe, interrompendo a passagem da corrente. Comente também que em residências há outros equipamentos de segurança, como os disjuntores, que desligam o circuito elétrico em situações de risco, por exemplo, quando a corrente extrapola os valores permitidos.
Para montar o experimento, o ideal é que os LEDs sejam do mesmo modelo, pois algumas especificações técnicas podem variar, como a corrente elétrica necessária para ligá-los. Também é necessário observar as especificações do LED comprado, como material, potência, tensão, corrente e as relações entre essas grandezas.
Página LXIII
É importante atentar à leitura da corrente, pois o posicionamento errado da ponta de prova do multímetro pode danificar o equipamento.
Conexões com... - página 264
A abordagem dessa seção contribui para o desenvolvimento dos temas contemporâneos transversais Ciência e tecnologia, Saúde e Educação alimentar e nutricional. Além disso, permite a integração de conceitos trabalhados pelos componentes curriculares que compõem a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, contribuindo para o desenvolvimento das Competências gerais 2 e 8 e da Competência específica 3 da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, pois os estudantes são incentivados a utilizar conhecimentos científicos para avaliar situações relacionadas à própria saúde, por exemplo.
Comente com os estudantes que a impedância pode ser interpretada como a resistência elétrica total de um circuito e que sua medida depende das resistências elétricas de cada elemento do circuito. No caso do corpo humano, os órgãos internos, os músculos, a gordura, a pele, entre outras partes, têm valores de resistência elétrica diferentes.
Enfatize a importância do acompanhamento médico para a manutenção da saúde, pois é perigoso tomar atitudes por conta própria em relação à alimentação em razão do risco de desenvolver distúrbios nutricionais.
Páginas 266 e 267
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 266 e 267 favorece o desenvolvimento da Competência específica 3 da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e a habilidade EM13CNT308, pois leva os estudantes a desenvolver a capacidade de analisar o funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos e compreender as tecnologias contemporâneas. Além disso, ao trabalhar o tema Cuidados com a energia elétrica, são abordados possíveis danos à saúde causados pelo uso incorreto de energia elétrica e dos aparelhos eletroeletrônicos, visando à segurança, o que colabora para o desenvolvimento das habilidades EM13CNT306 e EM13CNT309.
Cuidados com a energia elétrica - página 267
Ao abordar os Cuidados com a energia elétrica da página 267, apresente aos estudantes a entrevista (em áudio) do professor Eduardo Asada, do Departamento de Engenharia Elétrica e Computação da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, publicada no Jornal da USP, que trata dos perigos do choque elétrico para o corpo humano, como evitar acidentes fatais com eletricidade e o que acontece quando uma corrente elétrica percorre o corpo humano. Disponível em: https://s.livro.pro/te43fu. Acesso em: 30 set. 2024.
Respostas - Páginas 255 e 256
4. A carga elétrica líquida será positiva, pois a quantidade de prótons restante é maior do que a de elétrons. Ela será dada por: Q é igual a n vezes e é igual a abre parênteses 6 vezes 10 elevado a 24 menos 4 vezes 10 elevado a 23 fecha parênteses vezes 1 vírgula 6 vezes 10 elevado a menos 19 portanto Q é igual a 8 vírgula 96 vezes 10 elevado a 5 C.
9. Montando um diagrama da situação, temos:
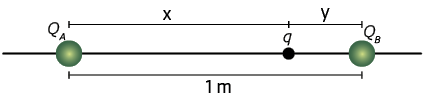
Para que a carga de prova fique em equilíbrio, as forças exercidas pelas cargas fixas sobre ela devem ser iguais, portanto:
'F' início subscrito, A q, fim subscrito é igual a 'F' início subscrito, B q, fim subscrito implica em início de fração, numerador: k vezes símbolo de uma barra vertical Q subscrito A símbolo de uma barra vertical vezes símbolo de uma barra vertical q símbolo de uma barra vertical, denominador: x elevado ao quadrado, fim de fração é igual a início de fração, numerador: k vezes símbolo de uma barra vertical Q subscrito B símbolo de uma barra vertical vezes símbolo de uma barra vertical q símbolo de uma barra vertical, denominador: y elevado ao quadrado, fim de fração implica em
implica em início de fração, numerador: 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 18 vezes 10 elevado a menos 6 vezes q, denominador: x elevado ao quadrado, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes q, denominador: y elevado ao quadrado, fim de fração implica em
implica em x elevado ao quadrado é igual a início de fração, numerador: 162 vezes 10 elevado ao cubo vezes q vezes y elevado ao quadrado, denominador: 18 vezes 10 elevado ao cubo vezes q, fim de fração implica em início de raiz quadrada; x elevado ao quadrado fim de raiz quadrada é igual a início de raiz quadrada; 9 vezes y elevado ao quadrado fim de raiz quadrada portanto x é igual a 3 vezes y
Como a distância total mede 1 metro, temos que: x mais y é igual a 1 implica em 3 vezes y mais y é igual a 1 implica em 4 vezes y é igual a 1 portanto y é igual a 0 vírgula 25 centímetro e x é igual a 75 centímetros.
10. Considerando o referencial positivo para a direita e sabendo que E subscrito 12 é o campo elétrico da carga q subscrito 1 e que E subscrito 32 é o campo elétrico da carga q subscrito 3, ambos na posição de q subscrito 2, temos que o módulo do campo resultante vale:
E é igual a E subscrito 32 menos E subscrito 12 implica em E é igual a início de fração, numerador: k vezes q subscrito 3, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração menos início de fração, numerador: k vezes q subscrito 1, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração implica em
implica em E é igual a início de fração, numerador: 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 4 vírgula 0 vezes 10 elevado a menos 6, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração menos início de fração, numerador: 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 16 vezes 10 elevado a menos 6, denominador: abre parênteses 2 vezes d fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração implica em
implica em E é igual a início de fração, numerador: 36 vezes 10 elevado ao cubo, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração menos início de fração, numerador: 36 vezes 10 elevado ao cubo, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração portanto E é igual a 0 N barra C
12. Sabendo que 4 centímetros é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 m e que a diagonal do quadrado mede d é igual a lado vezes raiz quadrada de 2, temos:
V subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: k vezes Q subscrito 1, denominador: d subscrito 1, fim de fração implica em V subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: 9 vezes 10 elevado a 9 vezes abre parênteses menos 9 vezes 10 elevado a menos 6 fecha parênteses, denominador: 4 vezes 10 elevado a menos 2, fim de fração implica em
implica em V subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: menos 81 vezes 10 elevado ao cubo, denominador: 4 vezes 10 elevado a menos 2, fim de fração portanto V subscrito 1 é aproximadamente igual a menos 2 vezes 10 elevado a 6 V
V subscrito 2 é igual a início de fração, numerador: k vezes Q subscrito 2, denominador: d subscrito 2, fim de fração implica em V subscrito 2 é igual a início de fração, numerador: 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 15 vezes 10 elevado a menos 6, denominador: 4 vezes 10 elevado a menos 2 vezes raiz quadrada de 2, fim de fração implica em
implica em V subscrito 2 é igual a início de fração, numerador: 135 vezes 10 elevado ao cubo, denominador: 5 vírgula 6 vezes 10 elevado a menos 2, fim de fração portanto V subscrito 2 é aproximadamente igual a 2 vírgula 4 vezes 10 elevado a 6 V
Então, o potencial resultante V subscrito R vale: V subscrito R é igual a V subscrito 1 mais V subscrito 2 implica em V subscrito R é igual a menos 2 vezes 10 elevado a 6 mais 2 vírgula 4 vezes 10 elevado a 6 portanto V subscrito R é igual a 4 vezes 10 elevado a 5 V.
13. Pela relação da capacitância, temos: 'C' é igual a Q sobre U portanto U é igual a Q sobre 'C'.
Quadruplicando a carga elétrica acumulada pelo capacitor, a diferença de potencial também será quadriplicada: 'C' linha é igual a início de fração, numerador: 4 vezes Q, denominador: U linha, fim de fração implica em U linha é igual a início de fração, numerador: 4 vezes Q, denominador: 'C' linha, fim de fração portanto U linha é igual a 4 vezes U.
Página LXIV
14. Pela relação da capacitância, temos: 'C' é igual a Q sobre U implica em 20 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a Q sobre 60 portanto Q é igual a 1 vírgula 2 vezes 10 elevado a menos 3 C.
15. 01) Falsa, pois atração e repulsão são explicadas pelo campo elétrico, que é uma propriedade da carga, e a força elétrica nos diz o quanto a carga é atraída ou repelida pela equação 'F' é igual a E vezes q. 02) Falsa, pois as linhas de campo elétrico saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. 04) Falsa, pois mesmo elas sendo diretamente proporcionais, para uma carga positiva 3Q e uma carga negativa Q, a direção do campo elétrica é contrária à direção da força. 08) Correta. 16) Correta, pois U é igual a início de fração, numerador: tau início subscrito, 'F' subscrito E, fim subscrito, denominador: q, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito E vezes d, denominador: q, fim de fração é igual a E vezes d implica em portanto E é igual a U sobre d que tem como unidade o volt por metro abre parênteses V barra m fecha parênteses.
Respostas - Página 265
1. A quantidade de carga pode ser obtida por meio da área do gráfico: Q é igual a área é igual a início de fração, numerador: abre parênteses B maiúsculo mais b minúsculo fecha parênteses vezes 'h', denominador: 2, fim de fração é igual a início de fração, numerador: abre parênteses 8 mais 2 fecha parênteses vezes 46 vezes 10 elevado a menos 3, denominador: 2, fim de fração portanto Q é igual a 0 vírgula 23 C.
Aplicando a relação da carga elétrica, temos: Q é igual a n vezes e implica em 0 vírgula 23 é igual a n vezes 1 vírgula 6 vezes 10 elevado a menos 19 implica em n é igual a início de fração, numerador: 0 vírgula 23, denominador: 1 vírgula 6 vezes 10 elevado a menos 19, fim de fração implica em portanto n é igual a 1 vírgula 44 vezes 10 elevado a 18 elétrons.
3. a ) Aplicando a relação da lei de Ohm, temos: U é igual a R vezes i implica em 12 é igual a 10.000 vezes i portanto i é igual a 1 vírgula 2 vezes 10 elevado a menos 6 ampere.
b ) Aplicando a relação da primeira lei de Ohm, temos: U é igual a R vezes i implica em 12 é igual a 1.000 vezes i portanto i é igual a 0 vírgula 0 12 ampere.
5. 01) Verdadeira. Com base na relação da segunda lei de Ohm: R é igual a rô vezes 'L' sobre A é igual a 1 vírgula 6 vezes 10 elevado a menos 5 vezes início de fração, numerador: 8, denominador: 4 vezes 10 elevado a menos 6, fim de fração portanto R é igual a 32 ômegas.
02) Falsa. Pela primeira lei de Ohm: U é igual a R vezes i é igual a 32 vezes 4 portanto U é igual a 128 Volts.
04 ) Falsa. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento; logo, se o comprimento cai pela metade, sua resistência também cai pela metade.
08) Verdadeira.
6. Na associação em série: U é igual a R início subscrito, e q, fim subscrito vezes i implica em 12 é igual a abre parênteses R subscrito 1 mais R subscrito 2 fecha parênteses vezes 4 terços implica em R subscrito 1 mais R subscrito 2 é igual a 9.
Na associação em paralelo: 12 é igual a início de fração, numerador: R subscrito 1 vezes R subscrito 2, denominador: R subscrito 1 mais R subscrito 2, fim de fração vezes 5 vírgula 4 implica em12 é igual a início de fração, numerador: R subscrito 1 vezes R subscrito 2, denominador: 9, fim de fração vezes 5 vírgula 4 implica em R subscrito 1 vezes R subscrito 2 é igual a 20.
Temos, então, as seguintes equações:
abre chaves. linha 1: R subscrito 1 mais R subscrito 2 é igual a 9 implica em R subscrito 1 é igual a 9 menos R subscrito 2. linha 2: R subscrito 1 vezes R subscrito 2 é igual a 20 implica em abre parênteses 9 menos R subscrito 2 fecha parênteses vezes R subscrito 2 é igual a 20.
implica em 9 R subscrito 2 menos R subscrito 2 elevado ao quadrado é igual a 20 implica em R subscrito 2 elevado ao quadrado menos 9 R subscrito 2 mais 20 é igual a 0
R subscrito 2 é igual a início de fração, numerador: 9 mais ou menos início de raiz quadrada; abre parênteses menos 9 fecha parênteses elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 20 fim de raiz quadrada, denominador: 2, fim de fração
As raízes são R subscrito 2 é igual a 5 ou R subscrito 2 é igual a 4.
Logo, temos: R subscrito 2 é igual a 5 ômega implica em R subscrito 1 é igual a 4 ômega e R subscrito 2 é igual a 4 ômega implica em R subscrito 1 é igual a 5 ômega.
7. Nas associações em paralelo, temos que:
início de fração, numerador: 1, denominador: R subscrito eq, fim de fração é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 200 é igual a 100 ômegas.
Na associação em série, temos que:
R subscrito e q é igual a 100 mais 100 é igual a 200 ômegas.
Respostas - Página 268
2. Aplicando a relação da potência elétrica, temos:
P é igual a U vezes i implica em 3.500 é igual a 220 vezes i implica em i é igual a 15 vírgula 9 Amperes.
3. Associando primeiro R subscrito 4 com R subscrito 5, que estão em paralelo, e posteriormente com R subscrito 3:
início de fração, numerador: 1, denominador: R início subscrito, e q 1, fim subscrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 1, denominador: R subscrito 4, fim de fração mais início de fração, numerador: 1, denominador: R subscrito 5, fim de fração é igual a 1 quarto mais 1 quarto é igual a 2 quartos implica em R início subscrito, e q 1, fim subscrito é igual a 2 portanto R início subscrito, e q 1, fim subscrito é igual a 2 ômega
R início subscrito, e q 2, fim subscrito é igual a R início subscrito, e q 1, fim subscrito mais R subscrito 3 é igual a 2 mais 3 é igual a 5 portanto R início subscrito, e q 2, fim subscrito é igual a 5 ômega
Associando R subscrito 1 com R subscrito 2: R início subscrito, e q 3, fim subscrito é igual a R subscrito 1 mais R subscrito 2 é igual a 1 mais 2 é igual a 3 portanto R início subscrito, e q 3, fim subscrito é igual a 3 ômega.
Temos:
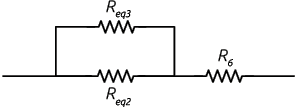
Assim, associando R início subscrito, eq 3, fim subscrito com R início subscrito, eq 2, fim subscrito, tem-se R início subscrito, eq 4, fim subscrito:
início de fração, numerador: 1, denominador: R início subscrito, e q 4, fim subscrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 1, denominador: R início subscrito, e q 3, fim subscrito, fim de fração mais início de fração, numerador: 1, denominador: R início subscrito, e q 2, fim subscrito, fim de fração é igual a 1 terço mais 1 quinto é igual a 8 15 avos implica em
implica em R início subscrito, e q 4, fim subscrito é igual a 15 sobre 8 portanto R início subscrito, e q 4, fim subscrito é igual a 15 sobre 8 ômega.
Por fim, associando R início subscrito, e q 4, fim subscrito com R subscrito 6 em série:
R subscrito e q é igual a R início subscrito, e q 4, fim subscrito mais R subscrito 6 é igual a 15 sobre 8 mais 1 oitavo implica em R subscrito e q é igual a 16 sobre 8 portanto R subscrito e q é igual a 2 ômegas.
Logo, a potência dissipada pelos resistores é dada por: P é igual a início de fração, numerador: U elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 10 elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração portanto P é igual a 50 watts.
4. Consumo de energia:
E é igual a P vezes delta 't' implica em E é igual a 2.000 vezes 4 vezes 30 portanto E é igual a 240 quilowatts-hora
Custo: 240 vezes 0 vírgula 50 é igual a valor em reais 120 vírgula 0 0.
5. I ) Falsa. Aplicando a relação para a quantidade de calor da calorimetria, temos:
Q é igual a 'm' vezes c vezes delta tau é igual a 1 vezes 4 vírgula 2 vezes 10 elevado ao cubo vezes 60 portanto Q é igual a 2 vírgula 52 vezes 10 elevado a 5 Joules
II ) Falsa. Aplicando a relação da potência elétrica, temos: P é igual a início de fração, numerador: E, denominador: delta 't', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 2 vírgula 52 vezes 10 elevado a 5, denominador: 25 vezes 60, fim de fração portanto P é igual a 168 watts.
III ) Verdadeira. Aplicando a relação da potência elétrica, temos: P é igual a início de fração, numerador: U elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração implica em 168 é igual a início de fração, numerador: 110 elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração portanto R é aproximadamente igual a 72 ômegas.
6. a ) P é igual a início de fração, numerador: U elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração implica em R é igual a início de fração, numerador: 220 elevado ao quadrado, denominador: 6.050, fim de fração portanto R é igual a 8 ômega.
b ) P é igual a início de fração, numerador: U elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração implica em R é igual a início de fração, numerador: 110 elevado ao quadrado, denominador: 8, fim de fração portanto R é igual a 1.512 vírgula 5 ômegas.
c ) P é igual a início de fração, numerador: U elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração implica em 6.050 é igual a início de fração, numerador: 110 elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração portanto R é igual a 2 ômegas.
d ) Aplicando a relação do consumo de energia elétrica, temos: E é igual a P vezes delta 't' é igual a 6.050 vezes 0 vírgula 5 portanto E é igual a 3 vírgula 0 25 quilowatts-hora.
7. Espera-se que os alunos discutam que a ideia da pessoa era de aumentar a potência diminuindo a resistência elétrica do chuveiro ao cortar o resistor pela metade, ou seja, R é igual a rô vezes 'L' sobre A implica em R subscrito novo é igual a rô vezes início de fração, numerador: 'L' sobre 2, denominador: A, fim de fração implica em R subscrito novo é igual a 1 meio vezes rô vezes 'L' sobre A portanto R subscrito novo é igual a 1 meio vezes R, com isso a corrente elétrica e a
Página LXV
potência aumentariam. No entanto, as peças dos chuveiros elétricos têm especificações para funcionar com uma potência específica, o aumento na corrente elétrica poderia gerar sobreaquecimento no resistor, queimando-o, com a possibilidade de causar um acidente também.
8. a ) Como cada célula produz 150 mV e o animal tem 5.700, a ddp total é dada por: U é igual a 5.700 vezes 150 vezes 10 elevado a menos 3 portanto U é igual a 855 Volts.
A potência então é dada por: P é igual a U vezes i é igual a 855 vezes 2 portanto P é igual a 1.710 watts.
b ) Convertendo o tempo para horas, temos: delta 't' é igual a 10 segundos vezes início de fração, numerador: 1 hora, denominador: 3.600 segundos, fim de fração portanto delta 't' é igual a 1 sobre 360 h.
Assim, a energia elétrica é dada por: E subscrito E é igual a P vezes delta 't' é igual a 1.710 vezes 1 sobre 360 portanto E subscrito E é igual a 4 vírgula 75 quilowatts-hora.
Capítulo 17 - Geração de energia elétrica - páginas 269 a 277
Objetivos do capítulo
- Definir o conceito de gerador e identificar os tipos e suas propriedades.
- Compreender o conceito de força eletromotriz.
- Identificar como a variação do fluxo magnético em um condutor faz surgir uma corrente elétrica.
- Identificar a aplicação da lei de Faraday nos processos de geração de energia elétrica e nos transformadores.
- Compreender como a corrente e a tensão alternada são aplicadas na geração de energia elétrica.
- Compreender e analisar o funcionamento dos transformadores.
- Diferenciar as potências total, útil e dissipada em um gerador.
- Definir o conceito de rendimento de um gerador.
Páginas 269 a 275
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 266 a 268 trabalha as Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e 3, pois possibilita aos estudantes compreender o aprimoramento de tecnologias para obter energia elétrica, além de permitir discussões em relação à utilização tanto das tecnologias tradicionais quanto das inovadoras relacionadas à busca por fontes alternativas de geração de energia. Também possibilita desenvolver a habilidade EM13CNT107 ao abordar o conhecimento sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas e transformadores com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos.
A manchete apresentada na página 269 contempla as habilidades EM13CNT303 e EM13CNT309, pois promove a leitura e a interpretação de textos de divulgação científica e possibilita debates quanto a questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência atual de recursos não renováveis e à necessidade de aplicar novas tecnologias, como as dos diferentes tipos de motores de veículos de transporte. Além de desenvolver os temas contemporâneos transversais Ciência e tecnologia e Educação ambiental.
Na página 269, comente a indução eletromagnética explicando que, ao mover um ímã no interior de uma espira, uma corrente elétrica é induzida nela, fenômeno chamado de indução eletromagnética e que deu início à era da eletricidade. Assim, quando um ímã é empurrado para o interior de uma bobina, provoca-se uma voltagem induzida e as cargas no seu fio são movimentadas.
Atividade extra
Ao abordar o tema da página 269, aproveite o momento para perguntar aos estudantes: "O processo para acender as lanternas autorrecarregáveis tem algo em comum com uma usina elétrica?". Espera-se que eles respondam que sim, pois o processo usado nas lanternas é semelhante ao dos geradores das usinas elétricas, em que o movimento relativo entre um ímã e uma bobina induz uma corrente elétrica no condutor. Oriente-os a anotar as respostas ao questionamento, pois o assunto será retomado na página 271, no estudo sobre os conceitos e o funcionamento dos geradores de energia elétrica.
Essa atividade contribui para o desenvolvimento da Competência geral 2, pois possibilita à turma exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das Ciências, incluindo a investigação, a reflexão e a análise crítica, para investigar causas e elaborar hipóteses.
Ao tratar dos conceitos de força eletromotriz induzida na página 270, ressalte o que é preciso para que ela ocorra em um sistema: é necessário que ocorra apenas movimento relativo entre a fonte de campo magnético e o condutor. Sua intensidade depende da rapidez desse movimento.
Ao abordar a página 271, retome as respostas dos estudantes sobre a geração de energia elétrica e ressalte que nos geradores de energia elétrica a voltagem é induzida, movimentando uma bobina, em vez de um ímã, dentro de um campo magnético estacionário.
Compartilhe ideias - página 272
Peça aos estudantes que iniciem essa atividade conversando a respeito do que sabem sobre a utilização de equipamentos com voltagem diferente daquelas fornecidas pela rede de distribuição de energia elétrica, como os celulares. Em seguida, com base no que conversaram, eles devem pesquisar a função dos transformadores no funcionamento de diversos equipamentos elétricos usados cotidianamente.
Ao abordar os conceitos de potência e de rendimento de geradores elétricos na página 272, explique aos estudantes que, na transformação de algum tipo de energia – por exemplo, transformação da energia cinética do vento em energia elétrica –, simultaneamente há produção de energia térmica, o que significa que a potência total da transformação será uma composição da potência útil com a potência dissipada na forma de calor.
Comente que o conceito de rendimento de um gerador está relacionado à energia total produzida, ou bruta, da qual é diminuída a energia dissipada pelo próprio gerador, resultando em uma potência líquida que será utilizada.
Página LXVI
A guerra das correntes - página 273
Ao trabalhar o conteúdo do boxe A guerra das correntes, na página 273, aproveite para enfatizar a importância dos conhecimentos historicamente construídos e de sua contribuição para o desenvolvimento das Ciências, contemplando, assim, a Competência geral 1. A abordagem desse tema por meio da análise de um filme aproxima os conhecimentos científicos do universo das culturas juvenis ao levar os estudantes a desenvolver uma postura crítica diante desse tipo de mídia.
Se julgar oportuno, comente que a energia elétrica é gerada e transmitida para os consumidores na forma de tensão e corrente elétrica alternada. No Brasil, a frequência da rede de energia elétrica é 60 hertz.
Na corrente alternada (CA), em vez de se moverem ao longo do condutor, os elétrons executam um movimento oscilatório em torno de uma posição de equilíbrio enquanto a energia elétrica é transmitida. Em uma rede de 60 hertz, os elétrons alternam seu sentido de movimento cerca de 60 vezes por segundo.
BNCC em contexto
A atividade sugerida na seção Prática científica, além de exercitar a curiosidade, a investigação, a reflexão e a análise crítica, contribuindo para o desenvolvimento da Competência geral 2, possibilita aos estudantes praticar a empatia, a troca de ideias e o respeito às opiniões dos colegas, o que contempla a Competência geral 9. Também lhes permite analisar a situação-problema e avaliar a aplicabilidade do conhecimento científico e tecnológico, interpretando modelos explicativos para construir, avaliar e justificar conclusões sob uma perspectiva científica, o que contribui para o desenvolvimento da habilidade EM13CNT301.
Prática científica - páginas 274 e 275
Objetivos
- Construir um gerador elétrico simples.
- Analisar o processo de transformação de energia em um gerador elétrico.
- Descrever os efeitos observados em um gerador e as variáveis que influenciam seu funcionamento.
Orientações
Auxilie os estudantes na preparação dos materiais e na montagem do dispositivo, principalmente nas etapas nas quais é necessário furar o papelão, a fim de evitar acidentes. Atue como mediador no processo de montagem, incentivando-os a encontrar soluções para os problemas que surgirem. Após a montagem, peça que identifiquem procedimentos que são semelhantes em montagens de geradores elétricos e procurem montar outro tipo de gerador seguindo os mesmos princípios.
Oriente os estudantes a se certificarem de que o elástico esteja bem esticado. Caso a polia patine, incentive-os a identificar e solucionar o problema.
Após a atividade, o papelão deve ser encaminhado para reciclagem. Os outros materiais podem ser reaproveitados em outras atividades.
Respostas - Páginas 276 e 277
5. a ) Com base nas informações do enunciado, tem-se U subscrito p é igual a 13.800 V, U subscrito s é igual a 127 V e N subscrito p é igual a 10.000 voltas. Assim, utilizando a relação para transformadores: início de fração, numerador: U subscrito p, denominador: U subscrito s, fim de fração é igual a início de fração, numerador: N subscrito p, denominador: N subscrito s, fim de fração implica em 13.800 sobre 127 é igual a início de fração, numerador: 10.000, denominador: N subscrito s, fim de fração implica em N subscrito s é igual a início de fração, numerador: 127 vezes 10.000, denominador: 13.800, fim de fração portanto N subscrito s é aproximadamente igual a 92 voltas.
b ) Sendo P é igual a U vezes i, em que P subscrito p é igual a P subscrito s, tem-se:
U subscrito p vezes i subscrito p é igual a U subscrito s vezes i subscrito s implica em 13.800 vezes i subscrito p é igual a 127 vezes i subscrito s implica em início de fração, numerador: i subscrito s, denominador: i subscrito p, fim de fração é igual a 13.800 sobre 127 portanto início de fração, numerador: i subscrito s, denominador: i subscrito p, fim de fração é aproximadamente igual a 108 vírgula 7.
6. a ) Utilizando a relação da potência total, temos: P subscrito t é igual a épsilon vezes i é igual a 2 vezes 0 vírgula 1 é igual a 0 vírgula 2 portanto P subscrito t é igual a 0 vírgula 2 watt.
b ) Aplicando a relação da potência dissipada, temos: P subscrito d é igual a r vezes i elevado ao quadrado é igual a 0 vírgula 2 vezes 0 vírgula 1 elevado ao quadrado é igual a 0 vírgula 0 0 2 portanto P subscrito d é igual a 0 vírgula 0 0 2 watt.
c ) Aplicando a relação da potência útil, temos: P subscrito u é igual a P subscrito t menos P subscrito d é igual a 0 vírgula 2 menos 0 vírgula 0 0 2 é igual a 0 vírgula 198 portanto P subscrito u é igual a 0 vírgula 198 watt.
7. a ) U é igual a épsilon menos r vezes i é igual a 9 menos 3 vezes 0 vírgula 6 é igual a 9 menos 1 vírgula 8 portanto U é igual a 7 vírgula 2 Volts
b ) etá é igual a U sobre épsilon é igual a início de fração, numerador: 7 vírgula 2, denominador: 9, fim de fração portanto etá é igual a 0 vírgula 8 é igual a 80 por cento
Capítulo 18 - Reações nucleares - páginas 278 a 289
Objetivos do capítulo
- Descrever a fissão e a fusão nuclear, identificando os elementos envolvidos em cada processo.
- Avaliar os desafios tecnológicos e de segurança associados ao uso da fissão nuclear em reatores.
- Conhecer os riscos de um acidente nuclear.
- Identificar a diferença entre dose absorvida e dose equivalente.
- Analisar os impactos biológicos de diferentes tipos de radiação.
- Reconhecer formas naturais e artificiais de radiação.
- Descrever as implicações históricas e as consequências do desenvolvimento da bomba atômica.
Páginas 278 a 287
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 278 a 287 favorece o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e as habilidades EM13CNT103 e EM13CNT104 ao levar os estudantes a analisar criticamente a utilização da energia nuclear para a geração de energia elétrica, assim como fazer uma avaliação dos riscos e benefícios da radioatividade à saúde. Também permite o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3 e da habilidade EM13CNT306, pois possibilita aos estudantes que apliquem o que aprenderam para defender a adoção de comportamentos de segurança, com intuito de resguardar a integridade física. Além disso, por meio da análise do funcionamento de equipamentos eletrônicos destinados a quantificar os níveis de radiação, eles podem avaliar os impactos sociais e ambientais das radiações, o que contempla a habilidade EM13CNT308.
Página LXVII
Ao iniciar o capítulo na página 278, explique aos estudantes que a energia é gerada no núcleo do Sol por meio de uma reação chamada fusão nuclear entre dois núcleos de hidrogênio abre parênteses H fecha parênteses, originando um átomo de hélio abre parênteses H e fecha parênteses e a liberação de energia na forma de radiação eletromagnética (fótons). Entretanto, entre o início e o fim do processo, ocorrem complexas reações em etapas intermediárias, com produção de deutério, por exemplo. Esse processo intermediário entre hidrogênio e hélio é chamado cadeia próton-próton (ou ciclo próton-próton) e pode ser esquematizado como na imagem a seguir.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
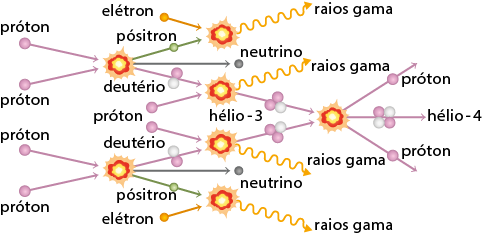
Imagem produzida com base em: OLIVEIRA FILHO, K. S.; SARAIVA, M. F. O. Fusão termo-nuclear. Porto Alegre: UFRGS, 2013. Disponível em: https://s.livro.pro/kubujv. Acesso em: 9 ago. 2024.
Atividade extra
Se julgar conveniente, ao iniciar a página 281, divida os estudantes em oito grupos. Cada grupo deverá pesquisar e apresentar imagens e informações sobre diferentes temas relacionados às radiações. É possível definir antecipadamente qual tema cada grupo pesquisará por sorteio, por exemplo. Alguns temas possíveis: diferentes tipos de radiação (alfa, beta, gama etc.); efeitos das radiações nos organismos; descarte de rejeitos radioativos; acidentes ocorridos ao longo da história (Chernobyl, Goiânia, Fukushima etc.); e equipamentos de proteção individual (EPIs) para proteção radiológica e sua regulamentação.
Utilize a estratégia de metodologia ativa Seminário para que eles apresentem as informações pesquisadas aos colegas. Para isso, confira orientações sobre essa estratégia nas páginas XI e XII destas Orientações para o professor.
Ao abordar na página 281 os acidentes nucleares, comente que a energia nuclear é muito útil para fins medicinais ou para gerar energia elétrica, mas que, mesmo nesses casos, podem ocorrer acidentes, causando a morte de muitas pessoas e afetando o meio ambiente.
Explique aos estudantes o acidente no município de Goiânia, que ocorreu por conta de um descarte inadequado de material radioativo.
Para mais informações sobre esses acidentes, acesse o artigo a seguir: GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS. Secretaria da Saúde. História do Césio 137 em Goiânia. 21 jan. 2020. Disponível em: https://s.livro.pro/z33hv3. Acesso em: 31 out. 2024.
Se julgar interessante, as referências a seguir tratam dos acidentes radioativos de Fukushima, em 2011, e Chernobyl, em 1986.
- JAPÃO eleva gravidade de vazamento radioativo em Fukushima; entenda. BBC News Brasil, 21 ago. 2013. Disponível em: https://s.livro.pro/qstsua. Acesso em: 31 out. 2024.
- CHERNOBYL 37 anos depois: sobrevivente conta o que aconteceu após desastre nuclear. National Geographic, 26 abr. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/aixgop. Acesso em: 31 out. 2024.
Medidores de radiação - página 283
No boxe Medidores de radiação da página 283, explique também que a maior parte dos exames médicos é inofensiva, como o raio-X dentário. Outros, como a tomografia computadorizada, expõem o paciente a doses maiores de radiação; entretanto, os profissionais de saúde têm bastante conhecimento sobre esses fatos, e os benefícios de tais exames são relevantes para que o tratamento médico correto seja administrado. Além disso, são realizados com pouca regularidade, assim a somatória da dose de radiação anual permanece inferior ao nível de risco. Tudo isso é bem diferente das situações relatadas dos acidentes nucleares, em que as doses foram extremamente altas.
Mais informações sobre as radiações e como elas fazem parte do cotidiano podem ser encontradas no site da Agência Internacional de Energia Atômica (Iaea). Disponível em: https://s.livro.pro/sdy335. Acesso em: 31 out. 2024.
Ao abordar o modelo padrão de partículas na página 284, comente que prótons, nêutrons e elétrons não são as únicas partículas subatômicas conhecidas. Explique aos estudantes que existem muitas outras partículas (como neutrinos, pósitrons, múons e píons) e que a Física de partículas é o ramo que estuda esses constituintes da matéria.
Integrando o conhecimento
Além de ser utilizada de forma pacífica para gerar energia elétrica, a energia nuclear foi historicamente empregada para a construção de bombas nucleares. A abordagem histórica do desenvolvimento dessas bombas, apresentada na página 280, possibilita o trabalho conjunto com os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, preferencialmente com o professor do componente curricular de História, pois trata do desenvolvimento desse dispositivo em seu respectivo contexto histórico durante a Segunda Guerra Mundial, até serem lançadas pelos Estados Unidos sobre os municípios japoneses de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, e suas consequências para a população local e para o fim do conflito.
Página LXVIII
Além disso, a abordagem contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 5, que visa combater diversas formas de injustiça e violência por meio de princípios éticos e solidários.
Acompanhando a aprendizagem
Ao finalizar o tema das páginas 278 a 280, solicite aos estudantes que se reúnam em duplas para responder às questões 2, 3 e 4 da página 288. Solicite que compartilhem com a turma suas respostas, identificando possíveis dúvidas sobre fissão e fusão nuclear.
Ao iniciar a abordagem do boxe complementar sobre medidores de radiação da página 283, pergunte aos estudantes se eles sabem quais são os efeitos que a radiação provoca nos materiais e como isso pode ser empregado para realizar sua detecção. Essa atividade permite fazer um levantamento dos conhecimentos prévios da turma a respeito dos efeitos que a radiação causa ao interagir com materiais e como esses efeitos podem ser aplicados na detecção.
BNCC em contexto
A seção Ligado no tema das páginas 286 e 287 favorece o desenvolvimento da Competência geral 5, da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3 e da habilidade EM13CNT302, pois leva os estudantes a utilizar tecnologias digitais para se comunicarem e disseminar informações de forma crítica, reflexiva e ética. Além disso, essa atividade contempla as Competências gerais 7, 9 e 10, bem como a habilidade EM13CNT304, pois os incentiva a formular e a defender uma ideia com posicionamento ético com relação ao cuidado com todos os indivíduos e o planeta.
Ligado no tema - páginas 286 e 287
Solicite aos estudantes que pesquisem na internet depoimentos de sobreviventes da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Um exemplo de depoimento pode ser encontrado no site disponível em: https://s.livro.pro/hyx3cy. Acesso em: 31 out. 2024.
Em seguida, peça que leiam esses depoimentos aos colegas e discutam o poder de destruição das bombas nucleares e os malefícios que elas causam aos seres vivos. Esse é um exemplo de como as pesquisas científicas e o contexto social estão intimamente relacionados.
Se julgar interessante, acesse o artigo "Hiroshima: a catástrofe atômica e suas testemunhas". Disponível em: https://s.livro.pro/0555q3. Acesso em: 31 out. 2024.
Informe a eles que os estudiosos que participaram do Projeto Manhattan tinham formação acadêmica em Física.
Comente que um quiloton é equivalente à energia liberada na explosão de mil toneladas de TNT (trinitrotolueno), um tipo de explosivo.
Respostas - Páginas 288 e 289
4. Se 1 Gray é igual a 1 joule por quilograma, temos que: 1 vírgula 5 Gray é igual a início de fração, numerador: 1 vírgula 5 joule, denominador: quilograma, fim de fração é igual a início de fração, numerador: E, denominador: 76 quilogramas , fim de fração implica em E é igual a 76 vezes 1 vírgula 5 portanto E é igual a 114 joules.
7. Analisando o número de massa do produto formado pelo estrôncio abre parênteses S r fecha parênteses e pelo xenônio abre parênteses Xe fecha parênteses e comparando-o com o número de massa inicial, temos: A subscrito 0 é igual a 1 mais 235 é igual a 236 e A é igual a 94 mais 140 é igual a 234.
Assim, o número de nêutrons indicados pelo coeficiente Y da reação deve ser igual a 2.
9. Analisando o número de massa do produto e comparando-o com o número de massa inicial, temos: A subscrito X 1 mais 235 menos 144 menos 2 é igual a 90.
Analisando o número atômico do produto e comparando-o com o número atômico, temos: Z subscrito X é igual a 92 menos 55 é igual a 37.
13. A quantidade de energia por sessão abre parênteses e subscrito 's' fecha parênteses é dada por: D é igual a início de fração, numerador: e subscrito s, denominador: 'm', fim de fração implica em 200 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a início de fração, numerador: e subscrito s, denominador: 80, fim de fração implica em e subscrito s é igual a 160 portanto e subscrito s é igual a 160 joules.
Como são duas sessões por dia, a energia diária é: e subscrito d é igual a 2 vezes e subscrito s é igual a 2 vezes 160 é igual a 320 portanto e subscrito d é igual a 320 joules.
Em 10 dias, a quantidade de energia ionizante é: e subscrito T é igual a e subscrito d vezes 10 é igual a 320 vezes 10 é igual a 3.200 portanto e subscrito T é igual a 3.200 joules.
Capítulo 19 - Física contemporânea - páginas 290 a 312
Objetivos do capítulo
- Explicar a proposta de Max Planck sobre a quantização da energia.
- Explicar os postulados fundamentais da relatividade restrita.
- Descrever os efeitos da dilatação do tempo e da contração do comprimento.
- Explicar como a gravidade é descrita na relatividade geral como a curvatura do espaço-tempo.
- Identificar a aplicação da Física quântica em dispositivos eletrônicos.
- Explicar o conceito de radiação térmica e como a temperatura de um corpo influencia o tipo de radiação emitida.
- Discutir o conceito de corpo negro e como ele serve como modelo ideal para entender a emissão e absorção de radiação.
- Descrever o efeito fotoelétrico e sua aplicação em dispositivos eletrônicos.
- Compreender o princípio da incerteza de Heisenberg (1901- -1976) e suas implicações para a medição de propriedades de partículas em escalas atômicas.
Página LXIX
Páginas 290 a 300
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 290 a 300 favorece o desenvolvimento da Competência específica 3 da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, porque leva os estudantes a investigar como os princípios da Física quântica e da relatividade se aplicam em tecnologias como GPS, lasers ou sensores em diferentes dispositivos.
Na página 290, ao mencionar "as nuvens" expostas por Lorde Kelvin, comente sobre o contexto histórico da época. A Ciência do século XIX obtivera até então enorme sucesso. O desenvolvimento das máquinas térmicas, a criação de circuitos elétricos, o começo da distribuição de energia elétrica e a capacidade de transmitir ondas eletromagnéticas a grandes distâncias, favoreceram o desenvolvimento da pesquisa científica.
Ao trabalhar as páginas 291 e 292, comente que a Física clássica explica as situações cotidianas, mas deve passar por adaptações quando se trata de fenômenos com altas velocidades.
Na página 293, os efeitos descritos de dilatação temporal e contração espacial, ainda que possam ser visualizados em menores escalas em equipamentos extremamente precisos, como relógios atômicos, somente seriam perceptíveis em níveis macroscópicos com altos valores do fator de Lorentz, expresso pela letra gama.
Ao trabalhar o assunto da página 299 sobre ondas gravitacionais, comente que elas foram detectadas pela primeira vez em 2015. Explique que o método para detectar foi por meio de um feixe de laser, que se propaga em um tubo extremamente longo, onde no fim há um espelho, a fim de que a menor vibração no trajeto do feixe seja alterada, sendo então constatado pelos detectores. Para que não houvesse dúvida de que a perturbação detectada fora causada por uma interferência indesejada, dois desses esquemas de detectores foram instalados em lugares opostos dos Estados Unidos. Constatou-se, então, que houve a mesma vibração em tempos iguais em ambos os detectores.
Conexões com… - página 300
Objetivos
- Identificar conceitos físicos em filmes ou séries de ficção.
- Analisar uma abordagem fictícia da teoria da relatividade.
Orientações
O tema abordado nessa seção permite o trabalho integrado com o componente curricular de Arte, pois envolve o gênero ficção científica, que combina conceitos das Ciências com literatura e cinema, por exemplo. Converse com o professor desse componente para que vocês realizem uma aula conjunta, mostrando outros exemplos de filmes ou livros que trabalham a teoria da relatividade.
Inicie a aula perguntando aos estudantes o que acham da ideia de viajar no tempo, se isso seria possível e quais consequências poderiam trazer. Peça-lhes que citem outros filmes ou séries que abordam viagens no tempo e que citem semelhanças e diferenças com relação aos conceitos científicos envolvidos na teoria da relatividade. Divida os estudantes em grupos para responderem à questão a. Também pode ser solicitado a eles que criem narrativas curtas ou quadrinhos que envolvam viagens no tempo.
Na página 306, comente com os estudantes que o efeito fotoelétrico é utilizado em muitas aplicações práticas, como em sensores de porta automática, em torneiras, lâmpadas com sensor etc. As portas automáticas de lojas, mercados e shoppings, por exemplo, são equipadas com um sensor fotoelétrico, que, ao receber determinada quantidade de luz, emite certa quantidade de fotoelétrons. A mudança na quantidade de luz que o sensor recebe gera energia para as portas se abrirem.
Na página 307, é necessário que os estudantes compreendam que objetos quânticos se comportam às vezes como partículas ou como ondas, característica conhecida como dualismo onda-partícula.
Enfatize que o princípio da incerteza de Heisenberg afirma apenas que não é possível obter simultaneamente informações infinitamente precisas de duas grandezas específicas por vez, que serão chamadas de variáveis conjugadas.
Acompanhando a aprendizagem
Após finalizar a teoria da relatividade restrita, organize os estudantes em duplas para resolver as questões de 1 a 5 da página 301. Peça-lhes que compartilhem suas respostas com os colegas.
Ligado no tema - página 311
Objetivos
- Identificar as características que distinguem afirmações científicas fundamentadas de alegações pseudocientíficas.
- Discutir as implicações do uso indevido de conceitos quânticos.
Orientações
Inicie a aula perguntando aos estudantes se eles já ouviram falar em cura quântica, coach quântico ou terapia quântica. Questione se eles entendem os motivos de se usar tais terminologias e se estas são baseadas em conceitos científicos.
Divida-os em grupos e solicite-lhes que pesquisem essas práticas ou outros exemplos em que a terminologia quântica é usada incorretamente, verificando quais evidências desmentem essas práticas. Encoraje-os a refletir sobre a importância de uma compreensão precisa da Ciência ao responder ao item a. Ao terminarem de responder às questões a e b, solicite-lhes que compartilhem suas respostas com a turma. É possível também que produzam um panfleto informativo sobre a falta de evidências nas práticas pseudocientíficas.
Respostas - Páginas 301 e 302
1. A teoria da relatividade de Einstein revolucionou a compreensão de espaço e de tempo ao apresentar a ideia de que ambos são relativos, dependendo do movimento do observador. Na Física clássica, espaço e tempo eram considerados absolutos e independentes. Einstein mostrou que o tempo pode passar de maneira diferente para observadores em movimento relativo entre si e que o espaço pode se "curvar" na presença de grandes massas, como planetas e estrelas. Isso significou a descoberta de que o Universo não é um palco fixo onde os eventos acontecem, mas um tecido dinâmico que pode ser alterado pela matéria e pela energia.
Página LXX
6. a ) Aplicando a relação da dilatação temporal, temos: delta 't' é igual a início de fração, numerador: delta 't' subscrito 0, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada, fim de fração implica em delta 't' subscrito 0 é igual a 1 vírgula 5 vezes início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: abre parênteses 0 vírgula 7 vezes c fecha parênteses elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada é aproximadamente igual a 1 vírgula 0 65 portanto delta 't' subscrito 0 é igual a 1 vírgula 0 65 hora ou delta 't' subscrito 0 é igual a 64 minutos.
b ) Utilizando a relação para o cálculo do fator gama, temos: gama é igual a início de fração, numerador: 1, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos abre parênteses v sobre c fecha parênteses elevado ao quadrado fim de raiz quadrada, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 1, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos abre parênteses início de fração, numerador: 0 vírgula 7 c, denominador: c, fim de fração fecha parênteses elevado ao quadrado fim de raiz quadrada, fim de fração implica em gama é aproximadamente igual a 1 vírgula 4.
7. a ) Considerando que 4,2 anos-luz é a distância percorrida deslocando-se durante 4,2 anos com a velocidade da luz c, temos que a distância 'L' até a Próxima Centauri mede 'L' é igual a 4 vírgula 2 vezes c, então o tempo delta 't' subscrito 0 da viagem é dado por: v é igual a início de fração, numerador: 'L', denominador: delta 't' subscrito 0, fim de fração implica em 0 vírgula 7 vezes c é igual a início de fração, numerador: 4 vírgula 2 vezes c, denominador: delta 't' subscrito 0, fim de fração implica em delta 't' subscrito 0 é igual a 6 portanto delta 't' subscrito 0 é igual a 6 anos.
b ) Aplicando a relação da dilatação temporal, temos: delta 't' é igual a início de fração, numerador: delta 't' subscrito 0, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 6, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos abre parênteses início de fração, numerador: 0 vírgula 7 vezes c, denominador: c, fim de fração fecha parênteses elevado ao quadrado fim de raiz quadrada, fim de fração implica em delta 't' é aproximadamente igual a 8 vírgula 4 portanto delta 't' é aproximadamente igual a 8 vírgula 4 anos.
8. A distância de cada prova é dada por:
d é igual a 6 vezes 70 é igual a 420 quilômetros.
O tempo de cada prova é:
delta 't' subscrito p é igual a d sobre v é igual a 420 sobre 378 é aproximadamente igual a 1 vírgula 11 portanto delta 't' subscrito p é igual a 1 vírgula 11 hora.
O total do tempo de provas é:
delta 't' é igual a 1 vírgula 11 vezes 217 é igual a 240 vírgula 87 portanto delta 't' é igual a 240 vírgula 87 horas.
Agora, podemos calcular a diferença de tempo: delta 't' é igual a início de fração, numerador: delta 't' subscrito 0, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada, fim de fração implica em delta 't' subscrito 0 é igual a delta 't' subscrito p vezes início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada.
A diferença de tempo de vida delta 't' subscrito v é dada por:
delta 't' subscrito v é igual a delta 't' subscrito p menos delta 't' subscrito p vezes início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada é igual a
é igual a 240 vírgula 87 menos 240 vírgula 87 vezes início de raiz quadrada; 1 menos abre parênteses início de fração, numerador: 378, denominador: 3 vezes 10 elevado a 5, fim de fração fecha parênteses elevado ao quadrado fim de raiz quadrada implica em
implica em delta 't' subscrito v é aproximadamente igual a 1 vírgula 9 vezes 10 elevado a menos 4 portanto delta 't' subscrito v é aproximadamente igual a 1 vírgula 9 vezes 10 elevado a menos 4 segundo.
9. Aplicando a fórmula da contração do comprimento dada pela teoria da relatividade de Einstein:
'L' é igual a 'L' subscrito 0 vezes início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada implica em abre parênteses início de fração, numerador: 'L', denominador: 'L' subscrito 0, fim de fração fecha parênteses elevado ao quadrado é igual a 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração implica em
implica em início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração é igual a 1 menos abre parênteses início de fração, numerador: 'L', denominador: 'L' subscrito 0, fim de fração fecha parênteses elevado ao quadrado implica em início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração é igual a 1 menos abre parênteses 90 sobre 150 fecha parênteses elevado ao quadrado implica em
implica em v é igual a c vezes início de raiz quadrada; 1 menos abre parênteses 90 sobre 150 fecha parênteses elevado ao quadrado fim de raiz quadrada portanto v é igual a 0 vírgula 8 vezes c
10. No referencial do trem, temos o comprimento do trem igual a 'L' e o comprimento do túnel 'L' sobre gama é menor do que 'L'. Sendo assim, a parte da frente do trem chega ao fim do túnel antes que a parte de trás entre no túnel e a bomba exploda. Para o referencial do túnel, temos que o trem tem comprimento igual a 'L' sobre gama é menor do que 'L' e o túnel tem comprimento igual a 'L'. Sendo assim, a parte de trás do trem entra no túnel antes que a parte da frente do trem saia, desarmando a bomba.
11. a ) O tempo de vida do múon para um referencial na Terra é dado por: delta 't' é igual a gama vezes delta 't' subscrito 0 implica em delta 't' é igual a início de fração, numerador: 1, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada, fim de fração vezes delta 't' subscrito 0 implica em delta 't' é igual a início de fração, numerador: 1, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: 0 vírgula 9993 elevado ao quadrado c elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada, fim de fração vezes 2 vírgula 2 implica em delta 't' é igual a 26 vírgula 73 vezes 2 vírgula 2 vezes 10 elevado a menos 6 implica em delta 't' é igual a 58 vírgula 8 vezes 10 elevado a menos 6 portanto delta 't' é igual a 58 vírgula 8 mi s.
b ) Encontrando o deslocamento medido no referencial da Terra:'L' é igual a v vezes 't' implica em 'L' é igual a 0 vírgula 9993 vezes 3 vezes 10 elevado a 8 vezes 58 vírgula 8 vezes 10 elevado a menos 6 implica em 'L' é aproximadamente igual a 17.628 metros.
O deslocamento no referencial próprio do múon: 'L' é igual a início de fração, numerador: 'L' subscrito 0, denominador: gama, fim de fração implica em 'L' subscrito 0 é igual a 'L' vezes início de fração, numerador: 1, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada, fim de fração implica em 'L' subscrito 0 é igual a início de fração, numerador: 17.628, denominador: 26 vírgula 73, fim de fração portanto 'L' subscrito 0 é aproximadamente igual a 660 metros.
12. v é igual a início de fração, numerador: delta 's', denominador: delta 't', fim de fração implica em 0 vírgula 9 vezes c é igual a início de fração, numerador: 20 vezes 10 elevado a menos 2, denominador: delta 't', fim de fração implica em delta 't' é igual a início de fração, numerador: 200, denominador: 0 vírgula 9 vezes 3 vezes 10 elevado a 8, fim de fração implica em delta 't' é igual a 7 vírgula 4 vezes 10 elevado a menos 10 portanto delta 't' é igual a 0 vírgula 74 ns
delta 't' é igual a gama vezes delta 't' subscrito 0 implica em delta 't' é igual a início de fração, numerador: 1, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada, fim de fração vezes delta 't' subscrito 0 implica em 0 vírgula 74 vezes 10 elevado a menos 9 é igual a
é igual a início de fração, numerador: 1, denominador: início de raiz quadrada; 1 menos início de fração, numerador: abre parênteses 0 vírgula 9 vezes c fecha parênteses elevado ao quadrado, denominador: c elevado ao quadrado, fim de fração fim de raiz quadrada, fim de fração vezes delta 't' subscrito 0 implica em delta 't' subscrito 0 é igual a 0 vírgula 74 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 0 vírgula 43 portanto delta 't' subscrito 0 é igual a 0 vírgula 32 ns
Respostas - Página 312
3. Aplicando a relação proposta por Wien (1864-1928), temos:
lambda subscrito máx vezes T é igual a 2 vírgula 898 vezes 10 elevado a menos 3 implica em lambda subscrito máx é igual a início de fração, numerador: 2 vírgula 898 vezes 10 elevado a menos 3, denominador: 6 vezes 10 elevado ao cubo, fim de fração implica em
implica em lambda subscrito máx é igual a 4 vírgula 83 vezes 10 elevado a menos 7 portanto lambda subscrito máx é igual a 4 vírgula 83 vezes 10 elevado a menos 7 metro é igual a
é igual a 483 vezes 10 elevado a menos 9 metro.
5. A função trabalho de 2 vírgula 6 elétron-volts expressa em joule é dada por: W é igual a 2 vírgula 6 vezes 1 vírgula 6 vezes 10 elevado a menos 19 é igual a 4 vírgula 16 vezes 10 elevado a menos 19 portanto W é igual a 4 vírgula 16 vezes 10 elevado a menos 19 Joules
A frequência mais baixa deve corresponder ao fóton com energia igual à função trabalho, no qual a energia cinética do elétron será nula:
E início subscrito, c início subscrito, 'm' á x, fim subscrito, fim subscrito é igual a 'h' vezes f subscrito 0 menos W implica em 0 é igual a 'h' vezes f subscrito 0 menos W implica em
implica em W é igual a 'h' vezes f subscrito 0 implica em 4 vírgula 16 vezes 10 elevado a menos 19 é igual a 6 vírgula 63 vezes 10 elevado a menos 34 vezes f subscrito 0 implica em
implica em f subscrito 0 é aproximadamente igual a 6 vírgula 3 vezes 10 elevado a 14 portanto f subscrito 0 é aproximadamente igual a 6 vírgula 3 vezes 10 elevado a 14 hertz
6. Aplicando a relação da quantidade de movimento, temos: Q é igual a 'm' subscrito e vezes v é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 31 vezes 4 vezes 10 elevado a 6 é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 25 portanto Q é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 25 quilograma vezes metros por segundo.
Considerando o erro de 10%, a quantidade de movimento será 36 vezes 10 elevado a menos 25 quilograma vezes metros por segundo.
Página LXXI
delta x vezes delta Q é maior ou igual a início de fração, numerador: 'h', denominador: 4 vezes pi, fim de fração implica em delta x é maior ou igual a início de fração, numerador: 6 vírgula 63 vezes 10 elevado a menos 34, denominador: 36 vezes 10 elevado a menos 26 vezes 4 vezes 3 vírgula 14, fim de fração implica em
implica em delta x é aproximadamente igual a 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a menos 10 portanto delta x é aproximadamente igual a 1 vírgula 5 vezes 10 elevado a menos 10 m
Retome o que estudou - página 312
Respostas
1. Os estudantes podem citar que a demanda crescente por energia elétrica impacta o meio ambiente principalmente pelo uso de fontes não renováveis, como carvão e petróleo, que liberam gases poluentes na atmosfera. Além disso, grandes hidrelétricas podem causar desmatamento e alterar o curso de rios, afetando ecossistemas. Para reduzir esses impactos, é preciso adotar alternativas sustentáveis, como energias solar e eólica, que são renováveis e causam menos danos ao ambiente. Outra medida importante é o uso eficiente de energia, evitando desperdícios.
2. Espera-se que os estudantes mencionem que os transformadores são responsáveis por alterar a tensão da corrente elétrica. Durante a transmissão em longas distâncias, a tensão é elevada para reduzir as perdas de energia na forma de calor nos cabos de transmissão. Quando a energia chega perto das cidades, a tensão é diminuída novamente para níveis seguros, permitindo seu uso em residências e indústrias. Esse processo garante que a energia chegue com eficiência e segurança até os consumidores.
3. Espera-se que os estudantes mencionem que a usina hidrelétrica usa a força da água para gerar energia, sendo renovável e limpa. No entanto, pode causar impactos ambientais significativos, como inundações e perda de hábitats. A usina termelétrica utiliza a queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo ou gás) para gerar energia. É confiável, mas emite muitos gases poluentes e contribui para o aquecimento global. Já a usina eólica usa o vento para mover turbinas e gerar energia. É limpa e renovável, mas depende de condições climáticas favoráveis e pode causar impacto visual e sonoro nas regiões onde está instalada.
4. A fissão nuclear ocorre quando o núcleo de um átomo pesado, como o urânio, divide-se em dois núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. Esse processo é usado em usinas nucleares para gerar eletricidade. A fusão nuclear, por outro lado, ocorre quando dois núcleos leves, como o hidrogênio, se unem para formar um núcleo mais pesado, também liberando muita energia. A fusão ocorre naturalmente no Sol, mas ainda não é usada comercialmente na Terra em razão das dificuldades tecnológicas.
5. A dilatação temporal é um fenômeno previsto pela teoria da relatividade de Einstein, que afirma que o tempo passa de maneira diferente para objetos que se movem a velocidades muito altas. Quanto mais rápido algo se move, mais devagar o tempo passa para ele em relação a um observador em repouso. Um exemplo prático é o dos satélites GPS. Eles se movem rapidamente ao redor da Terra, e o tempo passa um pouco mais devagar para eles. Os sistemas de GPS precisam corrigir essa diferença para fornecer a localização correta.
Unidade 5 Movimento e o ser humano
Objetivos da unidade
- Conhecer diferentes tipos de ferramentas e máquinas simples.
- Compreender os conceitos de momento de uma força (torque) e equilíbrio de um corpo extenso e relacionar com movimentos realizados no cotidiano pelo corpo humano.
- Compreender os conceitos relacionados ao movimento, como deslocamento, velocidade, aceleração, energia, impulso e quantidade de movimento, identificando-os nos movimentos realizados no dia a dia.
Justificativas
O conhecimento sobre o funcionamento e a utilidade de ferramentas e máquinas simples desenvolvidas ao longo da evolução dos seres humanos e os movimentos do corpo humano e outros objetos fornece subsídios para os estudantes elaborarem explicações e cálculos a respeito dos movimentos dos objetos na Terra, o que contribui para o desenvolvimento da habilidade EM13CNT204 e permite o trabalho integrado com o componente curricular de Biologia. Além disso, os conteúdos relacionados à transformação de energia nas atividades físicas e em outros tipos de movimento favorecem o aprimoramento da habilidade EM13CNT101, pois fornecem subsídios para os estudantes analisarem e representarem as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para prever seu comportamento em situações do dia a dia.
Abertura da unidade – páginas 316 e 317
Ao iniciar o trabalho com as páginas de abertura, pergunte aos estudantes se eles conhecem ou já viram alguém que utiliza próteses. Em caso afirmativo, oriente-os a descrever a situação para os colegas. Com esse questionamento, eles compartilham suas vivências. Contudo, se nenhum estudante conhece nem viu alguém com prótese, peça a todos que pesquisem em sites e em reportagens alguns casos, anotando a parte do corpo que a prótese substituiu, o motivo da perda do membro do corpo e a importância que esse equipamento representa na vida do indivíduo que o utiliza.
Pergunte a eles se já assistiram aos Jogos Paralímpicos, a fim de descreverem uma das modalidades. Se não tiverem visto, peça-lhes que procurem vídeos disponíveis na internet para conhecerem esses jogos. Com base nisso, oriente-os a conversar a respeito da importância do desenvolvimento de próteses com materiais leves e resistentes para que os atletas possam alcançar suas metas e conquistar medalhas, com bem-estar e qualidade de vida.
Respostas
a ) O objetivo dessa questão é fazer os estudantes refletirem sobre os conceitos físicos referentes aos movimentos. Eles podem comentar, por exemplo, que o conhecimento sobre alavancas, forças e torque ajuda no desenvolvimento de peças corretamente articuladas e com materiais adequados, que resistam ao tipo e à intensidade de movimentos inerentes à parte do corpo que a prótese substituirá.
Página LXXII
b ) O objetivo desta questão é incentivar os estudantes a pensar nos conceitos de equilíbrio. Eles podem citar que os desafios para desenvolver robôs que se movimentam em duas pernas é fazer que eles mantenham o equilíbrio e voltem a essa posição caso seu centro de gravidade seja deslocado, assim como os seres humanos fazem ao andar, correr e se sentarem, por exemplo.
c ) O objetivo desta questão é resgatar os conhecimentos prévios dos estudantes em relação aos conceitos de energia e potência. Eles podem citar que, ao correr, o consumo de energia pelo corpo ocorre em um intervalo de tempo menor, provocando mais cansaço.
Capítulo 20 - Ferramentas e máquinas simples - páginas 318 a 334
Objetivos do capítulo
- Conhecer a história do desenvolvimento de algumas ferramentas e máquinas simples.
- Definir o conceito de ferramentas e máquinas simples.
- Compreender que a função das máquinas simples é facilitar a realização de tarefas, reduzindo a força aplicada em alguns casos.
- Conhecer diferentes tipos de ferramentas e máquinas simples.
- Reconhecer e classificar os processos de ampliação de forças em diferentes ferramentas e máquinas.
- Identificar objetos do cotidiano que fazem uso de ferramentas e de máquinas simples.
- Conhecer máquinas simples que possibilitam obter vantagem mecânica.
- Compreender que as máquinas modernas podem seguir os princípios das máquinas simples.
Páginas 318 a 322
BNCC em contexto
A abordagem deste capítulo como um todo contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3, pois possibilita aos estudantes compreender e explorar a aplicação do conhecimento científico nas diversas esferas da vida humana, como no desenvolvimento de ferramentas que facilitaram nossas atividades desde a Antiguidade até os dias atuais, e acompanhar como os avanços científicos e tecnológicos permitiram o aperfeiçoamento das ferramentas e máquinas simples. Além disso, desenvolve o tema contemporâneo transversal Ciência e tecnologia. Também possibilita desenvolver a Competência geral 1, valorizando os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade e continuar aprendendo.
Inicie o trabalho deste capítulo assistindo com os estudantes ao vídeo da Nova Escola, que apresenta alguns tipos de máquinas simples e como elas funcionam. Disponível em: https://s.livro.pro/589emw. Acesso em: 7 out. 2024.
Ao tratar do desenvolvimento da roda nas páginas 319 e 320 e das diversas funções em que ela se aplica, peça aos estudantes que opinem sobre a importância das pesquisas científicas e do desenvolvimento de novas tecnologias, bem como seu impacto no cotidiano das pessoas.
Ao abordar o conceito de polia nas páginas 320 e 321, ressalte para os estudantes que ela foi construída com base na roda e está presente em quase todos os sistemas que utilizam cabos e correias. Cite exemplos como varais de roupa, persianas, equipamentos de ginástica, barcos, navios, motores, elevadores e guindastes de construção, entre outros.
Páginas 324 a 327
Atividade extra
Se julgar interessante, ao abordar o conceito de alavancas na página 324, proponha para os estudantes uma atividade simples: peça-lhes que relacionem a força aplicada sobre o braço da alavanca e a distância do seu ponto de apoio. Para esta atividade, oriente-os a abrir e fechar a porta da sala de aula empurrando-a próximo da dobradiça. Em seguida, solicite a eles que repitam o processo, de abrir ou fechar a porta, empurrando-a próximo da maçaneta. Permita a todos os estudantes que executem as situações propostas, depois pergunte em quais delas foi mais fácil abrir e fechar a porta. Explique-lhes que é realmente mais difícil fazer isso empurrando próximo da dobradiça. No entanto, é relativamente fácil abri-la ou fechá-la empurrando-a próximo da maçaneta.
Verifique se eles perceberam que no primeiro caso foi combinada grande intensidade de força com distância menor em relação ao eixo de rotação (a dobradiça), e que no segundo caso foi associada uma menor intensidade de força com uma distância maior, o que permite verificar que, quanto maior for o braço de potência em relação ao braço de resistência, menor será a força necessária para girar um objeto ou equilibrar uma carga, ou seja, o esforço será menor para realizar a tarefa.
Prática científica - páginas 326 e 327
Objetivos
- Investigar o lançamento de objetos utilizando o princípio das alavancas.
- Aplicar conceitos relativos às máquinas simples, como braço de alavanca e torque.
- Analisar o processo de transformação de energia que ocorre no lançamento de projéteis usando uma catapulta.
- Investigar fatores que interferem no funcionamento de uma catapulta.
Orientações
Auxilie os estudantes na montagem da catapulta. Acompanhe-os passo a passo, orientando-os a amarrar bem os lápis para que a estrutura fique rígida. Se julgar conveniente, una os lápis amarrando-os com barbante em vez de elásticos. Incentive os estudantes a procurar soluções para os problemas que surgirem durante a montagem.
Realize a etapa de fixação da tampinha com cola quente. Não permita que manipulem a pistola de cola quente. Oriente os estudantes a escolher um local adequado para utilizar a catapulta construída, evitando lançar objetos na direção dos colegas.
Todos os materiais usados nesta atividade, com exceção das bolinhas de papel, podem ser guardados e utilizados em outras atividades.
Página LXXIII
Integrando o conhecimento
A evolução e a utilização de máquinas simples foram fundamentais para o desenvolvimento das grandes civilizações, como a egípcia. Essa cultura utilizou rampas e alavancas para mover enormes blocos de pedra na construção das pirâmides, o que mostra a importância da Engenharia e da Física aplicadas em suas realizações arquitetônicas. Ao trabalhar os conceitos de plano inclinado, pode ser interessante fazer uma parceria com o professor de História para abordar a utilização dessas ferramentas pela civilização egípcia.
Conexões com… - páginas 332 e 333
A abordagem desta seção favorece o trabalho com os professores dos componentes curriculares de História e Biologia, pois aborda o desenvolvimento de ferramentas ao longo do tempo, relacionando-o com a evolução dos hominíneos. Esse tema possibilita o desenvolvimento da Competência geral 1 e da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 2, além do tema contemporâneo transversal Ciência e tecnologia.
Objetivos
- Compreender como as ferramentas evoluíram.
- Entender como a utilização de ferramentas beneficiou a humanidade.
Orientações
As ferramentas desempenharam um papel relevante na evolução da humanidade, incentivando avanços que transformaram a sociedade em diversos aspectos. Desde as primeiras ferramentas rudimentares, como pedras afiadas usadas para caçar, às tecnologias modernas que revolucionam a comunicação e a Medicina, elas permitiram ao ser humano que superasse limitações naturais e expandisse seu domínio sobre o ambiente. Incentive os estudantes a refletir sobre a interdependência entre inovação e desenvolvimento humano ao longo da história. Nesse contexto, pode-se realizar uma aula integrada com o professor de História para mostrar diversos períodos históricos e o papel fundamental das ferramentas.
Respostas - Página 323
3. a ) Força máxima exercida pela estudante: 'F' subscrito máx é igual a 'F' subscrito P implica em 'F' subscrito máx é igual a 'm' vezes 'g' é igual a 15 vezes 10 portanto 'F' subscrito máx é igual a 150 newtons
Utilizando a intensidade da força para as talhas exponenciais, para 1 polia móvel, temos: 'F' subscrito T é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito P, denominador: 2 elevado a n, fim de fração é igual a 700 sobre 2 portanto 'F' subscrito T é igual a 350 newtons
Para 2 polias móveis, temos: 'F' subscrito T é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito P, denominador: 2 elevado a n, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 700, denominador: 2 elevado ao quadrado, fim de fração portanto 'F' subscrito T é igual a 175 newtons
Para 3 polias móveis, temos: 'F' subscrito T é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito P, denominador: 2 elevado a n, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 700, denominador: 2 elevado ao cubo, fim de fração portanto 'F' subscrito T é igual a 87 vírgula 5 newtons
Assim, o número mínimo de polias para que a estudante consiga levantar o saco de areia com apenas uma mão é 3 polias móveis.
b ) A intensidade da força potente abre parênteses 'F' subscrito po fecha parênteses é igual à intensidade da força de tração abre parênteses 'F' subscrito T fecha parênteses na talha exponencial, ou seja: 'F' subscrito po é igual a 'F' subscrito T é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito P, denominador: 2 elevado a n, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 700, denominador: 2 elevado a 4, fim de fração portanto 'F' subscrito po é igual a 43 vírgula 75 newtons
A vantagem mecânica é a razão entre as intensidades das forças resistente e potente, assim teremos: V subscrito mec é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito res, denominador: 'F' subscrito po, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 700, denominador: 43 vírgula 75, fim de fração portanto V subscrito mec é igual a 16
5. 'F' subscrito T é aproximadamente igual a 28 vírgula 87 newtons. Para um sistema em equilíbrio, a resultante das forças é 0, pois o objeto está parado, ou seja,
0 é igual a 'F' subscrito T mais 'F' subscrito T menos 'F' subscrito P implica em 2 'F' subscrito T é igual a 'F' subscrito P
Para decompor a tração que faz um ângulo de 60 graus, temos: 'F' início subscrito, T subscrito y, fim subscrito é igual a 'F' subscrito T vezes seno teta é igual a 'F' subscrito T início de fração, numerador: raiz quadrada de 3, denominador: 2, fim de fração
2 vezes 'F' subscrito T vezes início de fração, numerador: raiz quadrada de 3, denominador: 2, fim de fração é igual a 'm' vezes 'g' implica em 'F' subscrito T é igual a início de fração, numerador: 5 vezes 10, denominador: raiz quadrada de 3, fim de fração implica em
implica em 'F' subscrito T é aproximadamente igual a 28 vírgula 87 portanto 'F' subscrito T é aproximadamente igual a 28 vírgula 87 newtons
6. 'F' subscrito T é igual a início de fração, numerador: 'F' subscrito P, denominador: 2 elevado a n, fim de fração implica em 200 é igual a início de fração, numerador: 'm' vezes 'g', denominador: 2 elevado ao cubo, fim de fração implica em 'm' vezes 'g' é igual a 1.600 implica em
implica em 'm' é igual a 1.600 sobre 10 portanto 'm' é igual a 160 quilogramas
7. 'F' início subscrito, P subscrito B, fim subscrito é igual a 'F' subscrito T implica em 'F' início subscrito, P subscrito B, fim subscrito é igual a início de fração, numerador: 'F' início subscrito, P subscrito A, fim subscrito, denominador: 2 elevado a n, fim de fração implica em 'm' subscrito B vezes 'g' é igual a início de fração, numerador: 'm' subscrito A vezes 'g', denominador: 2 elevado ao quadrado, fim de fração implica em
implica em 'm' subscrito B é igual a 24 sobre 4 portanto 'm' subscrito B é igual a 6 quilogramas
Respostas - Página 328
2. 'F' subscrito po vezes b subscrito po é igual a 'F' subscrito res vezes b subscrito res implica em 'F' subscrito po vezes 0 vírgula 14 é igual a 200 vezes 0 vírgula 0 4 portanto 'F' subscrito po é aproximadamente igual a 57 vírgula 1 newton
3. 'F' subscrito po vezes b subscrito po é igual a 'F' subscrito res vezes b subscrito res implica em 'm' subscrito po vezes 'g' vezes b subscrito po é igual a 'm' subscrito res vezes 'g' vezes b subscrito res implica em
implica em 80 vezes 10 vezes b subscrito po é igual a 60 vezes 10 vezes 1 vírgula 2 portanto b subscrito po é igual a 0 vírgula 9 metro
4. 'F' subscrito po vezes b subscrito po é igual a 'F' subscrito res vezes b subscrito res implica em 'F' subscrito po vezes 1 vírgula 5 é igual a 200 vezes 10 vezes 0 vírgula 5 portanto 'F' subscrito po é aproximadamente igual a 666 vírgula 7 newtons
7. 'F' subscrito po vezes b subscrito po é igual a 'F' subscrito res vezes b subscrito res implica em 'F' subscrito po vezes 1 vírgula 5 é igual a 250 vezes 0 vírgula 5 portanto 'F' subscrito po é igual a 83 vírgula 3 newtons
Ele consegue transportar o saco de areia.
Respostas - Página 334
3. Resposta: 'F' subscrito T é igual a 10.000 newtons, 'F' subscrito N é igual a 10.000 raiz quadrada de 3 newtons.
Para o carro parado em cima da rampa:
0 é igual a 'F' subscrito N menos 'F' início subscrito, P subscrito y, fim subscrito menos 'F' início subscrito, P subscrito x, fim subscrito mais 'F' subscrito T
'F' início subscrito, P subscrito x, fim subscrito é igual a 'F' subscrito T implica em 'F' subscrito T é igual a 'm' vezes 'g' vezes seno teta implica em 'F' subscrito T é igual a 2.000 vezes 10 vezes 1 meio implica em
implica em 'F' subscrito T é igual a 10.000 newtons
Para a força normal: 'F' subscrito N é igual a 'F' início subscrito, P subscrito x, fim subscrito implica em 'F' subscrito N é igual a 'm' vezes 'g' vezes cosseno 30 implica em
implica em 'F' subscrito N é igual a 2.000 vezes 10 vezes início de fração, numerador: raiz quadrada de 3, denominador: 2, fim de fração portanto 'F' subscrito N é igual a 10.000 raiz quadrada de 3 newtons
6. Força para elevar a caixa pela rampa: 'F' é igual a 'F' subscrito P vezes seno teta é igual a
é igual a 120 vezes 10 vezes 0 vírgula 5 é igual a 600 portanto 'F' é igual a 600 newtons
Força para elevá-la na vertical: 'F' subscrito P é igual a 'm' vezes 'g' é igual a 120 vezes 10 é igual a 1.200 portanto 'F' subscrito P é igual a 1.200 newtons
Portanto, a razão entre as forças vale: início de fração, numerador: 'F', denominador: 'F' subscrito P, fim de fração é igual a 600 sobre 1.200 portanto início de fração, numerador: 'F', denominador: 'F' subscrito P, fim de fração é igual a 0 vírgula 5
Capítulo 21 - Momento e torque - páginas 335 a 343
Objetivos do capítulo
- Estudar o conceito de momento de uma força (torque) e compreender sua definição e a aplicação prática.
- Compreender o equilíbrio de um corpo extenso, explorando as condições para que um corpo esteja em equilíbrio.
- Entender os conceitos de centro de massa e de gravidade.
- Aplicar o conceito de torque ou momento de uma força em situações do cotidiano.
Página LXXIV
Páginas 335 a 341
Ao abordar as duas questões iniciais do capítulo e as páginas 335 e 336, explique aos estudantes que, nos movimentos do corpo humano, o ponto fixo dos sistemas de alavancas são as articulações, isto é, o movimento de rotação do corpo extenso (braço, pé, perna etc.) ocorre em torno das articulações.
Para definir o momento da força ou torque, use o exemplo de uma gangorra. Pergunte aos estudantes se a massa das crianças interfere no movimento ao brincar na gangorra. É provável que respondam que uma criança com massa maior oferece mais dificuldade para ser erguida pela criança que está na outra ponta. Com base nisso, explique que nesse movimento estão aplicadas as forças potente e resistente da alavanca. Quanto maior a massa da criança a ser erguida, maior será a força resistente. Assim, a outra criança, que aplica a força potente, precisa fazer uma força maior do que a força resistente.
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 335 e 336 contribui para o desenvolvimento das habilidades EM13CNT101 e EM13CNT204, pois leva os estudantes a elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos e partes do corpo humano, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. A análise dos movimentos apresentados nessas páginas também contribui para desenvolver as Competências gerais 1 e 2, pois os incentiva a recorrer a conceitos físicos para compreender a ação conjunta de ossos, músculos e articulações.
Apresente o conceito de centro de gravidade e explique por que ficar de braços abertos sobre o slackline mostrado na página 338 ajuda a manter o equilíbrio. Use essa ilustração para explicar que, se o centro de gravidade se localizar fora da sua linha de ação, tem-se o desequilíbrio.
Nas páginas 338 e 339, explique para os estudantes que o centro de gravidade depende da aceleração gravitacional local, enquanto o centro de massa depende da distribuição de massa do objeto. Portanto, se a aceleração gravitacional que age sobre o objeto não for uniforme, os pontos de centro de gravidade e centro de massa não vão coincidir. Isso ocorre com corpos muito grandes, nos quais, em partes distintas, a aceleração da gravidade sentida é consideravelmente diferente, o que não ocorre em corpos pequenos.
BNCC em contexto
O boxe Compartilhe ideias da página 339 promove o autoconhecimento e autocuidado, contribuindo para desenvolver a Competência geral 8, além de trabalhar o tema contemporâneo transversal Saúde e promover a saúde mental dos estudantes. Além disso, incentiva-os a respeitar as opiniões dos colegas em uma discussão em grupo.
Compartilhe ideias - página 339
Inicie este boxe perguntando aos estudantes em quais situações do cotidiano se aplicam os conceitos de centro de gravidade e centro de massa. Oriente os estudantes durante a pesquisa, a fim de que as informações sejam adquiridas em sites confiáveis.
Integrando o conhecimento
Ao estudar o equilíbrio de corpo extenso e o centro de massa, é possível conectar com a análise do movimento humano, como postura, equilíbrio e biomecânica em esportes e atividades físicas. Os estudantes podem verificar como o centro de massa afeta o equilíbrio de um atleta ou como as forças e os torques são aplicados em movimentos corporais, oportunidade interessante para desenvolver uma aula com o professor do componente curricular de Educação Física. Além disso, a análise de movimentos e da sustentação do corpo permite o trabalho interdisciplinar com o componente curricular de Biologia, que aborda os sistemas esquelético e muscular.
Prática científica - páginas 340 e 341
Objetivos
- Realizar movimentos e identificar situações nas quais ocorreram alterações no centro de gravidade, afetando o equilíbrio corporal.
- Observar os ajustes que fazemos para manter o equilíbrio corporal ao realizar alguns movimentos.
Orientações
Ao trabalhar a questão a do Por dentro do contexto, instigue os estudantes a perceber que é possível relacionar os conceitos de força, centro de gravidade, ponto de apoio e torque às condições de equilíbrio de um corpo, mesmo que de forma intuitiva, ao analisar situações do cotidiano.
Peça auxílio ao professor do componente curricular de Educação Física para preparar o percurso que os estudantes vão fazer no pátio da escola ou na quadra de esportes, por exemplo. Solicite também a ele que oriente a turma durante os movimentos, identificando as melhores maneiras de manter o equilíbrio corporal, de modo que os estudantes não se machuquem durante a realização da atividade. Eles podem formar duplas, para que um possa filmar enquanto o outro faz o percurso, possibilitando que utilizem os vídeos para identificar quando perderam o equilíbrio ou o que fizeram para corrigir os desequilíbrios corporais que tiveram na atividade.
Acompanhando a aprendizagem
Se julgar conveniente, utilize a atividade 8 da página 343 para avaliar o processo de aprendizagem relacionado ao torque de uma força e equilíbrio rotacional. Para isso, analise o resultado da atividade e perceba se há necessidade de retomar as explicações sobre o tema em questão.
Respostas - Páginas 342 e 343
1. a ) 3 newtons vezes m; anti-horário.
M início subscrito, 'F' subscrito p, fim subscrito é igual a 'F' subscrito p vezes d início subscrito, 'F' subscrito p, fim subscrito implica em M início subscrito, 'F' subscrito p, fim subscrito é igual a 25 vezes 0 vírgula 12 portanto M início subscrito, 'F' subscrito p, fim subscrito é igual a 3 newtons vezes m
b ) 18 newtons vezes m; anti-horário.
M início subscrito, 'F' subscrito res, fim subscrito é igual a 'F' subscrito res vezes d início subscrito, 'F' subscrito res, fim subscrito implica em M início subscrito, 'F' subscrito res, fim subscrito é igual a 60 vezes 0 vírgula 3 portanto M início subscrito, 'F' subscrito res, fim subscrito é igual a 18 newtons vezes m
Página LXXV
c ) A força do bíceps, localizada a 4 centímetros do cotovelo, deve gerar um torque suficiente para equilibrar os dois torques calculados anteriormente. Ou seja:
M subscrito po é igual a 'F' subscrito po vezes d subscrito po implica em 3 mais 18 é igual a 'F' subscrito po vezes 0 vírgula 0 4 portanto 'F' subscrito po é igual a 525 newtons
3. a ) M é igual a 30 vezes 0 vírgula 75 vezes 1 implica em M é igual a 22 vírgula 5 newton vezes m
b ) M é igual a 40 vezes 0 vírgula 6 vezes sen 45 graus implica em M é igual a 12 vezes raiz quadrada de 2 N vezes m
4. Sabendo que d é igual a 54 centímetros é igual a 0 vírgula 54 metro, temos:
M é igual a 'F' vezes d implica em 270 é igual a 'F' vezes 0 vírgula 54 implica em 'F' é igual a início de fração, numerador: 70, denominador: 0 vírgula 54, fim de fração portanto 'F' é igual a 500 newtons
5. Divida as 9 esferas em 3 grupos de 3 esferas. Coloque um grupo por prato da balança, de modo que um grupo fique de fora. Se a balança ficar equilibrada, significa que a esfera de maior massa está no grupo que ficou fora. Se a balança pender para um lado, significa que ali está a esfera de maior massa. Assim, descobrimos em qual dos grupos está a esfera com massa diferente. Em seguida, retire as esferas dos pratos e repita o processo apenas com o grupo que contém a esfera de maior massa, colocando uma esfera em cada prato, de modo que uma delas fique fora da balança. Caso a balança penda para algum lado, aquela é a esfera de maior massa. Caso se equilibre, a esfera que ficou de fora é a de maior massa.
6. Para que não haja rotação da barra, o momento resultante das forças deve ser nulo.
M subscrito R é igual a M subscrito 1 mais abre parênteses menos M subscrito 2 fecha parênteses é igual a 0 implica em 'F' subscrito 1 vezes b subscrito 1 é igual a 'F' subscrito 2 vezes b subscrito 2 implica em
implica em 40 vezes d é igual a 'F' subscrito 2 vezes 4 vezes d implica em 'F' subscrito 2 é igual a 10 portanto 'F' subscrito 2 é igual a 10 newtons
A força expressão com detalhe acima, início da expressão, 'F', fim da expressão, início do detalhe acima, seta para a direita, fim do detalhe acima subscrito 2 deve ser aplicada no sentido horário.
7. O centro de massa da barra está a 5 metros de suas extremidades e a 1 metro do ponto B. Calculando o torque com relação ao ponto A, temos:
∑ M é igual a 0 implica em 'm' subscrito barra vezes 'g' vezes d subscrito barra é igual a 'm' subscrito criança vezes 'g' vezes d subscrito criança implica em
implica em 80 vezes 1 é igual a 25 vezes d subscrito criança portanto d subscrito criança é igual a 3 vírgula 2 metros
9. Como o sistema está em equilíbrio, calculando o momento total com relação à interseção da corda da esquerda com a barra:
abre parênteses 'm' subscrito barra vezes 2 mais 2 vezes 1 mais 4 vezes 2 mais 6 vezes 3 fecha parênteses vezes 'g' menos T subscrito 2 vezes 4 é igual a 0 implica em
implica em abre parênteses 4 vezes 2 mais 2 mais 8 mais 18 fecha parênteses vezes 10 é igual a 4 T subscrito 2 implica em T subscrito 2 é igual a 90 newtons
Calculando o momento total com relação à interseção da corda da direita com a barra:
abre parênteses 'm' subscrito barra vezes 2 mais 2 vezes 3 mais 4 vezes 2 mais 6 vezes 1 fecha parênteses vezes 'g' menos T subscrito 1 vezes 4 é igual a 0 implica em
implica em abre parênteses 4 vezes 2 mais 6 mais 8 mais 6 fecha parênteses vezes 10 é igual a 4 vezes T subscrito 1 implica em T subscrito 1 é igual a 70 newtons
Outra maneira de resolver é calcular o valor de T subscrito 2, como feito anteriormente, e de acordo com condições de equilíbrio translacional calcular o valor da outra tensão.
10. Pode-se ver que os pontos A e B têm a mesma ordenada. Logo, estão em uma mesma reta. O mesmo ocorre com os pontos 'C' e D. Os pontos A e 'C' têm a mesma abcissa, ocorrendo o mesmo com os pontos B e D. Logo, a coordenada da abcissa do centro de massa é o ponto médio entre 1 e 5, ou seja, 3, e a da ordenada o ponto médio entre 1 e 3, ou seja, 2. Assim, a coordenada de seu centro de massa é abre parênteses 3 vírgula 2 fecha parênteses.
11. Resposta: 04 mais 0 8 mais 16 é igual a 28
01 ) Falso, pois pela definição de torque M é igual a 'F' vezes d vezes seno teta dependemos da distância entre a aplicação da força e o ângulo de rotação.
02 ) Falso, torque e trabalho são grandezas diferentes. Torque é um vetor, possui módulo, direção e sentido, e trabalho é energia, uma grandeza escalar, assim o torque só está definido para sistemas que possuem rotação.
04 ) Correto, pois para um corpo fora ou em equilíbrio 'F' subscrito r é igual a somatório subscrito i início sobrescrito, n, fim sobrescrito 'F' subscrito i, o torque resultante é a soma dos torques.
08 ) Correto, pois torque é a força de giro do sistema, essa força causa o movimento dos pistões implicando na aceleração do veículo.
16 ) Correto, pois M é igual a 'F' vezes d vezes sen teta implica em 'F' é igual a início de fração, numerador: M, denominador: d vezes seno teta, fim de fração, conforme se distancia do ângulo de rotação, a força necessária para rotacionar a barra diminui.
Capítulo 22 - Estudando os movimentos dos corpos - páginas 344 a 352
Objetivos do capítulo
- Reconhecer os diferentes tipos de movimento realizados pelos corpos.
- Diferenciar movimento uniforme de movimento retilíneo uniforme.
- Diferenciar movimento uniformemente variado de movimento retilíneo uniformemente variado.
- Descrever o movimento circular uniforme.
- Identificar a posição angular e compreender o conceito de deslocamento angular.
- Ser capaz de estabelecer uma relação entre os conceitos de período e de frequência.
- Diferenciar velocidade angular de velocidade linear e compreender a relação entre elas.
Páginas 342 a 350
BNCC em contexto
A abordagem do capítulo em geral contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3, pois possibilita aos estudantes investigar situações-problema e avaliar a aplicação do conhecimento científico e tecnológico para justificar o uso de equipamentos de proteção em atividades cotidianas, como na prática de esportes, além de avaliar a necessidade de adotar comportamentos de segurança visando à integridade física individual e coletiva, o que permite desenvolver a habilidade EM13CNT306 e o tema contemporâneo transversal Saúde.
É possível abordar a habilidade EM13CNT204 ao elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra com base nas interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.
Explore as imagens das modalidades esportivas na página 344 e questione os estudantes a respeito de suas práticas esportivas, a fim de que exponham para a turma sua experiência com o esporte, seja apenas como lazer e manutenção da saúde, seja acompanhado por um profissional. Aproveite para destacar os tipos de trajetória em cada uma das modalidades apresentadas na página e os tipos de movimento em que elas são classificadas: uniforme, uniformemente variado ou circular.
Página LXXVI
É importante que os estudantes construam intuitivamente o conceito de movimento uniforme e percebam que, em situações envolvendo esse tipo de movimento, o valor da velocidade não sofre alterações ao longo de todo o percurso. Questione-os sobre a ocorrência desse tipo de movimento em situações do cotidiano e liste suas respostas na lousa.
Atividade extra
Ao iniciar os estudos sobre movimento uniforme e uniformemente variado da página 348, pode-se realizar uma atividade prática e estabelecer uma relação entre o conteúdo estudado e o componente curricular de Educação Física. Com a ajuda do professor desse componente e utilizando cones, cronômetro digital e trena, forme grupos de cinco estudantes, dispostos em fileiras. O objetivo da atividade é fazer cada parte de determinado percurso com a mesma velocidade, verificando se isso é possível. Com essa atividade, será promovida, na prática, uma investigação sobre o comportamento da velocidade nos movimentos. Para isso, demarque o trajeto com os cones e peça-lhes que, individualmente, realizem um percurso de ida e volta caminhando. No final de cada percurso, o estudante responsável pelas anotações deverá registrar o tempo gasto para cada integrante do grupo percorrer as distâncias previamente estipuladas. Oriente-os a fazer o percurso novamente mantendo o tamanho dos passos. Em seguida, calcule novamente a velocidade de cada um.
Por fim, promova uma discussão sobre os valores obtidos, perguntando-lhes se foi possível realizar um movimento aproximadamente uniforme em cada parte do percurso. Após a discussão, fale sobre as dificuldades em manter um movimento uniforme percorrendo sempre distâncias iguais no mesmo intervalo de tempo.
Se julgar conveniente, ao trabalhar a função horária das posições na página 348, explore o gráfico com os estudantes e diga que para definir tal equação é necessário calcular a área sob a curva. Essa área é numericamente igual ao valor de deslocamento realizado pelo atleta, pois se trata de um gráfico da velocidade em função do tempo abre parênteses v vezes 't' fecha parênteses.
Relembre os estudantes de que a área do trapézio é calculada por: A subscrito trapézio é igual a início de fração, numerador: abre parênteses B maiúsculo mais b minúsculo fecha parênteses vezes 'h', denominador: 2, fim de fração. Auxilie-os a identificar no gráfico a base maior, a base menor e a altura do trapézio.
Compartilhe ideias - página 348
Pergunte aos estudantes em quais profissões é necessário identificar a velocidade, a aceleração, o deslocamento e a posição dos corpos. Isso auxilia no desenvolvimento da atividade, uma vez que direciona a pesquisa. Comente que as atividades como transportes de pessoas e cargas levam em conta esses conceitos, pois precisam seguir horários definidos e evitar atrasos. Para montar um itinerário de transporte, por exemplo, os profissionais analisam a trajetória, a distância a ser percorrida (ou deslocamento), a velocidade média que o automóvel consegue desenvolver, entre outras variáveis. Assim, é possível determinar o horário de uma entrega ou de desembarque em certa cidade.
Na página 349, ao abordar o movimento circular, mencione que o componente da aceleração que tem a mesma direção da velocidade do móvel é chamado de aceleração tangencial. Nos casos em que o corpo tem apenas aceleração tangencial, ele vai descrever movimentos retilíneos. Já a componente da aceleração orientada perpendicularmente à velocidade do corpo é definida como aceleração centrípeta. Nos casos em que o corpo tem apenas essa aceleração, ele vai descrever movimentos circulares uniformes, e o vetor aceleração centrípeta sempre será orientado para o centro da curvatura descrita.
Acompanhando a aprendizagem
Se julgar conveniente, utilize a atividade 14 da página 352 para verificar se os estudantes percebem que, quando um móvel completa uma volta em um movimento circular, sua posição angular não é reajustada para zero, como ocorreria em um movimento retilíneo. Por exemplo, ainda que uma posição de teta é igual a 30 graus seja equivalente a uma posição de teta é igual a 390 graus, é mantida a de maior valor a fim de indicar quantas voltas foram executadas desde o começo do movimento.
Respostas - Páginas 351 e 352
1. A primeira metade é desenvolvida com velocidade de 0 vírgula 5 metro por segundo, portanto o tempo gasto foi:
v subscrito m é igual a início de fração, numerador: delta 's', denominador: delta 't', fim de fração implica em 0 vírgula 5 é igual a início de fração, numerador: 25, denominador: delta 't', fim de fração implica em delta 't' é igual a início de fração, numerador: 25, denominador: 0 vírgula 5, fim de fração portanto delta 't' é igual a 50 segundos
Para o tempo restante, isto é, 62 vírgula 5 segundos menos 50 segundos é igual a 12 vírgula 5 segundos, o nadador desenvolve a velocidade de:
v subscrito m é igual a início de fração, numerador: delta 's', denominador: delta 't', fim de fração implica em v subscrito m é igual a início de fração, numerador: 25, denominador: 12 vírgula 5, fim de fração portanto v subscrito m é igual a 2 metros por segundo
2. Aplicando a equação horária da posição para o MRUV, temos:
's' é igual a 's' subscrito 0 mais v subscrito 0 vezes 't' mais início de fração, numerador: 'g' vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em 10 é igual a 0 mais 0 vezes 't' mais início de fração, numerador: 10 vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em
implica em 't' elevado ao quadrado é igual a 10 sobre 5 implica em 't' é igual a raiz quadrada de 2 portanto 't' é aproximadamente igual a 1 vírgula 41 segundo
Para a velocidade, utilizando a equação horária da velocidade, tem-se:
v é igual a v subscrito 0 mais 'g' vezes 't' implica em v é igual a 0 mais 10 vezes 1 vírgula 41 portanto v é aproximadamente igual a 14 vírgula 1 metros por segundo
3. a ) Convertendo a velocidade para metro por segundo e aplicando a relação da aceleração, temos:
v é igual a início de fração, numerador: 216, denominador: 3 vírgula 6, fim de fração portanto v é igual a 60 metros por segundo
a subscrito m é igual a início de fração, numerador: delta v, denominador: delta 't', fim de fração é igual a 60 sobre 24 portanto a é igual a 2 vírgula 5 metros por segundo elevado ao quadrado
b ) v é igual a v subscrito 0 menos a vezes 't' implica em 0 é igual a 60 menos 10 vezes 't' portanto 't' é igual a 6 segundos
4. a ) v é igual a v subscrito 0 mais a vezes 't' implica em v é igual a 0 vírgula 5 vezes 12 portanto v é igual a 6 metros por segundo
b ) 's' é igual a 's' subscrito 0 mais v subscrito 0 vezes 't' mais início de fração, numerador: a vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em 's' é igual a 0 mais início de fração, numerador: 0 vírgula 5 vezes 12 elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração portanto 's' é igual a 36 metros
7. Sendo 36 quilômetros por hora é igual a 10 metros por segundo e utilizando a equação de Torricelli, tem-se:
v elevado ao quadrado é igual a v subscrito 0 início sobrescrito, 2, fim sobrescrito mais 2 vezes a vezes delta 's' implica em 0 elevado ao quadrado é igual a 10 elevado ao quadrado mais 2 vezes a vezes 10 implica em
implica em 20 vezes a é igual a menos 100 implica em a é igual a menos 100 sobre 20 portanto a é igual a menos 5 metros por segundo elevado ao quadrado
8. a ) No primeiro intervalo de tempo, temos:
delta 's' subscrito 1 é igual a 150 vezes abre parênteses 25 menos 10 fecha parênteses implica em delta 's' subscrito 1 é igual a 2.250 centímetros é igual a 22 vírgula 5 metros
Página LXXVII
No segundo intervalo de tempo, temos: delta 's' subscrito 2 é igual a 100 vezes abre parênteses 45 menos 35 fecha parênteses implica em delta 's' subscrito 1 é igual a 1.000 centímetros é igual a 10 metros
9. a é igual a início de fração, numerador: delta v, denominador: delta 't', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 0 menos 20, denominador: 6, fim de fração portanto a é igual a menos 3 vírgula 3 metros por segundo elevado ao quadrado
10. a ) Pela função horária dada, pode-se ver que v subscrito 0 é igual a 24 metros por segundo e a é igual a menos 1 vírgula 2 metro por segundo elevado ao quadrado.
Assim, temos:
v é igual a v subscrito 0 mais a vezes 't' implica em v é igual a 24 menos 1 vírgula 2 vezes 't' implica em v é igual a 0 implica em
implica em 24 é igual a 1 vírgula 2 vezes 't' portanto 't' é igual a 20 segundos
b ) Pela função horária das posições, temos:
's' é igual a 's' subscrito 0 mais v subscrito 0 vezes 't' mais início de fração, numerador: a vezes 't' elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em
implica em delta 's' é igual a 0 mais 24 vezes 20 menos início de fração, numerador: 1 vírgula 2 vezes 20 elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em
implica em delta 's' é igual a 480 menos 240 portanto delta 's' é igual a 240 metros
c ) Esboçando o gráfico do movimento do veículo, temos:
Gráfico de v vezes t do movimento do veículo
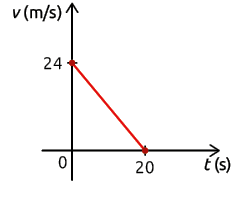
Fonte de pesquisa: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: mecânica. Tradução: Ronaldo Sérgio de Biasi. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1. p. 37.
No gráfico da velocidade em função do tempo, o deslocamento é numericamente igual à área da região delimitada pelo gráfico.
delta 's' expressão com detalhe acima, início da expressão, é igual a, fim da expressão, início do detalhe acima, N, fim do detalhe acima área implica em delta 's' é igual a início de fração, numerador: 20 vezes 24, denominador: 2, fim de fração é igual a 240 implica em delta 's' é igual a 240 metros
11. a ) delta 's' é igual a v vezes delta 't' é igual a 180 vezes abre parênteses 1 vírgula 5 vezes 60 fecha parênteses portanto delta 's' é igual a 16.200 metros
'C' é igual a 2 vezes pi vezes R implica em 16.200 é igual a 2 vezes 3 vezes R portanto R é igual a 2.700 metros
b ) a subscrito c é igual a início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: R, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 180 elevado ao quadrado, denominador: 2.700, fim de fração portanto a subscrito c é aproximadamente igual a 12 metros por segundo elevado ao quadrado
12. a ) De acordo com a equação horária angular, temos ômega é igual a pi sobre 8 rad barra s, portanto a aceleração centrípeta é dada por:
a subscrito c é igual a ômega elevado ao quadrado vezes R é igual a abre parênteses pi sobre 8 fecha parênteses elevado ao quadrado vezes 1 vírgula 5 portanto a subscrito c é aproximadamente igual a 0 vírgula 23 metro por segundo elevado ao quadrado
b ) teta é igual a pi sobre 4 mais pi sobre 8 vezes 't' é igual a pi sobre 4 mais pi sobre 8 vezes 16 portanto teta é igual a início de fração, numerador: 9 vezes pi, denominador: 4, fim de fração rad
13. a ) O período do movimento é 0 vírgula 5 segundo. Portanto, a frequência é dada por: f é igual a 1 sobre T implica em f é igual a início de fração, numerador: 1, denominador: 0 vírgula 5, fim de fração portanto f é igual a 2 hertz
b ) Em uma volta completa, o atleta varre o ângulo de 2 vezes pi rad. Logo: ômega é igual a início de fração, numerador: delta teta, denominador: delta 't', fim de fração implica em ômega é igual a início de fração, numerador: 2 vezes pi, denominador: 0 vírgula 5, fim de fração portanto ômega é igual a 4 vezes pi rad por segundo
c ) Considerando que a posição inicial é teta subscrito 0 é igual a pi rad e ômega é igual a 4 vezes pi rad por segundo, tem-se: teta é igual a teta subscrito 0 mais ômega vezes 't' implica em teta é igual a pi mais 4 vezes pi vezes 't'
d ) Considerando o raio do giro do martelo como a soma do comprimento do cabo e o braço do atleta, tem-se:
v é igual a ômega vezes R implica em v é igual a 4 vezes pi vezes abre parênteses 1 vírgula 2 mais 0 vírgula 75 fecha parênteses portanto
portanto v é igual a 7 vírgula 8 vezes pi m por segundo
14. Aplicando a relação do deslocamento para as pessoas A e B, temos:
delta 's' subscrito A é igual a 2 vezes pi vezes R subscrito A é igual a 2 vezes pi vezes 25 implica em delta 's' subscrito A é igual a 157 metros
delta 's' subscrito B é igual a 2 vezes pi vezes R subscrito B é igual a 2 vezes pi vezes 50 implica em delta 's' subscrito A é igual a 314 metros
Aplicando a relação da velocidade para ambas as pessoas, temos:
v subscrito B é igual a 3 é igual a início de fração, numerador: 2 vezes pi vezes 50, denominador: delta 't', fim de fração implica em delta 't' é aproximadamente igual a 104 vírgula 7 segundos
v subscrito A é igual a início de fração, numerador: 2 vezes pi vezes 25, denominador: 104 vírgula 7, fim de fração implica em v subscrito A é igual a 1 vírgula 5 metro por segundo
Capítulo 23 - Energia e impulso - páginas 353 a 367
Objetivos do capítulo
- Compreender o conceito de trabalho e determinar o trabalho realizado por uma força.
- Conhecer e identificar os tipos de energia presentes em certos fenômenos.
- Compreender as características e calcular as energias cinética, potencial elástica e potencial gravitacional de um corpo.
- Identificar as transformações de energia em um sistema e compreender a conservação da energia mecânica.
- Compreender os conceitos de potência instantânea e potência média, analisando algumas aplicações e efetuando o cálculo do rendimento.
- Compreender os conceitos de impulso e quantidade de movimento.
- Compreender as leis de conservação da energia e da quantidade de movimento linear.
- Classificar as colisões em elástica, parcialmente elástica e inelástica e calcular seu coeficiente de restituição.
Páginas 353 a 365
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 353 a 365 contribui para o desenvolvimento da habilidade EM13CNT101 e da Competência geral 2, pois permite analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas.
Ao iniciar o capítulo com o exemplo do trenó, caso os estudantes não percebam a importância das forças aplicadas na direção horizontal para empurrá-lo, faça a seguinte pergunta a eles: "Se forças oblíquas em relação à pista fossem aplicadas sobre o trenó, que efeitos elas teriam?". Eles devem perceber que forças oblíquas têm componentes verticais, que atuariam pressionando o trenó contra a pista ou elevando-o, desse modo, parte da força não atuaria na aceleração do trenó.
Mostre a expressão matemática que possibilita calcular o trabalho realizado por uma força abre parênteses tau é igual a 'F' vezes delta 's' vezes cos teta fecha parênteses. Explique que, quando a força tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, temos cosseno 0 grau é igual a 1 e, portanto, o trabalho fica abre parênteses tau é igual a 'F' vezes delta 's' fecha parênteses. Em seguida, discuta os casos em que o ângulo entre a força e o deslocamento mede 90 graus e 180 graus.
Ao iniciar os estudos sobre energia, use a imagem do atleta do salto com vara da página 355 e destaque os instantes em que se pode caracterizar cada tipo de energia. Explique aos estudantes que a energia química armazenada no corpo dele, antes de iniciar a corrida, será utilizada como fonte de energia para todas as transformações de energia posteriores durante a atividade.
Página LXXVIII
Compartilhe ideias - página 356
Esta atividade proporciona uma oportunidade para desenvolver o pensamento computacional dos estudantes. Esse pensamento inclui a decomposição do problema em partes menores e o reconhecimento de padrões, que podem facilitar a construção do infográfico, mostrando o comportamento da energia cinética à medida que a velocidade aumenta. Além disso, ela aborda o tema contemporâneo transversal Educação para o trânsito.
Enfatize para os estudantes que a energia cinética depende da massa e da velocidade do corpo em movimento. Assim, os danos causados por um carro pequeno em alta velocidade podem ser equivalentes aos gerados por um veículo de maior massa em baixa velocidade.
Atividade extra
Se achar conveniente, para que os estudantes entendam a potência total, a útil e a dissipada, resolva com eles a atividade a seguir.
1. Um guindaste tem um motor que desenvolve uma potência de 7.500 watts e ergue verticalmente, a partir do solo e com velocidade constante, uma carga de 600 quilogramas até uma altura de 20 metros. Sabendo que o intervalo de tempo gasto para isso foi 2 minutos:
a ) Determine a potência útil e a dissipada pelo guindaste.
Resposta
Como a carga foi elevada com velocidade constante, o trabalho realizado pela máquina tem valor igual ao trabalho da força peso, portanto:
tau é igual a 'm' vezes 'g' vezes 'h' implica em tau é igual a 600 vezes 10 vezes 20 portanto tau é igual a 120.000 joules
Como 2 minutos é igual a 120 segundos, a potência útil vale: P subscrito u é igual a início de fração, numerador: tau, denominador: delta 't', fim de fração implica em
implica em P subscrito u é igual a 120.000 sobre 120 portanto P subscrito u é igual a 1.000 watts
Dessa maneira, a potência dissipada pode ser encontrada por: P subscrito t é igual a P subscrito u mais P subscrito d implica em 7.500 é igual a 1.000 mais P subscrito d portanto P subscrito d é igual a 6.500 watts
b ) Qual é o rendimento do guindaste?
Resposta
O rendimento do guindaste é dado por:
etá é igual a início de fração, numerador: P subscrito u, denominador: P subscrito t, fim de fração implica em etá é igual a 1.000 sobre 7.500 portanto etá é igual a 0 vírgula 13 ou 13 por cento
Ao abordar a quantidade de movimento na página 359, enfatize o caráter vetorial dessa grandeza, pois é importante para a análise de colisões entre corpos, uma vez que a orientação dos movimentos antes e depois da colisão pode influenciar essa análise.
O impulso sofrido por um corpo é um conceito presente no cotidiano dos estudantes pela ideia de "amortecer" um impacto. Leve-os a concluir que a diferença entre colidir com um corpo rígido ou macio consiste no tempo em que esses corpos permanecem interagindo. Esse é o princípio de funcionamento dos airbags.
Ao trabalhar as páginas 361 e 362, explique a lei da conservação do momento linear, citando algumas das suas aplicações práticas, como é utilizado o cálculo da velocidade de recuo de uma arma ao disparar um projétil, prever o movimento de foguetes espaciais, no estudo de partículas subatômicas e em choques entre corpos celestes, entre outros. Comente com os estudantes que a conservação da quantidade de movimento é válida para todos os tipos de colisão, seja quando os corpos permanecem unidos após o impacto (colisão inelástica), seja quando se separam após colidir (colisão elástica). Nas colisões inelásticas, a energia não é conservada.
Conexões com... - páginas 364 e 365
Objetivos
- Identificar algumas transformações de energia que ocorrem no corpo humano.
- Reconhecer a importância das atividades físicas para a manutenção da saúde do corpo.
Orientações
Esta seção aborda a prática de atividades físicas sob a perspectiva das transformações de energia no corpo humano, promovendo a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares de Física, Biologia e Química. Ao descrever como o organismo utiliza a energia proveniente dos alimentos para realizar processos como contração muscular, manutenção da temperatura corporal e respiração celular, o texto aproxima conceitos abstratos de energia, como calor e trabalho, do cotidiano dos estudantes.
Respostas
a ) O levantamento de peso envolve a transformação de energia química, armazenada como ATP nos músculos, em energia cinética durante a contração muscular. À medida que o peso sobe, a energia cinética se converte em energia potencial gravitacional. Durante a descida, essa energia potencial volta a se transformar em energia cinética, controlada pelos músculos, e parte dela é dissipada como calor.
b ) À medida que o ciclista ganha altitude, parte da energia cinética, que é associada ao movimento, é convertida em energia potencial gravitacional, que está relacionada à altura que esse ciclista alcança em relação ao solo. Em termos da lei da conservação de energia, o total de energia mecânica (soma da energia cinética e da energia potencial) do sistema ciclista-bicicleta permanece constante, se desconsiderarmos as perdas por atrito e resistência do ar.
c ) Os atletas podem aumentar a ingestão de carboidratos nos dias anteriores à prova para maximizar as reservas de energia no corpo. Durante a prova, podem consumir bebidas isotônicas e géis de carboidrato para reabastecer os níveis de glicose. Os treinos que simulam as condições da prova também ajudam a aumentar a eficiência do corpo ao utilizar gordura como fonte de energia.
d ) Os músculos armazenam glicogênio, que é uma importante fonte de energia. Durante uma doença grave, especialmente as que envolvem períodos prolongados de inatividade ou que requerem maior demanda metabólica (como infecções severas ou tratamento de câncer), o corpo pode recorrer às reservas de glicogênio nos músculos para obter energia. Os indivíduos com mais massa muscular têm uma reserva energética maior, e isso pode ajudar a prevenir a desnutrição e o desgaste excessivo do corpo durante a recuperação.
Página LXXIX
Respostas - Página 366
2. Para determinar o aumento, verificamos a razão entre a energia cinética final e a inicial:
início de fração, numerador: E subscrito c, denominador: E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: início de fração, numerador: 'm' vezes v elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração, denominador: início de fração, numerador: 'm' vezes v subscrito 0 elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração, fim de fração implica em início de fração, numerador: E subscrito c, denominador: E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: v elevado ao quadrado, denominador: v subscrito 0 elevado ao quadrado, fim de fração implica em início de fração, numerador: E subscrito c, denominador: E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 30 elevado ao quadrado, denominador: 10 elevado ao quadrado, fim de fração portanto início de fração, numerador: E subscrito c, denominador: E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito, fim de fração é igual a 9
Portanto, a energia cinética fica nove vezes maior. No caso de uma colisão, essa quantidade de energia a mais pode ser transferida para os passageiros no interior do carro, podendo causar lesões graves ou até a morte. Uma energia cinética menor significa mais segurança para os ocupantes do veículo em caso de acidente.
3. Primeiro, é necessário converter a energia cinética: E subscrito c é igual a 5 vírgula 0 vezes 10 elevado ao cubo vezes 1 vírgula 6 vezes 10 elevado a menos 19 portanto E subscrito c é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 16 Joules
O trabalho realizado pela força elétrica é igual à diferença entre a energia cinética final e a inicial:
tau é igual a E subscrito c menos E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito é igual a 8 vírgula 0 vezes 10 elevado a menos 16 menos 0 portanto tau é igual a 8 vírgula 0 vezes 10 elevado a menos 16 Joules
4. Pela imagem, a deformação causada na mola vale x é igual a 0 vírgula 1 metro, portanto a energia potencial elástica é:
E subscrito p e é igual a início de fração, numerador: k vezes delta x elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em E subscrito p e é igual a início de fração, numerador: 800 vezes abre parênteses 0 vírgula 1 fecha parênteses elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração portanto E subscrito p e é igual a 4 joules
5. De A para B, temos: tau início subscrito, A B, fim subscrito é igual a 'F' subscrito P vezes delta 's' vezes cos 180 graus implica em
implica em tau início subscrito, A B, fim subscrito é igual a 'm' vezes 'g' vezes delta 's' vezes abre parênteses menos 1 fecha parênteses implica em
implica em tau início subscrito, A B, fim subscrito é igual a menos 45 vezes 10 vezes 0 vírgula 9 portanto tau início subscrito, A B, fim subscrito é igual a menos 405 joules
De B para 'C': tau início subscrito, B 'C', fim subscrito é igual a 'F' subscrito P vezes delta 's' vezes cos 0 grau implica em tau início subscrito, B 'C', fim subscrito é igual a 'm' vezes 'g' vezes delta 's' vezes 1 implica em
implica em tau início subscrito, B 'C', fim subscrito é igual a 45 vezes 10 vezes 0 vírgula 3 portanto tau início subscrito, B 'C', fim subscrito é igual a 135 joules
De A para 'C': tau início subscrito, A 'C', fim subscrito é igual a tau início subscrito, A B, fim subscrito mais tau início subscrito, B 'C', fim subscrito implica em tau início subscrito, A 'C', fim subscrito é igual a menos 405 mais 135 portanto tau início subscrito, A 'C', fim subscrito é igual a menos 270 joules
6. Sendo 8.400 quilojoules é igual a 8 vírgula 4 vezes 10 elevado a 6 Joules e 1 dia é igual a 8 vírgula 64 vezes 10 elevado a 4 segundos, temos: P é igual a início de fração, numerador: tau, denominador: delta 't', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 8 vírgula 4 vezes 10 elevado a 6, denominador: 8 vírgula 64 vezes 10 elevado a 4, fim de fração portanto P é aproximadamente igual a 97 vírgula 2 watts
7. Ambos os corredores partem do repouso, logo o trabalho realizado por eles é igual a suas energias cinéticas finais tau é igual a E subscrito c. Cada corredor exerce uma potência igual ao trabalho dividido pelo tempo de prova de cada um: P é igual a início de fração, numerador: tau, denominador: delta 't', fim de fração. Agora, falta dividir os valores para cada um deles:
início de fração, numerador: P subscrito E, denominador: P subscrito J, fim de fração é igual a início de fração, numerador: tau subscrito E, denominador: tau subscrito J, fim de fração é igual a início de fração, numerador: E início subscrito, c subscrito E, fim subscrito, denominador: E início subscrito, c subscrito J, fim subscrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: início de fração, numerador: 'm' vezes v subscrito E início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: 2, fim de fração, denominador: início de fração, numerador: 'm' vezes v subscrito J início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: 2, fim de fração, fim de fração é igual a início de fração, numerador: v subscrito E início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: v subscrito J início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: abre parênteses início de fração, numerador: 100, denominador: 9 vírgula 784, fim de fração fecha parênteses elevado ao quadrado, denominador: abre parênteses início de fração, numerador: 100, denominador: 9 vírgula 789, fim de fração fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 9 vírgula 784 elevado ao quadrado, denominador: 9 vírgula 789 elevado ao quadrado, fim de fração portanto início de fração, numerador: P subscrito E, denominador: P subscrito J, fim de fração é aproximadamente igual a 0 vírgula 9987
8. Utilizando a equação do trabalho, determina-se a força:
tau é igual a 'F' vezes delta 's' vezes cosseno 180 graus é igual a 'F' vezes delta 's' vezes abre parênteses menos 1 fecha parênteses implica em
implica em menos 30.000 é igual a menos 'F' vezes 50 implica em 'F' é igual a 30.000 sobre 50 portanto 'F' é igual a 600 newtons
Assim, o impulso pode ser encontrado por: I é igual a 'F' vezes delta 't' é igual a 600 vezes 5 portanto I é igual a 3.000 newtons vezes s
9. Encontrando a velocidade do atacante:
v elevado ao quadrado é igual a V subscrito 0 início sobrescrito, 2, fim sobrescrito mais 2 vezes a vezes delta s implica em v elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 0 vírgula 3 vezes 30 implica em v elevado ao quadrado é igual a 18 portanto v é igual a raiz quadrada de 18 metros por segundo
A massa do atacante pode ser obtida por: 'F' subscrito P é igual a 'm' vezes 'g' implica em 'm' é igual a 700 sobre 10 é igual a 70 quilogramas
A energia cinética do jogador é dada por: E subscrito C é igual a 1 meio 'm' vezes v elevado ao quadrado é igual a 1 meio vezes 70 vezes abre parênteses raiz quadrada de 18 fecha parênteses elevado ao quadrado portanto E subscrito C é igual a 630 joules
Respostas - Página 367
11. Aplicando a relação da conservação da energia mecânica, temos: E início subscrito, m subscrito 0, fim subscrito é igual a E subscrito m implica em E início subscrito, p g subscrito 0, fim subscrito é igual a E subscrito c implica em 'm' vezes 'g' vezes 'h' subscrito 0 é igual a início de fração, numerador: 'm' vezes v elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em
implica em v elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 'g' vezes 'h' subscrito 0 implica em v elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 9 vírgula 8 portanto v é igual a 14 metros por segundo
No instante exato em que a esfera toca o solo, sua velocidade é 14 metros por segundo, tendo, assim, energia cinética e quantidade de movimento.
Q é igual a 'm' vezes v implica em Q é igual a 1 vezes 14 portanto Q é igual a 14 quilogramas vezes metros por segundo
13. a ) Aplicando a conservação da quantidade de movimento, temos:
Q subscrito 0 é igual a Q implica em Q início subscrito, 0 subscrito A, fim subscrito mais Q início subscrito, 0 subscrito B, fim subscrito é igual a Q subscrito A mais Q subscrito B implica em
implica em 'm' subscrito A vezes v início subscrito, 0 subscrito A, fim subscrito mais 'm' subscrito B vezes v início subscrito, 0 subscrito B, fim subscrito é igual a 'm' subscrito A vezes v subscrito A mais 'm' subscrito B vezes v subscrito B implica em
implica em 'm' vezes 6 mais 2 vezes 'm' vezes abre parênteses menos 4 fecha parênteses é igual a 'm' vezes abre parênteses menos 4 fecha parênteses mais 2 vezes 'm' vezes v subscrito B implica em
implica em 6 menos 8 é igual a menos 4 mais 2 vezes v subscrito B portanto v subscrito B é igual a 1 metro por segundo
b ) A colisão é inelástica. O coeficiente de restituição é: e é igual a início de fração, numerador: v subscrito a f, denominador: v subscrito a p, fim de fração implica em e é igual a início de fração, numerador: v subscrito B menos v subscrito A, denominador: v início subscrito, 0 subscrito A, fim subscrito menos v início subscrito, 0 subscrito B, fim subscrito, fim de fração implica em e é igual a início de fração, numerador: 1 menos abre parênteses menos 4 fecha parênteses, denominador: 6 menos abre parênteses menos 4 fecha parênteses, fim de fração implica em e é igual a 5 décimos portanto e é igual a 0 vírgula 5
c ) O sistema perde 50 joules de energia cinética.
E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito é igual a início de fração, numerador: 'm' subscrito A vezes v início subscrito, A subscrito 0, fim subscrito início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: 2, fim de fração mais início de fração, numerador: 'm' subscrito B vezes v início subscrito, B subscrito 0, fim subscrito início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: 2, fim de fração implica em E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito é igual a início de fração, numerador: 2 vezes 6 elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração mais início de fração, numerador: 4 vezes abre parênteses menos 4 fecha parênteses elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em
implica em E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito é igual a 36 mais 32 portanto E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito é igual a 68 joules
E subscrito c é igual a início de fração, numerador: 'm' subscrito A vezes v subscrito A início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: 2, fim de fração mais início de fração, numerador: 'm' subscrito B vezes v subscrito B início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: 2, fim de fração implica em E subscrito c é igual a início de fração, numerador: 2 vezes abre parênteses menos 4 fecha parênteses elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração mais início de fração, numerador: 4 vezes 1 elevado ao quadrado, denominador: 2, fim de fração implica em
implica em E subscrito c é igual a 16 mais 2 portanto E subscrito c é igual a 18 joules
Assim: delta E subscrito c é igual a E subscrito c menos E início subscrito, c subscrito 0, fim subscrito implica em delta E subscrito c é igual a 18 menos 68 portanto delta E subscrito c é igual a menos 50 joules
14. a ) Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, temos:
Q subscrito 0 é igual a Q implica em 'm' subscrito A vezes v início subscrito, A subscrito 0, fim subscrito mais 'm' subscrito B vezes v início subscrito, B subscrito 0, fim subscrito é igual a 'm' subscrito A vezes v subscrito A mais 'm' subscrito B vezes v subscrito B implica em
implica em 1 vírgula 6 vezes 5 vírgula 5 mais 2 vírgula 4 vezes 2 vírgula 5 é igual a 1 vírgula 6 vezes v subscrito A mais 2 vírgula 4 vezes 4 vírgula 9 implica em
implica em 8 vírgula 8 mais 6 é igual a 1 vírgula 6 vezes v subscrito A mais 11 vírgula 76 implica em
implica em 14 vírgula 8 menos 11 vírgula 76 é igual a 1 vírgula 6 vezes v subscrito A implica em
implica em 3 vírgula 0 4 é igual a 1 vírgula 6 vezes v subscrito A portanto v subscrito A é igual a 1 vírgula 9 metro por segundo
b ) Calculando o coeficiente de restituição, temos: e é igual a início de fração, numerador: v subscrito B menos v subscrito A, denominador: v início subscrito, A subscrito 0, fim subscrito menos v início subscrito, B subscrito 0, fim subscrito, fim de fração implica em e é igual a início de fração, numerador: 4 vírgula 9 menos 1 vírgula 9, denominador: 5 vírgula 5 menos 2 vírgula 5, fim de fração portanto e é igual a 1
Como e é igual a 1, temos que a colisão é elástica.
15. O jogador aplica uma força na bola, fornecendo-lhe energia cinética, que vai se transformando em energia potencial gravitacional conforme a bola sobe. No ponto mais alto de sua trajetória, a bola tem apenas energia potencial gravitacional e, depois disso, essa energia se converte em energia cinética à medida que a bola cai no chão. A bola atinge o chão e parte da energia cinética é perdida por conta da deformação da bola e do seu som, o que faz a bola subir novamente. A energia inicial da bola é igual à energia cinética fornecida pelo jogador, que é igual à energia potencial gravitacional da bola em seu ponto mais alto. Do mesmo modo, a energia final é igual à energia potencial gravitacional no final do trajeto. Calculando a razão entre as alturas em cada ponto, obtém-se: delta E é igual a início de fração, numerador: H subscrito f, denominador: H subscrito i, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 2 vírgula 4, denominador: 3 vírgula 0, fim de fração é igual a 0 vírgula 8
Sendo assim, a bola perde 20% da sua energia inicial.
Página LXXX
Retome o que estudou - página 367
Respostas
1. Esta questão pretende fazer os estudantes retomar os conteúdos sobre as alavancas. Eles podem citar que, utilizando uma alavanca com um braço resistente menor do que o braço potente, isto é, com o ponto de apoio mais perto do corpo que se quer movimentar, é possível mover cargas fazendo uma força com intensidade menor do que a da força peso do corpo.
2. Espera-se que os estudantes respondam que, ao empurrar a porta mais próximo da dobradiça, o torque diminui. Como o torque é diretamente proporcional à distância, quanto menor for o valor da distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, menor será o torque gerado, tornando mais difícil mover a porta.
3. Os estudantes podem responder que a velocidade tangencial é constante em módulo, mas a direção dessa velocidade varia constantemente. Por isso, há uma aceleração centrípeta, responsável por mudar a direção da velocidade e manter o objeto em trajetória circular. Essa aceleração aponta sempre para o centro do círculo, mesmo que a velocidade não mude em valor.
4. Espera-se que os estudantes respondam que a energia cinética vai diminuindo à medida que a velocidade diminui, enquanto a energia potencial gravitacional aumenta em razão do aumento da altura. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade do objeto é zero, então toda a energia mecânica está na forma de energia potencial gravitacional.
5. O objetivo desta questão é incentivar os estudantes a retomar os conteúdos relacionados às colisões e à conservação da quantidade de movimento. Eles podem citar que, em uma colisão de corpos com massas diferentes, o objeto de maior massa tenderá a uma menor variação de velocidade em comparação ao objeto de menor massa.
Unidade 6 A Física na relação entre o ser humano e o ambiente
Objetivos da unidade
- Conhecer as características de funcionamento de uma máquina a vapor.
- Compreender as consequências econômicas e sociais da invenção da máquina a vapor.
- Compreender a relação entre as variáveis de estado nas transformações isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática.
- Compreender a relação entre pressão, temperatura e volume em uma transformação qualquer por meio da equação geral dos gases.
- Relacionar a primeira lei da Termodinâmica com os fenômenos meteorológicos.
- Compreender a segunda lei da Termodinâmica e o conceito de entropia.
- Analisar o funcionamento de máquinas térmicas e seu rendimento.
- Conhecer as características das ondas e relacioná-las à audição e à visão humanas.
- Conhecer os problemas causados pela poluição sonora à saúde humana.
- Conhecer alguns danos causados pelo uso excessivo da tecnologia à audição e à visão humanas, refletindo sobre alguns cuidados necessários nesse contexto.
- Identificar as principais alterações visuais, como miopia, hipermetropia e astigmatismo.
Justificativas
A abordagem das páginas desta unidade contribui para o desenvolvimento da Competência geral 1, pois possibilita aos estudantes relacionar teorias científicas com práticas e reflexões sobre a realidade, tal qual a exploração de temas, como Revolução Industrial e história do desenvolvimento tecnológico. Ao conhecer os impactos dessa revolução na sociedade e no meio ambiente, eles desenvolvem a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1. O conhecimento de máquinas térmicas e sua aplicação no cotidiano, assim como de suas limitações, favorece a abordagem da habilidade EM13CNT303. Além disso, durante essa unidade, os estudantes analisarão teo- rias propostas ao longo do tempo sobre aspectos importantes da evolução do conhecimento científico, contribuindo para o desenvolvimento da habilidade EM13CNT201. Ao longo da unidade, eles serão incentivados a interpretar textos de divulgação científica, favorecendo a habilidade EM13CNT303.
A elaboração de questões, hipóteses e interpretações acerca da situação-problema proposta nessa unidade promove o desenvolvimento da habilidade EM13CNT301.
Abertura da unidade - páginas 372 e 373
BNCC em contexto
A abordagem histórica e os impactos de novas tecnologias na sociedade, como as máquinas térmicas, contribuem para o desenvolvimento da Competência geral 1. Ao analisar e refletir sobre seus impactos no meio ambiente, os estudantes desenvolvem a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1, a Competência geral 7 e a habilidade EM13CNT101.
Inicie explorando a imagem da locomotiva a vapor, perguntando aos estudantes como acham que ocorre seu funcionamento. Aborde a transformação de calor em trabalho e a importância das máquinas térmicas na Revolução Industrial, destacando como elas transformaram a sociedade e a economia. Leve-os a refletir acerca de como inovações, tal qual a das máquinas térmicas, impactam a vida cotidiana, tanto positiva quanto negativamente, contemplando as questões ambientais.
Respostas
a ) Resposta pessoal. Os estudantes podem citar que o desenvolvimento das máquinas térmicas facilitou a realização de tarefas, como retirar água das minas, transportar cargas e pessoas e produzir artefatos industriais, entre outras. Além disso, possibilitou a criação de novos empregos, como operador e especialista em manutenções. Em contrapartida, em diversas áreas ocorreu a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, aumentando o desemprego em alguns setores. Como essas máquinas são baseadas na combustão, outra desvantagem refere-se ao aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera, resultantes da queima do combustível.
Página LXXXI
b ) Para que um motor de combustão interna funcione, são necessários algum combustível e gás oxigênio para ocorrer a explosão.
c ) Em uma locomotiva a vapor, o calor proveniente da combustão aquece a água, e o vapor produzido faz as partes da locomotiva se movimentarem. Já em um motor de combustão interna, os próprios gases, provenientes da combustão, movem partes do motor do veículo.
Capítulo 24 - Queima de combustíveis fósseis – páginas 374 a 389
Objetivos do capítulo
- Explicar o papel das máquinas a vapor na Primeira Revolução Industrial.
- Analisar os impactos sociais, econômicos e ambientais das máquinas a vapor durante a Revolução Industrial.
- Identificar os principais eventos e invenções de cada Revolução Industrial.
- Identificar os tipos de transformações gasosas em sistemas termodinâmicos.
Páginas 374 a 387
BNCC em contexto
A abordagem da página 374 contribui para o desenvolvimento da Competência geral 7, da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e da habilidade EM13CNT104, pois permite avaliar os benefícios e os riscos à saúde, considerando a composição e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles. Nesse sentido, os estudantes são levados a se posicionarem criticamente e propor soluções individuais e/ou coletivas para seus usos. A habilidade EM13CNT105 também é contemplada, na medida em que ocorre a análise dos ciclos biogeoquímicos e a interpretação dos efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, promovendo ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.
Além disso, há a oportunidade de trabalhar a Competência geral 2, a Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3 e as habilidades EM13CNT301 e EM13CNT309, elaborando questões e hipóteses para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. Assim, é possível analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis, discutindo a necessidade de novas tecnologias energéticas e de materiais.
Após lerem o trecho da reportagem no início da página 374, proponha aos estudantes uma discussão sobre o uso de combustíveis fósseis e os efeitos climáticos extremos pelos quais diferentes regiões do planeta têm passado, como ondas de calor, secas e inundações. Busque fazer um levantamento dos conhecimentos prévios, aproximando o conteúdo do cotidiano deles.
Retome as informações obtidas no levantamento de conhecimentos prévios e defina o que são combustíveis fósseis e suas aplicações.
Compartilhe ideias - página 375
Peça aos estudantes que formem dois grupos. Diante disso, proponha um debate no qual um deles defenderá os impactos positivos e o outro apontará os impactos negativos da utilização das máquinas a vapor nos contextos social, econômico e ambiental.
Se achar conveniente, peça aos estudantes que produzam um documentário com informações e dados sobre o assunto, levando-os a refletir sobre essa relação e dependência atual da sociedade. Aproveite também para abordar questões como o desenvolvimento sustentável por meio de medidas como a reciclagem de materiais, o reúso da água, o reflorestamento, o tratamento de esgotos etc. Essa estratégia permite trabalhar as Competências gerais 4, 5 e 9, além de fazer parte das culturas juvenis.
Conexões com... - páginas 376 e 377
Objetivos
- Compreender as principais tecnologias que foram propulsoras das diferentes revoluções industriais.
- Refletir sobre as principais consequências positivas e negativas para a sociedade de cada tipo de Revolução Industrial.
- Reconhecer a importância dos conhecimentos científicos para o desenvolvimento tecnológico.
Orientações
Durante a leitura do texto da seção, ao abordar cada tipo de Revolução Industrial, peça aos estudantes que comparem alguns aspectos de cada um, refletindo não só a respeito de questões técnicas, mas também sobre as influências positivas e negativas com relação à sociedade, à economia e aos impactos ambientais. Incentive-os também a comentar como as tecnologias digitais estão presentes e influenciam o cotidiano e a levantar hipóteses acerca de como poderá ser a próxima Revolução Industrial.
Ao final da seção, verifique se os estudantes perceberam que os conhecimentos científicos estão em constante construção e que as tecnologias que temos atualmente muitas vezes são baseadas em estudos científicos construídos ao longo de séculos.
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 378 a 384 contribui para o desenvolvimento da Competência geral 1, da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e da habilidade EM13CNT101, pois permite analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos.
Na página 378, é importante destacar que os exemplos trabalhados ocorrem em recipientes nos quais a quantidade de gás é constante, tratando-se de um sistema fechado, isto é, no qual o número de mol é constante. Comente que, caso qualquer quantidade de gás seja acrescida ou perdida, o estado do gás sofrerá alteração.
Ao iniciar a abordagem sobre as transformações gasosas, questione os estudantes a respeito das relações entre as variáveis de estado. Algumas perguntas possíveis são: "Se um gás é aquecido ou resfriado, ele sempre apresentará variação no seu volume?"; "A expansão ou compressão de um gás pode provocar alteração em sua pressão e sua temperatura?". Dê oportunidade a todos para expor suas ideias e seus argumentos, a fim de verificar o conhecimento prévio deles.
Página LXXXII
Acompanhando a aprendizagem
Após abordar o conteúdo da página 378, organize os estudantes em duplas para responder às questões propostas na página. Solicite-lhes que compartilhem entre si suas conclusões, verificando a compreensão deles, e se restam dúvidas. Verifique também se conseguem estabelecer as relações entre os conceitos científicos e as situações apresentadas.
Atividade extra
Se julgar interessante, proponha uma atividade no laboratório de informática utilizando um simulador, a fim de que os estudantes visualizem as relações entre as variáveis de estado para cada tipo de transformação gasosa. Para isso, acesse o site do projeto PhET, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Nele, é possível estudar diferentes transformações gasosas. Disponível em: https://s.livro.pro/joa595. Acesso em: 3 out. 2024. Para a demonstração das respectivas transformações, selecione para manter constante a pressão, a temperatura ou o volume. É possível também ajustar as dimensões da caixa que representa o sistema fechado e a intensidade do aquecedor abaixo dela. Peça aos estudantes que descrevam no caderno o comportamento das variáveis de estado em cada tipo de transformação simulada. Essa atividade proporciona o desenvolvimento das Competências gerais 2 e 5, pois possibilita exercitar a curiosidade intelectual, a investigação, a reflexão e a análise crítica para a resolução de problemas por meio do uso de tecnologia digital. A habilidade EM13CNT301 também é contemplada, tendo em vista a elaboração de hipóteses, previsões e interpretações de modelos explicativos.
Prática científica - páginas 386 e 387
Objetivos
- Investigar a influência da variação da temperatura em relação ao volume e à pressão de um gás.
- Identificar a relação entre as variáveis de estado termodinâmico de uma massa gasosa.
- Verificar a transformação de energia térmica em energia mecânica, com o deslocamento do êmbolo da seringa.
Orientações
Nas etapas A e B, é essencial que as seringas estejam vedadas. Se considerar mais adequado, substitua o uso da cola por massa de modelar. Caso haja vazamento na vedação da seringa, pergunte aos estudantes como devem proceder para resolver o problema. Se eles forem manusear a cola instantânea e a água aquecida, é importante que usem luvas de proteção e que sejam supervisionados por um adulto.
Aproveite para desenvolver o pensamento computacional, incentivando-os a encontrar maneiras de criar um aparato que investigue a relação entre as variáveis termodinâmicas ao colocar uma massa gasosa em contato com diferentes temperaturas. É importante, nesse processo, orientar os estudantes a dividir o problema em etapas, a fim de facilitar a elaboração de uma solução.
Se os dados obtidos não corresponderem aos de uma transformação isobárica, pergunte o que teria influenciado os resultados. Algumas possibilidades são o atrito do êmbolo com a seringa e o ar que não teria sido um gás ideal.
Após a realização da atividade, a água dos recipientes pode ser descartada na pia. O restante dos materiais pode ser guardado para ser usado em outras atividades.
Respostas - Páginas 388 e 389
2. Convertendo a temperatura de Celsius para Kelvin:
T subscrito 0 é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 25 mais 273 é igual a 298 portanto T subscrito 0 é igual a 298 Kelvin
De acordo com o gráfico, temos que V subscrito 0 é igual a 2 litros e V é igual a 8 litros. Utilizando a equação geral dos gases ideais para uma transformação isobárica, tem-se: início de fração, numerador: V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a V sobre T implica em 2 sobre 298 é igual a 8 sobre T implica em T é igual a 2.384 sobre 2 é igual a 1.192 portanto T é igual a 1.192 Kelvin
3. Utilizando a equação para uma transformação isotérmica, tem-se: p subscrito 0 vezes V subscrito 0 é igual a p vezes V implica em 2 vezes 10 é igual a p vezes 30 implica em p é aproximadamente igual a 0 vírgula 67 portanto p é aproximadamente igual a 0 vírgula 67 a t m
Transformando a unidade de medida atm para pascal, com base em relação 1 a t m é igual a 10 elevado a 5 pascal, temos:
p é igual a 0 vírgula 67 vezes 10 elevado a 5 portanto p é igual a 6 vírgula 7 vezes 10 elevado a 4 pascal
4. Transformando a unidade de medida Celsius para Kelvin, tem-se:
T subscrito 0 é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 14 mais 273 é igual a 287 portanto T subscrito 0 é igual a 287 Kelvin
T é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 57 mais 273 é igual a 330 portanto T é igual a 330 Kelvin
Utilizando a equação para uma transformação isovolumétrica, tem-se: início de fração, numerador: p subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a p sobre T implica em início de fração, numerador: p subscrito 0, denominador: 287, fim de fração é igual a p sobre 330 implica em
implica em p é igual a início de fração, numerador: 330 vezes p subscrito 0, denominador: 287, fim de fração portanto p é aproximadamente igual a 1 vírgula 15 vezes p subscrito 0
8. Conforme o gráfico, há os valores p subscrito 0 é igual a 10 vezes 10 elevado a 5 é igual a 10 elevado a 6 pascal; p é igual a 4 vezes 10 elevado a 5 pascal e V subscrito 0 é igual a 2 metros cúbicos.
Utilizando a equação para uma transformação isotérmica, tem-se: p subscrito 0 vezes V subscrito 0 é igual a p vezes V implica em 10 elevado a 6 vezes 2 é igual a 4 vezes 10 elevado a 5 vezes V implica em V é igual a 5 portanto V é igual a 5 metros cúbicos
9. Como o recipiente tem o êmbolo fixo, o volume permanece constante, portanto a transformação é isovolumétrica. Transformando a unidade de medida de temperatura Celsius para Kelvin, tem-se: T subscrito 0 é igual a T subscrito C mais 273 implica em T subscrito 0 é igual a 23 mais 273 é igual a 296 portanto T subscrito 0 é igual a 296 Kelvin
Utilizando a equação para uma transformação isovolumétrica, tem-se:
início de fração, numerador: p subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a p sobre T implica em início de fração, numerador: p subscrito 0, denominador: 296, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 1 terço vezes p subscrito 0, denominador: T, fim de fração implica em
implica em T é igual a início de fração, numerador: início de fração, numerador: 296 vezes p subscrito 0, denominador: 3, fim de fração, denominador: p subscrito 0, fim de fração implica em T é igual a início de fração, numerador: 296 vezes p subscrito 0, denominador: 3, fim de fração vezes início de fração, numerador: 1, denominador: p subscrito 0, fim de fração é igual a 296 sobre 3 portanto T é aproximadamente igual a 98 vírgula 7 Kelvin
10. Transformando a unidade de medida de temperatura Celsius para Kelvin, tem-se:
T subscrito 0 é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 10 mais 273 é igual a 283 portanto T subscrito 0 é igual a 283 Kelvin
T é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 65 mais 273 é igual a 338 portanto T é igual a 338 Kelvin
Página LXXXIII
Utilizando a equação geral dos gases ideais para uma transformação isobárica, tem-se: início de fração, numerador: V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a V sobre T implica em
implica em 15 sobre 283 é igual a V sobre 338 implica em V é igual a início de fração, numerador: 338 vezes 15, denominador: 283, fim de fração implica em
implica em V é igual a 5.070 sobre 283 é aproximadamente igual a 17 vírgula 9 portanto V é aproximadamente igual a 17 vírgula 9 centímetros cúbicos
11. Transformando a unidade de medida de temperatura Celsius para Kelvin:
T subscrito 0 é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 27 mais 273 é igual a 300 portanto T subscrito 0 é igual a 300 Kelvin
T é igual a T subscrito C mais 273 é igual a menos 50 mais 273 é igual a 223 portanto T é igual a 223 Kelvin
Utilizando a equação geral dos gases ideais, tem-se:
início de fração, numerador: p subscrito 0 vezes V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a início de fração, numerador: p vezes V, denominador: T, fim de fração implica em início de fração, numerador: 1 vezes 10, denominador: 300, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 0 vírgula 25 vezes V, denominador: 223, fim de fração implica em V é igual a início de fração, numerador: 223 vezes 10, denominador: 300 vezes 0 vírgula 25, fim de fração é aproximadamente igual a 29 vírgula 7 portanto V é aproximadamente igual a 29 vírgula 7 litros
12. Transformando a unidade de medida de temperatura Celsius para Kelvin, tem-se:
T subscrito 0 é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 30 mais 273 é igual a 303 portanto T subscrito 0 é igual a 303 Kelvin
T é igual a T subscrito 'C' mais 273 é igual a 180 mais 273 é igual a 453 portanto T é igual a 453 Kelvin
Utilizando a equação geral dos gases ideais, tem-se:
início de fração, numerador: p subscrito 0 vezes V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a início de fração, numerador: p vezes V, denominador: T, fim de fração implica em início de fração, numerador: 2 vezes 2, denominador: 303, fim de fração é igual a início de fração, numerador: p vezes 6, denominador: 453, fim de fração implica em p é igual a início de fração, numerador: 4 vezes 453, denominador: 6 vezes 303, fim de fração é aproximadamente igual a 1 portanto p é aproximadamente igual a 1 a t m
Sendo 1 a t m é igual a 10 elevado a 5 pascal, a nova pressão do gás é aproximadamente, 10 elevado a 5 pascal.
13. Utilizando a equação dos gases ideais, temos: P vezes V é igual a N vezes R vezes T implica em 1 vezes V é igual a 8 vírgula 8 vezes 0 vírgula 0 82 vezes abre parênteses 25 mais 273 fecha parênteses portanto V é igual a 215 vírgula 0 4 'L'
14. Utilizando a equação geral dos gases ideais, tem-se:
início de fração, numerador: p subscrito 0 vezes V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a início de fração, numerador: p vezes V, denominador: T, fim de fração implica em início de fração, numerador: 2 vezes 2, denominador: 293, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 1 vírgula 5 vezes 4, denominador: T, fim de fração implica em T é igual a início de fração, numerador: 293 vezes 6, denominador: 4, fim de fração é igual a 439 vírgula 5 portanto T é igual a 439 vírgula 5 Kelvin
Transformando a temperatura de Kelvin para Celsius, tem-se: T é igual a T subscrito K menos 273 é igual a 439 vírgula 5 menos 273 é igual a 166 vírgula 5 portanto T é igual a 166 vírgula 5 graus Celsius
15. Espera-se que os estudantes respondam que, ao colocar a lata de alumínio na água fria, o gás que estava aquecido tem sua temperatura diminuída. Isso provoca a diminuição da pressão e do volume do gás no interior da lata. Assim, uma quantidade de água é puxada para dentro da lata e, por conta da diferença de pressão interna e externa, ela acaba sendo amassada.
16. Utilizando a equação geral dos gases ideais, temos:
início de fração, numerador: p subscrito 0 vezes V subscrito 0, denominador: T subscrito 0, fim de fração é igual a início de fração, numerador: p vezes V, denominador: T, fim de fração implica em início de fração, numerador: 3 vezes 6, denominador: 300, fim de fração é igual a início de fração, numerador: p vezes 4, denominador: 400, fim de fração implica em p é igual a 7.200 sobre 1.200 portanto p é igual a 6 atm
Capítulo 25 - Termodinâmica – páginas 390 a 405
Objetivos do capítulo
- Examinar o comportamento do trabalho realizado sobre o gás nas transformações gasosas.
- Descrever a energia interna de um gás e sua relação com a temperatura.
- Comparar os graus de liberdade de gases monoatômicos e diatômicos.
- Identificar as formas de energia que compõem a energia interna de um gás.
- Compreender a primeira lei da Termodinâmica e suas variáveis.
- Descrever a segunda lei da Termodinâmica.
- Examinar o conceito de entropia e explicar sua relação com a irreversibilidade de processos naturais.
- Descrever as etapas do Ciclo de Carnot.
- Explicar por que o Ciclo de Carnot representa o ciclo de máxima eficiência teórica de uma máquina térmica.
- Calcular e interpretar o rendimento de uma máquina térmica.
- Analisar as limitações impostas pela segunda lei da Termodinâmica ao rendimento máximo de máquinas térmicas.
Páginas 390 a 393
BNCC em contexto
A questão sugerida na página 390 incentiva os estudantes a recorrer aos conhecimentos científicos para explicar uma situação do cotidiano, contribuindo para desenvolver a Competência geral 1.
A análise de gráficos presentes nas páginas 391 e 392 leva os estudantes a ler e interpretar informações por meio de recursos visuais, contribuindo para desenvolver a Competência geral 4.
Na página 393, ao trabalhar a relação da energia interna do gás ideal monoatômico, explique que o gás está diretamente relacionado às formas com que seus constituintes podem se mover, ou seja, aos graus de liberdade apresentados pelos constituintes dele. Cada possível movimento contribui com uma energia cinética média descrita por 1 meio vezes n vezes R vezes T. Em um gás monoatômico, as partículas terão energia cinética atribuída às três direções de translação, portanto sua energia interna será:
U é igual a 3 vezes abre parênteses 1 meio vezes n vezes R vezes T fecha parênteses é igual a início de fração, numerador: 3 vezes n vezes R vezes T, denominador: 2, fim de fração
Quando o gás não é monoatômico, passa a ter maior número de graus de liberdade, uma vez que se torna capaz de rotacionar, vibrar, entre outras possibilidades.
Páginas 395 a 403
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 395 e 396 contribui para o desenvolvimento da habilidade EM13CNT102, pois permite avaliar intervenções de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento.
A questão da página 395 permite aos estudantes relacionar situações do cotidiano ao conhecimento científico, contribuindo para desenvolver a Competência geral 1.
A interpretação de recursos visuais (gráficos) para analisar as transformações isobárica, isotérmica e isovolumétrica contribui para desenvolver a Competência geral 4.
Na página 395, explore a primeira lei da Termodinâmica e a expressão matemática que a representa, relacionando-a ao princípio da conservação de energia. Comente que, além de Joule, o médico alemão Julius Robert Von Mayer (1814-1878) influenciou o conceito de calor referente à energia e à sua conservação. Em uma de suas expedições a serviço da Marinha, Mayer percebeu que o sangue de pacientes inseridos no clima tropical era mais escuro do que o sangue dos pacientes no clima gelado da Europa. Assim, ele concluiu que para manter a temperatura em um clima tropical, a absorção de oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses era menor, e que a energia mecânica dos músculos provinha da energia química dos alimentos, sendo conectados à energia mecânica e à energia térmica. Essas informações levam os estudantes a compreender o conhecimento científico como uma construção humana e coletiva, contribuindo para desenvolver a Competência geral 1.
Página LXXXIV
Além da lei geral dos gases usada para descrever uma transformação adiabática, na página 396 também é possível trabalhar com as variáveis de estado (pressão, volume e temperatura) por meio da lei de Poisson. O físico e matemático francês Siméon-Denis Poisson (1781-1840) desenvolveu uma relação entre a pressão e o volume do gás durante a ocorrência de uma transformação adiabática dada por: p subscrito 0 vezes V subscrito 0 elevado a início expoente, gama, fim expoente é igual a p vezes V elevado a início expoente, gama, fim expoente implica em p vezes V elevado a início expoente, gama, fim expoente é igual a constante.
O expoente gama é chamado de expoente de Poisson e é dado por gama é igual a início de fração, numerador: 'C' subscrito p, denominador: 'C' subscrito V, fim de fração, em que c subscrito p é o calor específico de aquecimento do gás à pressão constante e c subscrito V é o calor específico de aquecimento do gás em volume constante.
A lei de Poisson também pode ser escrita em função da temperatura. Utilizando a equação dos gases ideais de Clapeyron abre parênteses p vezes V é igual a n vezes R vezes T fecha parênteses, obtém-se a seguinte relação: T subscrito i vezes V subscrito i elevado a início expoente, gama menos 1, fim expoente é igual a T subscrito f vezes V subscrito f elevado a início expoente, gama menos 1, fim expoente é igual a constante.
BNCC em contexto
O tema abordado no boxe da página 397 permite aos estudantes relacionar o conhecimento científico na busca de soluções para situações do cotidiano, contemplando a Competência geral 1. Além disso, esse tema possibilita conhecer características do trabalho de profissionais da meteorologia, incentivando-os a refletir sobre projetos de vida e contribuindo para desenvolver a Competência geral 6.
Esse boxe também favorece o trabalho com o tema contemporâneo transversal Educação ambiental ao relacionar a primeira lei da Termodinâmica à inversão térmica.
Primeira lei da Termodinâmica e fenômenos meteorológicos - página 397
Inicie a abordagem do boxe solicitando aos estudantes que citem a importância dos serviços meteorológicos para nosso cotidiano e para diversos setores da economia e promova uma conversa sobre as principais atuações de um meteorologista e as principais características desse tipo de trabalho. Aproveite essa conversa para incentivá-los a expressar seus projetos de vida relacionados à escolha da profissão, reflexão que faz parte das culturas juvenis.
BNCC em contexto
A questão sugerida na página 398 incentiva os estudantes a refletir sobre uma situação com base nos conhecimentos científicos que adquiriram até o momento, contribuindo para desenvolver a Competência geral 1.
O trabalho com o conceito de entropia abordado na página 399 está relacionado à habilidade EM13CNT102.
A abordagem do boxe Compartilhe ideias da página 400 incentiva os estudantes a trabalhar em grupo e respeitar as opiniões dos colegas, contribuindo para desenvolver a Competência geral 9. Além disso, esse boxe instiga a argumentação com base em informações históricas provenientes de fontes confiáveis, contribuindo para desenvolver as Competências gerais 1 e 7, e a representação de informações por meio de um recurso visual (linha do tempo), contemplando a Competência geral 4.
A interpretação de informações científicas provenientes de recursos visuais (gráficos) ao longo dessas páginas favorece a Competência geral 4.
É importante enfatizar a diferença entre uma máquina térmica de combustão externa (máquina a vapor) e os motores de combustão interna, como os de automóveis, aviões e motocicletas. Nos motores de combustão externa, a combustão ocorre separadamente do recipiente em que há trabalho. No caso de uma máquina a vapor, a combustão aquece a água de uma caldeira, a qual se pressuriza e empurra um êmbolo. Nesse caso, o combustível fica em um recipiente distinto do vapor que realiza trabalho. Já nos motores de combustão interna, o combustível é queimado no mesmo compartimento em que ocorre o trabalho, uma vez que é a própria expansão do gás queimado que empurra o êmbolo.
Na página 403, é importante comentar que os fluidos refrigerantes, como os CFCs, utilizados nos refrigeradores, prejudicam a camada de ozônio abre parênteses O subscrito 3 fecha parênteses. Explique que, embora os H C F C s e os H F C s sejam menos prejudiciais, o primeiro também agride a camada de ozônio, e o segundo influencia o efeito estufa. Essa abordagem está relacionada ao tema contemporâneo transversal Educação ambiental.
Acompanhando a aprendizagem
Ao finalizar o conteúdo das páginas 395 e 396, solicite aos estudantes que formem duplas e respondam às questões 2 e 3 da página 404, utilizando a estratégia de metodologia ativa Jogo pedagógico descrita nas páginas XI e XII destas Orientações para o professor. Essa abordagem auxilia na verificação da aprendizagem sobre transformações gasosas e primeira lei da Termodinâmica.
Atividade extra
Solicite aos estudantes que montem um painel informativo explicando o funcionamento de uma usina termelétrica e de diferentes máquinas térmicas. Eles devem incluir as etapas de conversão de energia, explicando os conceitos de trabalho, calor e eficiência. O painel pode ser digital ou físico, utilizando gráficos, imagens e diagramas. Incentive a síntese de informações e a comunicação visual de conceitos complexos de maneira clara e didática.
Respostas - Página 394
2. Uma vez que o trabalho termodinâmico é numericamente igual à região delimitada no diagrama p vezes V, seu valor pode ser obtido dividindo essa região em duas partes, com formas equivalentes a um triângulo e um retângulo. Portanto, o cálculo da área será:
tau subscrito 1 é igual a A subscrito triângulo é igual a início de fração, numerador: b vezes 'h', denominador: 2, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 2 vezes abre parênteses 6 vezes 10 elevado a 5 fecha parênteses, denominador: 2, fim de fração portanto tau subscrito 1 é igual a 6 vezes 10 elevado a 5 Joules
tau subscrito 2 é igual a A subscrito retângulo é igual a b vezes 'h' é igual a 2 vezes abre parênteses 3 vezes 10 elevado a 5 fecha parênteses portanto tau subscrito 2 é igual a 6 vezes 10 elevado a 5 Joules
O trabalho total será a soma dos dois:
tau subscrito total é igual a tau subscrito 1 mais tau subscrito 2 é igual a 6 vezes 10 elevado a 5 mais 6 vezes 10 elevado a 5 portanto tau subscrito total é igual a 12 vezes 10 elevado a 5 Joules
Página LXXXV
3. a ) No trecho A B, ocorre uma transformação isovolumétrica cujo trabalho é nulo. Assim, só há realização de trabalho no trecho B 'C'. Pela área do gráfico, temos: tau início subscrito, A B 'C', fim subscrito é igual a A subscrito retângulo é igual a b vezes 'h' é igual a 1 vezes abre parênteses 6 vezes 10 elevado a 5 fecha parênteses portanto tau início subscrito, A B 'C', fim subscrito é igual a 6 vezes 10 elevado a 5 J
b ) No trecho D 'C', ocorre uma transformação isovolumétrica cujo trabalho é nulo. Assim, só há realização de trabalho no trecho A D. Pela área do gráfico, temos: tau início subscrito, A D 'C', fim subscrito é igual a A subscrito retângulo é igual a b vezes 'h' é igual a 1 vezes abre parênteses 3 vezes 10 elevado a 5 fecha parênteses portanto tau subscrito 2 é igual a 3 vezes 10 elevado a 5 Joules
c ) No trecho A 'C', ocorre uma expansão com aumento de pressão; o trabalho realizado pelo gás é numericamente igual à área do trapézio, abaixo da linha do gráfico:
tau início subscrito, A 'C', fim subscrito é igual a A subscrito trapézio é igual a início de fração, numerador: abre parênteses b minúsculo mais B maiúsculo fecha parênteses vezes 'h', denominador: 2, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 9 vezes 10 elevado a 5, denominador: 2, fim de fração portanto tau início subscrito, A 'C', fim subscrito é igual a 4 vírgula 5 vezes 10 elevado a 5 Joules
4. A temperatura no ponto A é dada por:
P subscrito A vezes V subscrito A é igual a n vezes R vezes T subscrito A implica em 3 vezes 8 vírgula 2 é igual a 1 vezes 0 vírgula 0 82 vezes T subscrito A implica em T subscrito A é igual a 300 Kelvin
A transformação A seta para a direita B é isovolumétrica. Logo:
início de fração, numerador: P subscrito A, denominador: T subscrito A, fim de fração é igual a início de fração, numerador: P subscrito B, denominador: T subscrito B, fim de fração implica em 3 sobre 300 é igual a início de fração, numerador: P subscrito B, denominador: 500, fim de fração implica em P subscrito B é igual a 5 atm
Portanto, o trabalho realizado pelo gás é dado por:
tau é igual a 5 vezes abre parênteses 16 vírgula 4 menos 8 vírgula 2 fecha parênteses a t m vezes L é igual a 41 a t m vezes L é igual a 4.153 vírgula 3 joules
6. Convertendo as temperaturas para a escala kelvin, temos:
T subscrito 0 é igual a 20 mais 273 portanto T subscrito 0 é igual a 293 Kelvin
T é igual a 60 mais 273 portanto T é igual a 333 Kelvin
Portanto, as energias internas inicial e final são dadas por:
U subscrito 0 é igual a 3 meios vezes n vezes R vezes T subscrito 0 implica em U subscrito 0 é igual a 3 meios vezes 4 vezes 8 vírgula 3 vezes 293 implica em U subscrito 0 é igual a início de fração, numerador: 29.182 vírgula 8, denominador: 2, fim de fração portanto U subscrito 0 é igual a 14.591 vírgula 4 joules
U é igual a 3 meios vezes n vezes R vezes T subscrito 0 implica em U é igual a 3 meios vezes 4 vezes 8 vírgula 3 vezes 333 implica em U é igual a início de fração, numerador: 33.166 vírgula 8, denominador: 2, fim de fração portanto U é igual a 16.583 vírgula 4 joules
A variação da energia interna abre parênteses delta U fecha parênteses do gás vale:
delta U é igual a U menos U subscrito 0 implica em delta U é igual a 16.583 vírgula 4 menos 14.591 vírgula 4 portanto delta U é igual a 1.992 joules
Respostas - Páginas 404 e 405
3. a ) Pela primeira lei da Termodinâmica, considerando o trabalho recebido como negativo, temos:
Q é igual a tau mais delta U implica em 400 é igual a menos 80 mais delta U portanto delta U é igual a 480 joules
b ) Transformando a unidade de medida de Celsius para kelvin, teremos: T subscrito 0 é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 20 mais 273 portanto T subscrito 0 é igual a 293 Kelvin
Utilizando a relação da primeira lei da Termodinâmica e da variação da energia interna, temos:
Q é igual a tau mais delta U implica em 400 é igual a 120 mais delta U portanto delta U é igual a 280 joules
Usando a equação para a energia interna de um gás ideal monoatômico: delta U é igual a 3 meios vezes n vezes R vezes delta T implica em 280 é igual a
é igual a 3 meios vezes 4 vezes 8 vírgula 3 vezes delta T implica em delta T é aproximadamente igual a 5 vírgula 6 implica em T menos T subscrito 0 é aproximadamente igual a 5 vírgula 6 implica em
implica em T menos 293 é aproximadamente igual a 5 vírgula 6 implica em T é aproximadamente igual a 298 vírgula 6 portanto T é aproximadamente igual a 298 vírgula 6 Kelvin é aproximadamente igual a 25 vírgula 6 graus Celsius
c ) Determinando a variação de volume do recipiente, transformando a unidade de medida centímetro cúbico em metro cúbico e a unidade a t m para pascal, e utilizando o cálculo para a transformação isobárica, temos:
delta V é igual a A vezes delta 'h' é igual a 200 vezes 5 é igual a 1.000 portanto delta V é igual a 1.000 centímetros cúbicos
início de fração, numerador: 1, denominador: delta V, fim de fração é igual a 10 elevado a 6 menos 1.000 portanto delta V é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos
1 terço é igual a 10 elevado a 5 menos p portanto p é igual a 3 vezes 10 elevado a 5 pascal
tau é igual a p vezes delta V é igual a abre parênteses 3 vezes 10 elevado a 5 fecha parênteses vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 300 portanto tau é igual a 300 joules
d ) Como o êmbolo não se move, não há variação de volume, portanto o trabalho é nulo. Utilizando a relação da primeira lei da Termodinâmica e da variação de energia interna, temos: Q é igual a tau mais delta U implica em 400 é igual a 0 mais delta U implica em delta U é igual a 400 portanto delta U é igual a 400 joules
delta U é igual a 3 meios vezes n vezes R vezes delta T implica em 400 é igual a 3 meios vezes 4 vezes 8 vírgula 3 vezes delta T implica em
implica em delta T é aproximadamente igual a 8 implica em T menos T subscrito 0 é aproximadamente igual a 8 implica em
implica em T menos 293 é aproximadamente igual a 8 portanto T é aproximadamente igual a 301 Kelvin é aproximadamente igual a 28 graus Celsius
4. Ao compreender a entropia como a desordem do sistema, percebe-se que parte do calor cedido pela fonte quente necessariamente será degradado para a fonte fria, assim como transformado em outros tipos de energia, impossibilitando que 100% desse calor gere trabalho. Essas outras energias podem ser compreendidas como a vibração da máquina, a produção de som, a irradiação térmica, entre outras. Máquinas térmicas na prática, como automóveis, transformam parte da energia proveniente da combustão em calor que aquece o motor, em energia sonora etc. Essas transformações impedem que as máquinas térmicas obtenham um rendimento de 100%.
6. Para o cálculo do rendimento, levamos em conta as temperaturas das fontes: etá é igual a 1 menos início de fração, numerador: T subscrito 2, denominador: T subscrito 1, fim de fração é igual a 1 menos 273 sobre 373 é aproximadamente igual a 0 vírgula 27 portanto etá é aproximadamente igual a 0 vírgula 27
O trabalho realizado é dado por: etá é igual a início de fração, numerador: tau, denominador: Q subscrito 1, fim de fração implica em 0 vírgula 27 é igual a tau sobre 200 portanto tau é igual a 324 joules
7. b ) De acordo com a segunda lei da Termodinâmica, o rendimento máximo possível de uma máquina térmica que funciona por meio de ciclos finitos é igual ao rendimento do Ciclo de Carnot. Para as duas máquinas, o rendimento de Carnot é dado por:
etá subscrito Carnot é igual a 1 menos início de fração, numerador: T subscrito F, denominador: T subscrito Q, fim de fração é igual a 1 menos 300 sobre 600
O rendimento proposto para cada máquina é dado por:
etá subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: tau subscrito 1, denominador: Q subscrito 1, fim de fração é igual a 600 sobre 700 é aproximadamente igual a 86 por cento
etá subscrito 2 é igual a início de fração, numerador: tau subscrito 2, denominador: Q subscrito 2, fim de fração é igual a 300 sobre 800 é igual a 37 vírgula 5 por cento
Logo, apenas a máquina 2 tem rendimento menor do que o de Carnot.
8. a ) etá é igual a início de fração, numerador: tau, denominador: Q subscrito 1, fim de fração é igual a 800 sobre 2.000 portanto etá é igual a 0 vírgula 4 é igual a 40 por cento
b ) tau é igual a Q subscrito 1 menos Q subscrito 2 implica em Q subscrito 1 é igual a tau mais Q subscrito 2 implica em 2.000 é igual a 800 mais Q subscrito 2 portanto Q subscrito 2 é igual a 1.200 joules
c ) Transformando a unidade de medida Celsius para kelvin:
T subscrito 1 é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 480 mais 273 é igual a 753 portanto T subscrito 1 é igual a 753 Kelvin
T subscrito 2 é igual a T subscrito C mais 273 é igual a 30 mais 273 é igual a 303 portanto T subscrito 2 é igual a 303 Kelvin
Utilizando o rendimento de Carnot, temos:
etá é igual a 1 menos início de fração, numerador: T subscrito 2, denominador: T subscrito 1, fim de fração implica em etá é igual a 1 menos 303 sobre 753 implica em etá é igual a 1 menos 0 vírgula 4 portanto etá é igual a 0 vírgula 6 é igual a 60 por cento
9. O rendimento é dado por: etá é igual a início de fração, numerador: tau, denominador: Q subscrito Q, fim de fração é igual a 1 menos início de fração, numerador: T subscrito F, denominador: T subscrito Q, fim de fração implica em 480 sobre 1.200 é igual a 1 menos início de fração, numerador: T subscrito F, denominador: T subscrito Q, fim de fração implica em 0 vírgula 4 é igual a 1 menos início de fração, numerador: T subscrito F, denominador: T subscrito Q, fim de fração implica em início de fração, numerador: T subscrito F, denominador: T subscrito Q, fim de fração é igual a 0 vírgula 6. Entre as alternativas, a única que apresenta o mesmo valor para a razão entre as temperaturas da fonte fria e quente é a b.
Página LXXXVI
10. Refrigeradores não violam a segunda lei da Termodinâmica porque eles não transferem calor espontaneamente do corpo mais frio para o corpo mais quente. Em vez disso, eles usam trabalho (energia externa) para realizar essa transferência de calor. No caso de um refrigerador, um compressor trabalha para bombear um fluido refrigerante em um ciclo, absorvendo calor do interior frio e liberando-o no ambiente externo mais quente. O trabalho realizado pelo compressor é a chave que permite a transferência de calor, mantendo a segunda lei da Termodinâmica intacta.
11. I ) O rendimento dela é dado por:
etá é igual a início de fração, numerador: tau, denominador: Q subscrito Q, fim de fração é igual a 125 sobre 2.500 portanto etá é igual a 5 por cento
II ) E é igual a 2.500 joules menos 125 joules é igual a 2.375 joules
III ) etá subscrito Carnot é igual a 1 menos início de fração, numerador: T subscrito F, denominador: T subscrito Q, fim de fração é igual a 1 menos 300 sobre 800 é igual a 0 vírgula 625
tau subscrito Carnot é igual a 2.500 vezes 0 vírgula 625 é igual a 1.562 vírgula 5 joules
12. Seja T subscrito 1 a temperatura no ponto A. A temperatura no ponto B é dada por: início de fração, numerador: V subscrito 1, denominador: T subscrito 1, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 2 V subscrito 1, denominador: T subscrito B, fim de fração implica em T subscrito B é igual a 2 vezes T subscrito 1
A variação de energia interna na transformação de A para B é:
delta U início subscrito, A B, fim subscrito é igual a n vezes R vezes delta tau é igual a R vezes abre parênteses 2 vezes T subscrito 1 menos T subscrito 1 fecha parênteses portanto delta U início subscrito, A B, fim subscrito é igual a R vezes T subscrito 1
Pela primeira lei da Termodinâmica, temos:
Q início subscrito, A B, fim subscrito é igual a delta U início subscrito, A B, fim subscrito mais tau início subscrito, A B, fim subscrito é igual a R vezes T subscrito 1 mais 3 vezes P subscrito 1 vezes abre parênteses 2 vezes V subscrito 1 menos V subscrito 1 fecha parênteses implica em
implica em Q início subscrito, A B, fim subscrito é igual a R vezes T subscrito 1 mais 3 vezes P subscrito 1 vezes V subscrito 1 é igual a R vezes T subscrito 1 mais 3 vezes R T subscrito 1 portanto
portanto Q início subscrito, A B, fim subscrito é igual a 4 vezes R vezes T subscrito 1
O trabalho em um ciclo é dado por:
tau início subscrito, A B 'C' D, fim subscrito é igual a abre parênteses 3 vezes P subscrito 1 menos P subscrito 1 fecha parênteses vezes abre parênteses 2 vezes V subscrito 1 menos V subscrito 1 fecha parênteses é igual a 2 vezes P subscrito 1 vezes V subscrito 1 portanto tau início subscrito, A B 'C' D, fim subscrito é igual a 2 vezes R vezes T subscrito 1
Logo, o rendimento é dado por:
etá é igual a início de fração, numerador: tau início subscrito, A B 'C' D, fim subscrito, denominador: Q início subscrito, A B, fim subscrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 2 vezes R vezes T subscrito 1, denominador: 4 vezes R vezes T subscrito 1, fim de fração é igual a 50 por cento
Capítulo 26 - Sons e audição humana – páginas 406 a 427
Objetivos do capítulo
- Compreender as características de uma onda.
- Estudar a velocidade de propagação de uma onda sonora.
- Distinguir as características do som.
- Explorar os fenômenos sonoros, como reflexão, refração, difração, interferência e ressonância.
- Explicar o efeito Doppler sonoro.
- Analisar instrumentos sonoros, suas características e suas diferenças.
- Compreender a formação de ondas estacionárias em cordas e tubos.
- Reconhecer a importância da acústica na audição humana.
Páginas 406 a 417
Ao iniciar o estudo do capítulo, explique aos estudantes que, assim como a luz, o som é uma onda. Apresente-lhes o conceito de onda sonora e ressalte que as características das ondas definem se um som é intenso ou suave, grave ou agudo.
Explique os limites auditivos do ser humano para perceber os sons e os significados dos termos ultrassom e infrassom. Destaque que a percepção dos sons varia entre os seres vivos. Por exemplo, cachorros podem escutar frequências de até 50 quilo-hertz, morcegos detectam até 100 quilo-hertz e golfinhos, até cerca de 150 quilo-hertz.
BNCC em contexto
O trabalho com as páginas 406 e 407 contribui para desenvolver a habilidade EM13CNT306, relacionada à Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3, ao incentivar os estudantes a avaliar riscos de permanecer em locais com ruídos intensos por determinado tempo. Essa abordagem também contempla a Competência geral 8.
Ao iniciar o assunto da página 406, pergunte aos estudantes se eles utilizam fones de ouvido e por quanto tempo os usam por dia, resgatando os conhecimentos prévios acerca das consequências do uso inadequado de fones de ouvido. Em seguida, leia a manchete apresentada na página e promova uma conversa sobre os problemas causados à audição por uso excessivo de fones de ouvido, como perda de audição e problemas de equilíbrio e com o senso de localização. Continue lendo com eles a tabela "Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente" da página 407 para que avaliem a própria postura quanto ao uso de fones de ouvido.
Compartilhe ideias - página 407
Para realizar essa atividade, os estudantes podem utilizar uma mola slink ou uma espiral de encadernação e um pedaço de fita de tecido. Eles devem esticar a mola horizontalmente no chão e prender a fita em qualquer uma de suas partes. Depois, devem segurar a outra extremidade da mola e provocar oscilações nela. Demostre que há transporte de energia, mas sem transporte de matéria.
Ao trabalhar a intensidade sonora na página 413, explique que os danos fisiológicos ao sistema auditivo causados pelo som dependem da intensidade dele, do tempo de exposição a ele e de sua frequência. Retome a tabela da página 407 e aproveite para trabalhar novamente o tema contemporâneo transversal Saúde, destacando que, às vezes, ao utilizarem fones de ouvido em lugares com muito ruído, algumas pessoas costumam usar o aparelho em um volume muito alto para encobrir esse ruído, o que pode causar danos irreversíveis ao sistema auditivo.
Ao abordar o fenômeno da interferência na página 416, utilize a ilustração para mostrar como ocorre o fenômeno da interferência de ondas. Explique aos estudantes que, quando ondas que estão se propagando pelo mesmo meio se cruzam, elas podem sofrer interferência construtiva ou destrutiva.
Páginas 420 a 425
Integrando o conhecimento
Ao abordar o assunto Instrumentos sonoros, nas páginas 420 e 421, convide o professor do componente curricular de Arte para que ele apresente as principais características e os tipos de sons dos instrumentos citados na página. Complemente a explicação dele com as informações científicas relacionadas ao componente curricular de Física.
Página LXXXVII
Conexões com... - página 424
Objetivos
- Identificar os efeitos dos ruídos sobre a saúde auditiva.
- Entender os riscos da perda auditiva provocada por exposição a ruídos intensos por tempo prolongado.
- Incentivar a conscientização sobre a saúde auditiva.
Orientações
Auxilie os estudantes a refletir sobre como as características físicas das ondas sonoras estão ligadas ao risco de danos auditivos, destacando como a intensidade do som pode afetar o sistema auditivo e provocar consequências de curto e longo prazo. Pode-se abordar o tema de maneira interdisciplinar com Biologia, enfatizando a estrutura e o funcionamento das partes do sistema auditivo, explicando como cada uma dessas estruturas participa na captação e transmissão das ondas sonoras.
Após a leitura do texto, promova um debate sobre outras profissões de risco e as condições de trabalho em ambientes com alta exposição a ruídos, sugerindo discussões voltadas à segurança do trabalho e à legislação relacionada à proteção auditiva.
Além de responder às questões, sugere-se uma atividade prática em que os estudantes investiguem os níveis sonoros em diferentes situações, locais e aparelhos (como o emitido por fones de ouvido) utilizando aplicativos de medição de intensidade sonora. Os resultados podem ser analisados em conjunto com a tabela apresentada na página 407, incentivando a conscientização da necessidade de preservar a saúde auditiva e buscar soluções para a redução do ruído nos mais variados ambientes e situações, contribuindo para desenvolver a habilidade EM13CNT301. Essa abordagem também favorece a habilidade EM13CNT207 ao identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos.
Prática científica - página 425
Objetivos
- Investigar a propagação de ondas sonoras em meios sólidos.
- Associar objetos que vibram com a produção do som.
- Relacionar a detecção de ondas sonoras pela vibração de meios sólidos com o sentido da audição humana, em razão da vibração da membrana timpânica.
Orientações
Durante a execução da proposta de investigação elaborada pelos estudantes, sugerimos a você que continue atuando como orientador, incentivando-os a encontrar soluções para os problemas que surgirem. No entanto, execute as etapas que sejam mais arriscadas, como manipular objetos cortantes. Assegure-se de que eles cubram o recipiente de vidro ou plástico com o filme de PVC de maneira uniforme e tensionada, para garantir que a vibração da membrana seja perceptível. Reforce que o som se manifesta por meio dessas vibrações, e que as mudanças nos padrões formados na areia refletem as diferentes frequências e intensidades das ondas sonoras.
Se julgar adequado, sugira a um dos integrantes do grupo que fique responsável por registrar todas as etapas e os resultados por meio de fotografias, que podem ser feitas com uma câmera fotográfica digital ou um smartphone.
Ao final da atividade, o filme de PVC e os elásticos devem ser descartados em coletores para reciclagem. A areia poderá ser descartada no solo e o restante dos materiais reaproveitados em outras atividades práticas.
Respostas
1. Espera-se que os estudantes respondam que, ao usar as fontes sonoras próximo à montagem do experimento, o material depositado sobre o filme de PVC (que representa a membrana) passou a vibrar na mesma frequência da onda sonora emitida.
2. Espera-se que os estudantes respondam que as vibrações do material podem ser maiores ou menores, dependendo da frequência da onda emitida e da sua intensidade.
3. Espera-se que os estudantes respondam que sim. Quanto maior for a frequência de vibração do material, mais agudo será o som; quanto menor for a frequência de vibração, mais grave será o som; quanto maior for a intensidade da fonte, mais energia mecânica de vibração será transmitida para o material por meio das ondas sonoras, então ele se movimentará mais rápido etc.
4. Espera-se que os estudantes respondam que, da mesma forma que o filme de PVC usado para representar a membrana no experimento passou a vibrar de acordo com a frequência de onda emitida pelas fontes, a membrana timpânica, localizada na orelha média, ao captar as ondas sonoras, passa a vibrar em razão das variações de pressão exercidas nela, transferindo essa energia mecânica ao restante do sistema auditivo.
Respostas - Páginas 418 e 419
4. Como A é igual a 4 centímetros quadrados é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, temos: I é igual a início de fração, numerador: E, denominador: A vezes delta 't', fim de fração implica em
implica em I é igual a início de fração, numerador: 0 vírgula 3, denominador: 4 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 2, fim de fração portanto I é igual a 375 watts barra m elevado ao quadrado
5. Como o período em que as ondas passam pelo barco é igual a 2 segundos, sua frequência é dada pela relação:
f é igual a 1 sobre T é igual a 1 meio é igual a 0 vírgula 5 portanto f é igual a 0 vírgula 5 hertz
Como o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou vales consecutivos, o comprimento de onda nesse caso é igual a 4 metros.
8. I ) Correta. beta é igual a 10 log início de fração, numerador: I, denominador: I subscrito 0, fim de fração é igual a 10 vezes log início de fração, numerador: 10 elevado a menos 2, denominador: 10 elevado a menos 12, fim de fração implica em beta é igual a 100 decibeis
II ) Correta. I é igual a P sobre A implica em P é igual a I vezes A é igual a 10 elevado a menos 2 vezes abre parênteses 4 pi vezes 20 elevado ao quadrado fecha parênteses implica em P é aproximadamente igual a 50 vírgula 3 watts
III ) Incorreta.
I é igual a P sobre A é igual a início de fração, numerador: 10 elevado a menos 2 vezes abre parênteses 4 pi vezes 20 elevado ao quadrado fecha parênteses, denominador: 4 pi vezes 4 elevado ao quadrado, fim de fração implica em I é igual a 0 vírgula 25 watt barra m elevado ao quadrado
beta é igual a 10 log início de fração, numerador: I, denominador: I subscrito 0, fim de fração é igual a 10 vezes log início de fração, numerador: 0 vírgula 25, denominador: 10 elevado a menos 12, fim de fração implica em beta é aproximadamente igual a 114 decibeis
IV ) Correta. A altura qualifica os sons em graves ou agudos.
12. Na aproximação: f subscrito a p é igual a f vezes início de fração, numerador: v subscrito s mais ou menos v subscrito o, denominador: v subscrito s mais ou menos v subscrito f, fim de fração implica em f subscrito a p é igual a f vezes início de fração, numerador: v subscrito s mais 0, denominador: v subscrito s menos v subscrito f, fim de fração é igual a 300 vezes início de fração, numerador: 340, denominador: 340 menos 15, fim de fração implica em f subscrito a p é aproximadamente igual a 313 vírgula 8 hertz
No afastamento: f subscrito a f é igual a f vezes início de fração, numerador: v subscrito s mais 0, denominador: v subscrito s mais v subscrito f, fim de fração é igual a 300 vezes início de fração, numerador: 340, denominador: 340 mais 15, fim de fração implica em f subscrito a f é aproximadamente igual a 287 vírgula 3 hertz
Página LXXXVIII
13. Aplicando a relação do efeito Doppler, temos:
f linha é igual a f vezes início de fração, numerador: v subscrito 's' mais ou menos v subscrito o, denominador: v subscrito 's' mais ou menos v subscrito f, fim de fração implica em f linha é igual a 80 vezes início de fração, numerador: abre parênteses 340 mais 2 fecha parênteses, denominador: 340 menos 30, fim de fração implica em f ' ' é igual a 88 vírgula 2 hertz
Respostas - Páginas 426 e 427
5. f subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: v, denominador: 2 vezes 'L', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 340, denominador: 2 vezes 4, fim de fração é igual a 42 vírgula 5 portanto f subscrito 1 é igual a 42 vírgula 5 hertz
6. f subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: v, denominador: 4 vezes 'L', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 340, denominador: 4 vezes 1 vírgula 2, fim de fração é igual a 70 vírgula 8 portanto f subscrito 1 é igual a 70 vírgula 8 hertz
7. f subscrito fechado é igual a f subscrito aberto implica em início de fração, numerador: v, denominador: 2 'L' subscrito aberto, fim de fração é igual a início de fração, numerador: v, denominador: 4 'L' subscrito fechado, fim de fração implica em 'L' subscrito aberto é igual a
é igual a 2 'L' subscrito fechado implica em 1 vírgula 2 é igual a 2 'L' subscrito fechado portanto 'L' subscrito fechado é igual a 0 vírgula 6 metro
8. a ) Como são 5 oitavas acima, temos: f é igual a f subscrito 0 vezes 2 elevado a 5 é igual a 32 vírgula 7 vezes 32 implica em f é igual a 1.046 vírgula 4 hertz
9. f subscrito 1 é igual a início de fração, numerador: v, denominador: 2 vezes 'L', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 340, denominador: 2 vezes 1 vírgula 5, fim de fração é igual a 133 vírgula 3 portanto f subscrito 1 é igual a 113 vírgula 3 hertz
13. f subscrito 3 é igual a início de fração, numerador: 3 vezes v, denominador: 2 vezes 'L', fim de fração implica em 150 é igual a início de fração, numerador: 3 v, denominador: 2 vezes 1, fim de fração implica em v é igual a 100 metros por segundo
14. Temos: f subscrito A é igual a início de fração, numerador: 1 vezes v, denominador: 4 vezes 'L', fim de fração e f subscrito B é igual a início de fração, numerador: 1 vezes v, denominador: 2 vezes 'L', fim de fração
Assim, a razão entre as frequências é dada por:
início de fração, numerador: f subscrito A, denominador: f subscrito B, fim de fração é igual a início de fração, numerador: início de fração, numerador: v, denominador: 4 vezes 'L', fim de fração, denominador: início de fração, numerador: v, denominador: 2 vezes 'L', fim de fração, fim de fração é igual a 1 meio portanto f subscrito A é igual a início de fração, numerador: f subscrito B, denominador: 2, fim de fração
Capítulo 27 - Luz e visão humana – páginas 428 a 435
Objetivos do capítulo
- Compreender o impacto de novas tecnologias, como as telas, nos olhos dos seres humanos.
- Entender o funcionamento do olho humano.
- Identificar os efeitos da luz solar nos olhos.
- Reconhecer os principais tipos de alteração da visão.
- Conscientizar-se sobre a importância dos cuidados com a visão.
Páginas 428 a 433
BNCC em contexto
A abordagem das páginas 428 e 429 contribui para o desenvolvimento da Competência específica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 1 e das habilidades EM13CNT103, EM13CNT104 e EM13CNT306, pois permite avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, utilizando o conhecimento sobre as radiações e suas origens, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e à socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
Compartilhe ideias - página 429
Para debater a questão do uso excessivo de dispositivos eletrônicos, na atividade sugerida no boxe Compartilhe ideias da página 429, use a estratégia Think-pair-share. Mais comentários sobre essa estratégia nas páginas XI e XII destas Orientações para o professor. Para isso, peça aos estudantes que façam uma autoavaliação do tempo que permanecem em frente a aparelhos eletrônicos. Em seguida, solicite-lhes que comparem o tempo que estimaram e debatam se o consideram excessivo ou não. Organize a turma formando um círculo e determine o tempo de uso dos aparelhos de maior frequência. Conversem a respeito de como reduzir esse tempo.
Integrando o conhecimento
A abordagem da página 430 estabelece uma relação com o componente curricular de Biologia. Incentive o professor desse componente a apresentar as estruturas que formam o olho humano de maneira complementar as informações que constam na página, explicando como ocorre a formação das imagens na retina e como essas informações são interpretadas no encéfalo. Paralelamente, explique aos estudantes o que acontece com a luz ao atingir cada estrutura do olho.
Também é possível realizar uma interação com o professor de Geografia para explorar como a incidência e a intensidade da luz solar variam em diferentes regiões do planeta, as causas dessa variação e sua influência na saúde ocular das populações e as adaptações humanas ao ambiente. Por exemplo, ao abordar os efeitos da luz solar nos olhos e a necessidade de proteção ocular, pode-se abordar de que maneira fatores geográficos, como latitude e altitude, afetam a exposição à radiação ultravioleta. Populações que vivem em determinadas regiões estão mais expostas à radiação UV solar, ficando mais sujeitas ao desenvolvimento de doenças oculares.
Acompanhando a aprendizagem
Ao abordar o tópico sobre luz solar da página 430, faça uma avaliação diagnóstica dos estudantes voltada aos efeitos da radiação ultravioleta no nosso organismo. Para isso, apresente a eles as seguintes questões.
- O que é radiação ultravioleta?
- Como ocorre sua interação com a matéria?
- Quais riscos à saúde a exposição à radiação ultravioleta oferece?
Atividade extra
Apesar de as informações acerca dos efeitos dos raios ultravioletas na pele serem muito difundidas, poucas pessoas têm conhecimento sobre os efeitos na visão. Pergunte aos estudantes como podemos proteger nossos olhos dos efeitos dos raios ultravioletas provenientes da luz solar. Verifique se eles percebem a necessidade do uso de óculos com lentes escuras.
Explique-lhes que, como ocorre com os protetores solares, as lentes escuras devem absorver ou refletir a radiação ultravioleta, evitando que ela chegue aos nossos olhos. Explique também o conceito de lentes polarizadas, que permitem a passagem de luz ao mesmo tempo que bloqueiam as radiações prejudiciais.
Peça aos estudantes que observem as imagens com o teste de Ishihara para o diagnóstico do daltonismo, na página 432. Explique que essa alteração, diferentemente das estudadas até o momento, não se relaciona à formação de imagens na retina, e sim ao funcionamento de células especializadas na identificação das cores, chamadas cones. Apresente os diferentes tipos de daltonismo (protanopia, deuteranopia e tritanopia) e ressalte que não há cura, embora o problema possa ser amenizado com o uso de lentes equipadas com filtros de cor capazes de aumentar o contraste. Confira mais informações sobre esse assunto no site da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Disponível em: https://s.livro.pro/1gi28o. Acesso em: 9 out. 2024.
Página LXXXIX
Retome o que estudou - página 435
Respostas
1. O objetivo desta questão é levar os estudantes a discutir sobre os conteúdos trabalhados nos capítulos 24 e 25, explicando que nas expansões o gás realiza trabalho e nas compressões o meio externo realiza trabalho sobre o gás. Além disso, espera-se que comentem que, nas transformações em que a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta; se a temperatura diminui, a energia interna também diminui. Caso eles tenham dificuldade em realizar a atividade, retome os conteúdos trabalhados nesses capítulos.
2. O objetivo desta questão é levá-los a concluir, com base no que estudaram durante a unidade, que não é possível nem viável a construção de uma máquina com rendimento 100 por cento. Eles podem argumentar que seria necessária uma máquina térmica sem qualquer dissipação de energia e que a fonte
fria deveria estar à temperatura zero absoluto, que não pode ser alcançada. Dessa forma, gastaríamos muito mais energia para produzir uma fonte fria com temperatura próxima do zero absoluto do que a que poderíamos utilizar em uma máquina térmica com rendimento menor do que 100 por cento.
3. Nesta atividade, os estudantes devem discutir os assuntos trabalhados no capítulo 26, descrevendo as propriedades e os fenômenos referentes às ondas sonoras. Aproveite a oportunidade para avaliar o conhecimento deles, retomando partes do conteúdo, se necessário. Eles podem citar que as ondas sonoras são: mecânicas, longitudinais; caracterizadas por sua altura (frequência), timbre e intensidade (amplitude); podem sofrer refração, reflexão, difração, interferência e efeito Doppler. Verifique o que eles compreenderam de cada uma dessas características, incentivando-os a retomar o capítulo 26, quando necessário, a fim de confrontar suas argumentações com os conteúdos estudados.
4. Nesta atividade, os estudantes devem argumentar acerca dos conteúdos trabalhados no capítulo 27. Caso tenham dificuldades, incentive-os a conversar entre si a respeito dos efeitos da radiação na visão. Eles podem citar que devemos descansar os olhos ao usar equipamentos eletrônicos por tempo prolongado; regular a quantidade de horas de uso diário; piscar mais, ao utilizar uma tela, para umedecer os olhos; usar óculos escuros com filtro UV; não olhar diretamente para o Sol ou outra fonte de luz de grande intensidade.
Resoluções seção Mais questões
Confira a seguir as resoluções das atividades da seção Mais questões que envolvem cálculos.
Páginas 84 a 87
3. Dados: v é igual a 2 centímetros por ano; d é igual a 5.000 quilômetros é igual a 500.000.000 centímetros.
Aplicando a definição de velocidade média: v subscrito m é igual a início de fração, numerador: delta 's', denominador: delta 't', fim de fração implica em delta 't' é igual a início de fração, numerador: delta 's', denominador: v subscrito m, fim de fração é igual a 500.000.000 sobre 2 portanto delta 't' é igual a 250.000.000 anos.
4. A velocidade média do veículo foi: v subscrito m é igual a início de fração, numerador: delta 's', denominador: delta 't', fim de fração é igual a início de fração, numerador: 300, denominador: 2 vírgula 5, fim de fração portanto v subscrito m é igual a 120 quilômetros por hora. O motorista receberá uma multa.
7. 08) Correta. início de fração, numerador: T subscrito A início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito A início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração é igual a início de fração, numerador: T subscrito B início sobrescrito, 2, fim sobrescrito, denominador: R subscrito B início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração implica em início de fração, numerador: 16 elevado ao quadrado, denominador: R elevado ao cubo, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 128 elevado ao quadrado, denominador: R subscrito B início sobrescrito, 3, fim sobrescrito, fim de fração implica em abre parênteses início de fração, numerador: R subscrito B, denominador: R, fim de fração fecha parênteses elevado ao cubo é igual a abre parênteses 128 sobre 16 fecha parênteses elevado ao quadrado implica em abre parênteses início de fração, numerador: R subscrito B, denominador: R, fim de fração fecha parênteses elevado ao cubo é igual a 8 elevado ao quadrado implica em início de fração, numerador: R subscrito B, denominador: R, fim de fração é igual a raiz cúbica de 64; portanto R subscrito B é igual a 4 vezes R
12. 'h' é igual a 1 meio 'g' vezes 't' elevado ao quadrado implica em 't' é igual a início de raiz quadrada; início de fração, numerador: 2 'h', denominador: 'g', fim de fração fim de raiz quadrada é igual a início de raiz quadrada; início de fração, numerador: 2 vezes 1, denominador: 10, fim de fração fim de raiz quadrada seta para a direita 't' é igual a início de raiz quadrada; 0 vírgula 2 fim de raiz quadrada s. Velocidade inicial: 's' é igual a v subscrito 0 vezes 't' implica em v subscrito 0 é igual a S sobre 't' implica em v subscrito 0 é igual a início de fração, numerador: 3, denominador: início de raiz quadrada; 0 vírgula 2 fim de raiz quadrada, fim de fração. Aplicando a equação de Torricelli para o lançamento vertical:
v elevado ao quadrado é igual a v subscrito 0 início sobrescrito, 2, fim sobrescrito menos 2 vezes 'g' vezes 'h' implica em 0 é igual a símbolo de uma barra vertical início de fração, numerador: 3, denominador: início de raiz quadrada; 0 vírgula 2 fim de raiz quadrada, fim de fração símbolo de uma barra vertical elevado ao quadrado menos 20 vezes 'h' implica em
implica em 20 vezes 'h' é igual a início de fração, numerador: 9, denominador: 0 vírgula 2, fim de fração implica em 'h' é igual a 45 sobre 20 implica em 'h' é igual a 2 vírgula 25 metros
13. Para o intervalo de tempo medido em zeptossegundos: c é igual a início de fração, numerador: delta 's', denominador: delta 't', fim de fração implica em 3 vezes 10 elevado a 8 é igual a início de fração, numerador: 7 vírgula 2 vezes 10 elevado a menos 11, denominador: delta 't', fim de fração implica em delta 't' é igual a início de fração, numerador: 7 vírgula 2 vezes 10 elevado a menos 11, denominador: 3 vezes 10 elevado a 8, fim de fração implica em
implica em delta 't' é igual a início de fração, numerador: 7 vírgula 2, denominador: 3, fim de fração vezes 10 elevado a menos 19 é igual a 240 vezes 10 elevado a menos 21 segundo portanto
portanto delta 't' é igual a 240 zeptossegundos.
14. De acordo com a segunda lei de Newton, temos:
'F' subscrito R é igual a M vezes 'g' menos 'm' vezes 'g' implica em abre parênteses M mais 'm' fecha parênteses vezes a é igual a
é igual a abre parênteses M menos 'm' fecha parênteses vezes 'g' portanto a é igual a início de fração, numerador: M menos 'm', denominador: M mais 'm', fim de fração 'g'
16. Da situação em que o balão desce com aceleração A, podemos obter a força de elevação do balão:
'F' subscrito P menos 'F' é igual a 'F' subscrito R implica em M vezes 'g' menos 'F' é igual a M vezes a implica em 'F' é igual a M vezes abre parênteses 'g' menos a fecha parênteses
Para que o balão suba com aceleração A, a massa 'm' a ser eliminada é igual a:
'F' menos 'F' subscrito P é igual a 'F' subscrito R implica em M vezes abre parênteses 'g' menos a fecha parênteses menos abre parênteses M menos 'm' fecha parênteses vezes 'g' é igual a abre parênteses M menos 'm' fecha parênteses vezes a implica em
implica em M vezes 'g' menos M vezes a menos M vezes 'g' mais 'm' vezes 'g' é igual a M vezes a menos 'm' vezes a implica em
implica em 'm' vezes abre parênteses 'g' mais a fecha parênteses é igual a 2 vezes M vezes a portanto 'm' é igual a início de fração, numerador: 2 vezes M vezes a, denominador: 'g' mais a, fim de fração
17. 'F' é igual a início de fração, numerador: G vezes M subscrito E vezes M subscrito P, denominador: d elevado ao quadrado, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 6 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 31 vezes 5 vezes 10 elevado a 25, denominador: abre parênteses 6 vezes 10 elevado a 12 fecha parênteses elevado ao quadrado, fim de fração é igual a início de fração, numerador: 30 vezes 10 elevado a 45, denominador: 36 vezes 10 elevado a 24, fim de fração portanto 'F' é igual a 8 vírgula 3 vezes 10 elevado a 20 Newtons