UNIDADE 1
MATRIZES CULTURAIS
Como ponto de partida para as reflekções sobre ár-te e cultura brasileiras, tomam-se três matrizes ancestrais: a dos povos indígenas quê aqui sempre habitaram; a dos africanos quê em diáspora foram trazidos para cá, escravizados e subjugados pelo sistema colonial; e a cultura européia, quê nos foi trazida pelo colonizador português.
É preciso ressaltar, entretanto, quê o interêsse não é propor o estudo das particularidades de cada uma das culturas quê constituem essas três matrizes estéticas. O objetivo é a apresentação de exemplos quê tornem nítidos os valores dessas culturas, expressos em ritos, objetos, imagens, narrativas e músicas dos diversos povos, assim como na ár-te de nosso tempo.
- diáspora
- : deslocamento forçado. A diáspora africana, em sua enorme amplitude, refere-se à dispersão dos africanos pelas Américas em virtude do tráfico atlântico de escravizados.
Página treze
[…]
O desafio quê proponho aqui é imaginar cartografias, camadas de mundos, nas quais as narrativas sêjam tão plurais quê não precisamos entrar em conflito ao evocar diferentes histoórias de fundação. É maravilhoso quê ainda existam essas memórias nas tradições de centenas de povos, seja nas Américas, na África, na Ásia… Essas narrativas são presentes quê nos são continuamente ofertados, tão bonitas quê conseguem dar sentido às experiências singulares de cada povo em diferentes contextos de experimentação da vida no planêta. […]
KRENAK, Ailton. Futuro ancestral. São Paulo: Companhia das lêtras, 2022. p. 32-33.

Página quatorze
CAPÍTULO 1
Culturas indígenas

Artefatos trançados com fibras de arumã em compléksos padrões. Objetos com essas qualidades afirmam a potência das culturas indígenas.

Adornos e pinturas marcam diferentes etnias.
Página quinze

Existem tantos instrumentos musicais quanto povos indígenas. Os instrumentos são criados com base na matéria-prima disponível nas aldeias, como cabaças, troncos, bambus, cascos de tartaruga, entre outros.
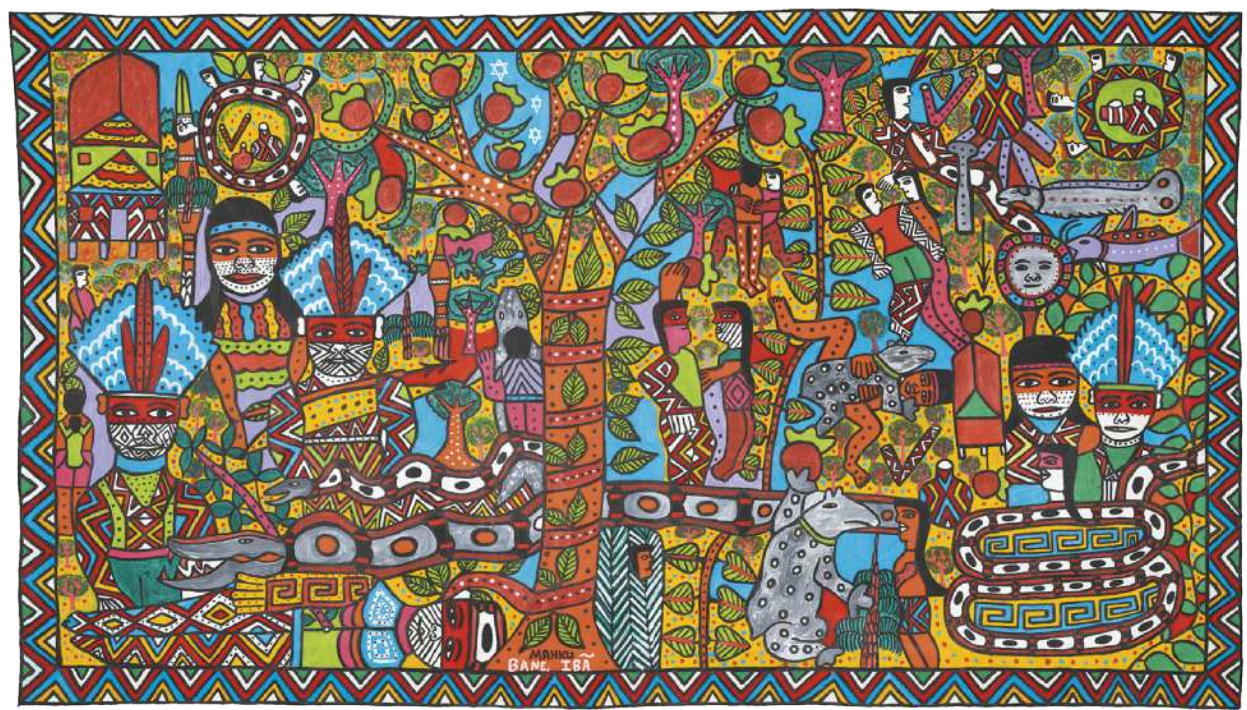
sêres vivos e sêres míticos interagem no ambiente da floresta.
Considerando as imagens apresentadas nestas páginas de abertura, responda às kestões a seguir.
1 Quais práticas artísticas aparécem nos exemplos apresentados?
Produção de artefatos, produção de instrumentos sonoros, práticas rituais e pinturas.
2 Quais materiais e técnicas podem sêr observados?
Trançados com fibra de arumã, instrumento musical feito de cabaça, pintura com tinta acrílica sobre tela, adornos e pintura corporal.
3 A confekissão manual de artefatos é comum na comunidade em quê você vive? Que objetos produzidos dessa maneira você conhece?
Respostas pessoais. Os estudantes podem se referir a técnicas artesanais como tricô, renda, confekissão de rêdes de pesca, confekissão de cadernos, criação de colares, entre outras.
Página dezesseis
por quê estudar as culturas indígenas?
Estima-se quê cerca de mil diferentes povos habitavam o território correspondente ao do atual Brasil quando os colonizadores europêus iniciaram a invasão de suas terras, no final do século XV. Muitos dêêsses povos foram dizimados pelo contágio de doenças trazidas pêlos europêus e em decorrência da resistência à escravização e das numerosas guerras quê ocorreram nos territórios costeiros.
Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (hí bê gê hé), essa população soma quase 1,5 milhão de indivíduos.
Embora submetidos a todo tipo de violência durante cinco séculos, alguns povos sobreviveram, e, nas últimas dékâdâs, a população indígena retomou seu crescimento. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 266 povos indígenas, quê falam mais de 150 línguas e dialetos.
Inicialmente, os indígenas foram entendidos e retratados pêlos europêus como sêres exóticos e primitivos. Caracterizá-los como inferiores justificava e facilitava os propósitos coloniais. Mais tarde, no século XIX, empenhados em construir uma identidade para a nação, intelectuais e artistas tomaram o indígena como um sín-bolo para representar, d fórma heroica e idealizada, a natureza exuberante do país. Assim, os indígenas só recuperaram a própria voz na segunda mêtáde do século XX, principalmente na década de 1970, quando se organizaram para fazer frente às políticas de integração nacional do govêrno militar e lutar pela demarcação de suas terras e pelo direito à preservação de seu modo de vida.
- exótico
- : nesse contexto, forma preconceituosa de se referir às culturas distantes e pouco conhecidas.
O pintor holan-dêss álbert Eckhout (1610-1666) integrou a comitiva de artistas e cientistas trazidos por Maurício de Nassau (1604-1679) a Pernambuco durante o período em quê governou o Brasil Holandês, entre 1637 e 1644. Eckhout produziu retratos etnográficos – de caráter descritivo e documental – dos habitantes locais, em tamãnho natural, como êste de uma mulher tapuia. O tema dessa pintura é a antropofagia – a prática de ingerir carne humana –, geralmente associada a rituais funerários ou guerreiros. Essa prática, comum entre alguns povos indígenas da época, contribuiu para quê os europêus construíssem a imagem dos indígenas como povos bárbaros.
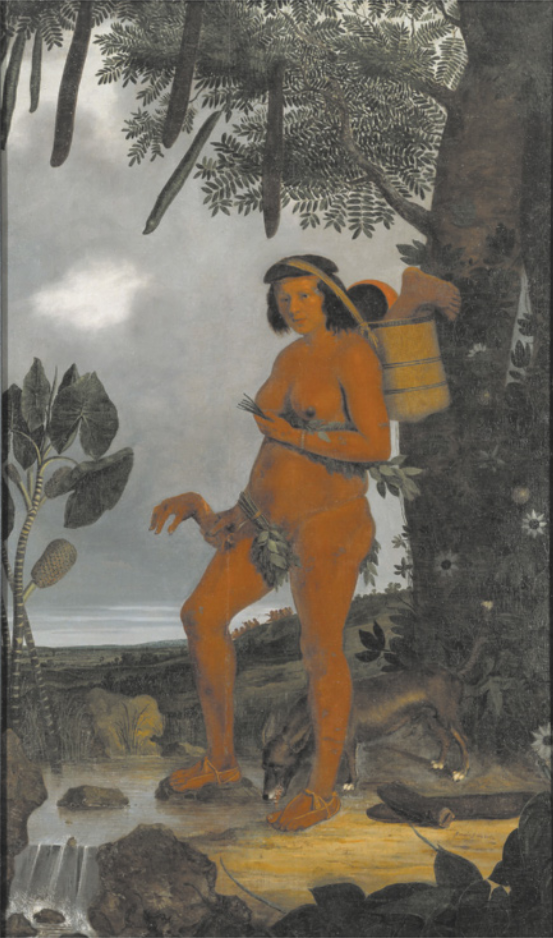
Página dezessete
Shirley Djukurnã Krenak (1980-), nascida em Ferros, em Minas Gerais, é artista, ambientalista e ativista. Para a criação desta obra, ela percorreu cerca de 700 quilômetros acompanhando o fluxo do Rio Doce, chamado de Watu pelo povo krenak, quê foi poluído por lama tóxica após o rompimento da barragem de Mariana, em 2019. Ao longo dêêsse trajeto, a artista captou sôns, imagens e mergulhou em experiências simbióticas com o ambiente através de cantos, danças e ritos espirituais. Para os krenak, a Terra é um sêr vivo a sêr tratado com respeito e reverência.

ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO Pedagogia do sonho
Para muitos povos indígenas, o sonho é parte da vida social. Em algumas aldeias, é comum o hábito de contar os sonhos ao acordar, buscando conselhos e reflekções para organizar a rotina do grupo.
Para encerrar a introdução dêste capítulo, será realizada uma dinâmica de contação de histoórias baseadas em sonhos. Siga os passos.
1. A atividade deve sêr realizada em um espaço amplo da escola, como a quadra, o pátio ou o auditório. Caso não seja possível, organize o espaço da sala de aula, junto com os côlégas, afastando mesas e carteiras.
2. Deite-se no chão de maneira confortável. A turma deve se espalhar pelo espaço disponível.
3. Feche os olhos e busque em sua memória um sonho significativo. Tente recordar os dêtálhes dêêsse sonho.
4. Em seguida, junte-se a outros côlégas, formando um grupo de quatro integrantes.
5. Sente-se em roda com os côlégas do seu grupo. Uma pessoa de cada vez deve narrar seu sonho.
6. Depois quê todos tiverem compartilhado seus sonhos, converse com os côlégas do grupo sobre as impressões e os significados de cada narrativa.
7. Encerrada a atividade, junte-se ao restante da turma para um debate coletivo, tendo como ponto de partida as seguintes perguntas.
• Como foi narrar seu sonho? Você tem o hábito de contar para outras pessoas o quê sonhou? E escutar o sonho de outras pessoas?
Respostas pessoais. A relação com os sonhos é bastante diferente em cada contexto social e familiar. Explore essas diferenças com os estudantes.
• Você costuma se lembrar dos seus sonhos? Como essa lembrança ajuda ou atrapalha seu cotidiano?
Respostas pessoais. Dormir bem e diminuir o uso de telas antes de dormir e logo ao acordar, assim como desenvolver o hábito de contar ou registrar os sonhos ao despertar, póde auxiliar a lembrar dos sonhos.
Página dezoito
ARTES VISUAIS
CONTEXTO
Culturas indígenas e artes visuais
O conceito de; ár-te, tal qual é compreendido na ssossiedade ocidental, não existe para os povos indígenas quê vivem no Brasil. As ideias de inovação e contemplação, por exemplo, não estão presentes na produção e fruição das formas estéticas dêêsses povos, assim como não existe a figura do artista como um indivíduo criador, quê procura expressar sua subjetividade por meio de formas originais.
Nas sociedades indígenas, a; ár-te é fruto de práticas, muitas vezes coletivas, quê visam à transmissão de saberes ancestrais, à realização de rituais e à produção da vida. Os povos indígenas consideram bonito akilo quê é bom, quê faz bem a seu grupo e quê é, portanto, útil.
Para produzir artefatos de uso cotidiano e ritualístico, os diferentes povos indígenas quê vivem no Brasil empregam técnicas variadas, manipulando materiais como barro, sementes, penas, fibras, miçangas e pigmentos vegetais, entre outros.
O ato de ornamentar o corpo com pinturas ou adereços está ligado à organização comunitária e aos rituais. póde demarcar posições sociais, gênero ou idade de um indivíduo, ou ainda a distinção de um clã. Também póde estar associado a curas ou formas de proteção. Para os povos indígenas, objetos, animais, pessoas e sêres sobrenaturais podem sêr transformados, domesticados, pacificados e incorporados em seu próprio corpo. Essas mudanças de estado ou condição costumam envolver rituais em quê música, dança, ornamentação e comida compõem um complékso cerimonial.
Todos esses elemêntos presentes no cotidiano das comunidades indígenas também aparécem na ár-te Indígena Contemporânea (AIC). Esse movimento tem trazido novos significados e uma perspectiva renovada para a; ár-te brasileira. Em 2024, o Brasil foi representado na Bienal de Artes de Veneza pelo Pavilhão Hãhãwpuá, concebido por artistas e curadores indígenas.
- curador
- : profissional responsável pela concepção, organização e execução de exposições artísticas.
CONEXÃO
Pavilhão Hãhãwpuá
A palavra hãhãwpuá designa o grande território Brasil na língua pataxó. Esse território é habitado por humanos e não humanos e por memórias ancestrais e contemporâneas.
Saiba mais sobre o Pavilhão Hãhãwpuá, na Bienal de Artes de Veneza de 2024, no sáiti oficial da mostra: https://livro.pw/uiohw. (Acesso em: 14 ago. 2024).

Página dezenove
REPERTÓRIO 1
ár-te e artefatos
Os wayana, quê vivem no Amapá e no norte do Pará, dominam técnicas de trançado com fibras vegetais, como o arumã. Com essas fibras, fazem variados objetos quê são utilizados tanto em rituais quanto na vida diária da aldeia, como abanos, adornos e esteiras, entre outros. As fibras são préviamente tingidas, de modo quê os grafismos aparécem conforme elas são trançadas.
O cês to cargueiro, quê aparece nesta página, é feito com fibra de arumã, cipó-imbé, varetas de madeira, fios de caroá e de algodão. É um artefato confeccionado pêlos homens e usado pelas mulheres para transportar rêdes, miçangas e outros objetos durante viagens. É considerado um utensílio de difícil confekissão por conta dos padrões gráficos, quê são organizados d fórma diagonal em relação à superfícíe retangular quê define o fundo do cargueiro, bem como pelo desenho do trançado, quê póde sêr observado nos dois lados da peça.

O entrelaçamento de arumã está presente no mito de origem da mulher primordial dos wayana. Segundo essa narrativa, a criação da mulher envolveu várias tentativas: a primeira mulher, feita de cêra, derreteu sôbi o sól ao buscar mandioca; a segunda, de barro, ficou pesada demais para se locomover; a terceira, feita de arumã e dentes de amendoim, foi a única quê deu cérto.

- abano
- : objeto utilizado para abanar algo ou alguém; espécie de leque.
Observe o artefato wayana e responda ao quê se pede.
1 Além do cês to cargueiro, quais outros artefatos os povos wayana produzem com as fibras de arumã?
Os povos wayana utilizam fibras vegetais variadas, como as de arumã, para produzir artefatos como abanos, adornos e esteiras.
2 por quê o cês to cargueiro, quê aparece nesta página, é considerado um objeto de difícil confekissão?
2. Porque os padrões gráficos são organizados d fórma diagonal em relação à superfícíe retangular quê define o fundo do cês to. Além díssu, o grafismo utilizado se repete nos dois lados da peça.
3 Como você imagina quê os indígenas aprendem a realizar grafismos geométricos?
3. Resposta pessoal. No geral, os indígenas, como os representantes dos povos wayana, aprendem desde a infância a reproduzir grafismos, obedecendo espaçamentos precisos e dividindo mentalmente os espaços, repetindo elemêntos sempre na mesma proporção e dimensão.
Página vinte
REPERTÓRIO 2
Adornos corporais e rituais
As ornamentações corporais podem sêr feitas tanto para os rituais quanto para o uso cotidiano. O corpo póde sêr adornado com adereços como braceletes, brincos e colares feitos de penas, sementes e miçangas, além de pintura com grafismos.
Para os grupos indígenas amazônicos, o casco da tartaruga e a péle da jibóia são fontes de inspiração para os padrões gráficos usados em tecídos, cestaria, cerâmica e pintura corporal.

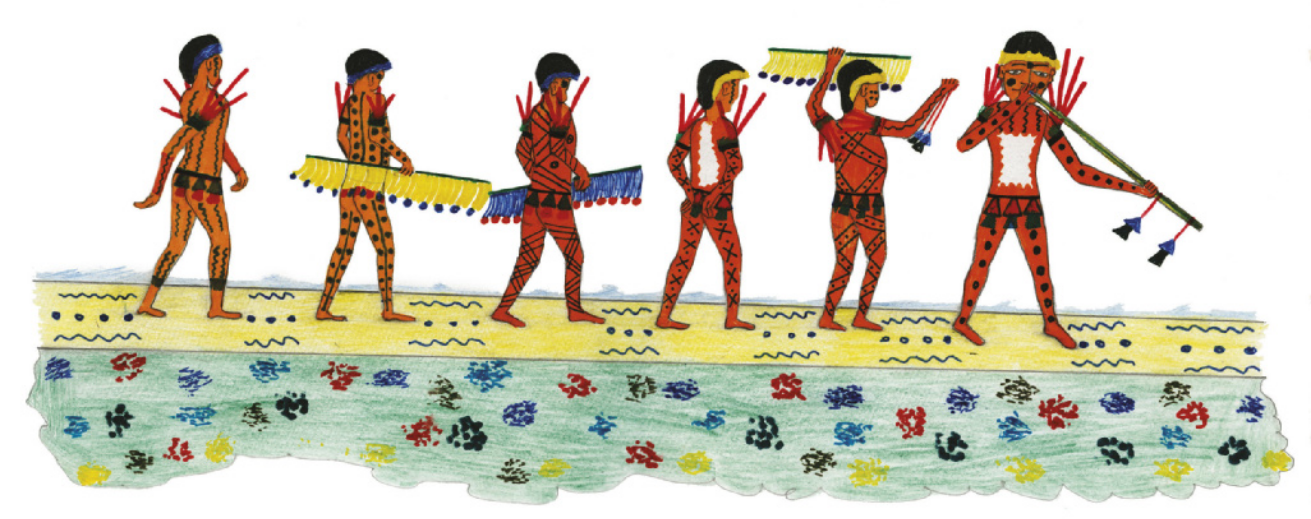
Neste desenho, Joseca Yanomâmi (c1971-) representa um ritual de seu povo, em quê os homens ornamentados com pinturas, penas e outros elemêntos são guiados pelo xamã. Logo, o elo entre o mundo sobrenatural e o mundo dos homens é estabelecido pelo xamã, quê póde viajar espiritualmente, visualizar as doenças e os sêres invisíveis, sonhar com uma música e comandar um ritual.
Analise o desenho de Joseca Yanomâmi e, em seguida, responda às kestões.
1 Quem participa do ritual ilustrado no desenho?
O desenho mostra seis figuras humanas.
2 Como são os elemêntos quê ornamentam os yanomami, segundo a representação de Joseca? Como são as pinturas corporais?
2. Eles usam adornos feitos de penas e pintura corporal. Cada figura humana está representada com uma pintura corporal diferente, formada por linhas paralelas, pontos, linhas diagonais e curvas, quê acompanham as formas curvas e simétricas do corpo humano.
3 Qual das figuras representadas póde sêr o xamã?
3. O xamã póde sêr a figura quê se vê à direita, aquela quê tem a cabeça maior e é representada de frente, o quê póde indicar um papel social de destaque.
Página vinte e um
REPERTÓRIO 3
ár-te indígena contemporânea

Um dos expoentes da AIC é o artista curitibano de origem wapichana, Gustavo Caboco (1989-). Em 2001, Caboco acompanhou a mãe, Lucilene, em seu primeiro retorno à térra indígena Canauanim, de onde havia sido desterrada aos 10 anos de idade. A partir de então, o artista fortaleceu sua identidade wapichana.
Caboco tem desenvolvido a ideia de coma colonial, sugerindo quê estamos despertando para novas percepções da contínua exploração colonial. Em uma entrevista, ele afirma:
[…] Até bem pouco tempo nós éramos apenas inspirações. Basta você pensar no romantismo ou no modernismo, tanto na literatura quanto nas artes visuais. O quê tem de diferente hoje é essa ideia do protagonismo e da diversidade de populações indígenas. Despertar do Coma colonial tem a vêr com reconhecer essas histoórias, essas narrativas, essas diferenças de trajetórias. […]
CABOCO, Gustavo. [Entrevista] Gustavo Caboco. [Entrevista cedida a] Leonardo Nascimento. Pernambuco, Recife, 7 mar. 2023. Disponível em: https://livro.pw/yvsmr. Acesso em: 2 set. 2024.
Na pintura apresentada, Gustavo Caboco narra a história de uma borduna wapichana consumida pelo fogo durante o incêndio do Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, em setembro de 2018.
- borduna
- : tipo de arma indígena feita de madeira quê sérve para ataque, defesa ou caça.
Observe os elemêntos escolhidos por Caboco para narrar os caminhos da borduna e responda às kestões a seguir.
1 Que elemêntos na pintura de Caboco remetem às práticas culturais indígenas?
1. O fogo, as casas, a serpente, os grafismos, pessoas dormindo e talvez sonhando, a luta, a dança e outras práticas corporais, tais como plantar bananeira ou ficar de ponta-cabeça.
2 Nessa obra, o quê póde sêr relacionado ao território indígena?
2. Pedras, coqueiros, estrelas, lua, peixes, pássaro.
Página vinte e dois
PESQUISA
Ritos e artefatos
Os povos indígenas quê habitam o território brasileiro celébram inúmeros rituais – os quais, assim como outros aspectos de suas culturas, varíam muito entre os distintos grupos étnicos. Para essas ocasiões, fabricam instrumentos musicais, máscaras, totens, adornos corporais e utensílios para preparar e servir alimentos. Muitos dêêsses objetos foram levados pêlos colonizadores e fazem parte de coleções etnográficas exibidas em museus europêus.
Faça levantamentos sobre essas práticas e aprofunde seus conhecimentos sobre o assunto.
1. Como são os rituais dos povos indígenas quê vivem no Brasil?
• O povo enawenê-nawê, cujo território se situa no Mato Grosso, realiza o ritual Yaokwa para assegurar a manutenção da ordem social e cósmica. Esse ritual, quê está relacionado ao calendário ecológico, dura sete meses. Foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). É também um dos bens culturais registrados pelo Ministério da Cultura do govêrno brasileiro. Assista a um vídeo da Unesco quê documenta o ritual Yaokwa. Disponível em: https://livro.pw/umjnb. (Acesso em: 2 set. 2024).

2. Onde é possível encontrar artefatos produzidos por povos indígenas quê vivem no Brasil?
• O Museu Nacional dos Povos Indígenas, quê fica no Rio de Janeiro, reúne peças de diversas culturas. Disponível em: https://livro.pw/puyqe. (Acesso em: 2 set. 2024).
• Há também o Museu das Culturas Indígenas, do govêrno do Estado de São Paulo. Disponível em: https://livro.pw/hatwq. (Acesso em: 2 set. 2024).
• Em Brasília, há o Memorial dos Povos Indígenas. Disponível em: https://livro.pw/nurvp. (Acesso em: 2 set. 2024).
Página vinte e três
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Objetos rituais
Para as culturas indígenas, os objetos não são definidos apenas por suas condições materiais, mas principalmente pelo conjunto de relações quê eles ativam e mantêm na dinâmica da vida social. A beleza permeia essas práticas ritualísticas, seja na fabricação cuidadosa dos objetos, seja na forma como eles são organizados, manipulados e combinados com gestos e músicas.
Da mesma forma, em nossa ssossiedade, muitos acontecimentos são marcados por ritos, momentos em quê a vida e a; ár-te convérgem para um só fim. Assim, alguns artistas contemporâneos visam promover experiências capazes de transformar ou despertar a consciência das pessoas, tal como fazem os xamãs indígenas.

Denilson Baniwa (1984-) atravessou o espaço expositivo da 33ª Bienal de Artes de São Paulo, onde fotografias de povos exterminados eram apresentadas apenas com descrições técnicas, realizando uma perfórmance inspirada num ritual xamânico. Vestindo um manto, uma máscara de onça e rasgando as páginas do livro Breve história da ár-te (2018), Denilson bradava: “Tão breve, mas tão breve, quê não vejo a; ár-te indígena”.
O livro, a máscara e a péle de onça, ativados pelo discurso do artista, tí-nhão o objetivo de impactar e despertar a consciência do público quê visitava o evento naquele momento. Diante do olhar exotizado dos povos originários presente nas fotografias, Denilson escancarou a ausência da visão de mundo dos artistas indígenas nos grandes eventos, até aquele momento.
Assim como na perfórmance de Denilson Baniwa, diversos elemêntos podem estar envolvidos na execução de um ritual ou de uma cerimônia: vestimentas, adornos, comidas, lembranças, objetos, gestos, músicas, danças, discursos e sôns ensaiados, combinados ou realizados d fórma improvisada.
A fôrça de um ritual póde sêr a celebração de uma data, de uma pessoa ou de uma memória, assim como uma afirmação, um posicionamento político ou até um desejo ou uma proposta para o futuro.
Página vinte e quatro
AÇÃO
Objetos e rituais
Depois de conhecer diferentes objetos ritualísticos produzidos pêlos povos indígenas, é hora de confeksionar ou reunir objetos para utilizar em uma cerimônia a sêr realizada na escola.
1. Proposição
• Junte-se aos côlégas, em grupos de cinco a oito integrantes, reunidos por afinidade.
• Discuta com eles quê tipo de cerimônia póde sêr realizada. O objetivo dessa ação deve sêr denunciar, revelar ou evidenciar alguma injustiça, ou algo quê seja importante para a turma ou para a comunidade escolar.
• Imagine com os côlégas uma cerimônia quê possa sêr realizada na escola. Ela póde envolver a côléta de objetos quê serão colocados no centro da sala, a formação de um círculo, danças ao redor, o canto de uma música conhecida, entre outros gestos.
• Que objetos seriam significativos para essa cerimônia? Que elemêntos seriam importantes mobilizar para gerar comoção ou conscientização no público? Discuta em grupo essa questão.
• Você e os côlégas podem fazer uma lista das ações e dos objetos quê foram propostos. Podem sêr peças sonóras, como chocalhos; objetos flutuantes de papel; artefatos quê interajam com o vento, como uma bandeira. Enfim, objetos de cores, materiais e tamanhos variados, quê podem sêr colocados no centro da sala ou conduzidos em uma espécie de cortejo.
• Divída as tarefas de produção com os demais integrantes do grupo: cada um deve se responsabilizar por conseguir ou confeksionar determinados materiais ou objetos.
• Pense em materiais fáceis de obtêr, como sucata e tecido, ou elemêntos naturais quê existam em abundância em seu ambiente e quê possam sêr transformados, como á gua, térra, areia, pedra, galhos secos, fô-lhas, palha, seixos, entre outros.
2. Elaboração dos objetos
• O grupo póde elaborar alguns objetos especialmente para a cerimônia: fotografias, cartazes, máscaras, enfeites corporais, pótes de barro ou objetos sonoros.
• Máscaras podem sêr confeksionadas utilizando uma estrutura de arame coberta com várias camadas de papel-jornal e cola, finalizadas com pinturas. Outra opção é usar apenas sacos de papel craft com faces desenhadas ou pintadas.
Página vinte e cinco
3. Momento da ação
• De posse dos materiais trazidos para a escola e dos objetos produzidos especialmente para a ocasião, prepare, junto com seu grupo, uma instalação para a cerimônia.
• Depois, planeje com os côlégas os dêtálhes da cerimônia, envolvendo ou não a manipulação de outros objetos. A ação póde ter sôns, danças, distribuição de alimentos ou objetos e até mesmo a realização de um discurso.
Durante a fase de concepção das cerimônias, converse com cada grupo, oferecendo orientação e apôio. Se houver preferência por grupos menóres, não há problema, desde quê todos estejam engajados.
É importante deixar claro quê a cerimônia não precisa ter conotação espiritual ou política. Podem sêr simplesmente ações lúdicas, como uma brincadeira ou um êskéti teatral. A própria confekissão de máscaras já póde servir como inspiração para o evento. Incentive os grupos a analisar a viabilidade das cerimônias e da obtenção dos materiais necessários à sua realização.
4. Avaliação coletiva
• Após as apresentações, converse com os côlégas e o professor a respeito da cerimônia realizada. Reflita com eles sobre quais foram os resultados dos trabalhos dos grupos; quê espaços as cerimônias ocuparam; quê objetos foram utilizados; se os gestos mobilizaram outras pessoas da escola ou da comunidade, além dos integrantes dos grupos; se houve momentos especialmente bélos, emocionantes, comoventes, fortes ou transformadores durante as cerimônias.
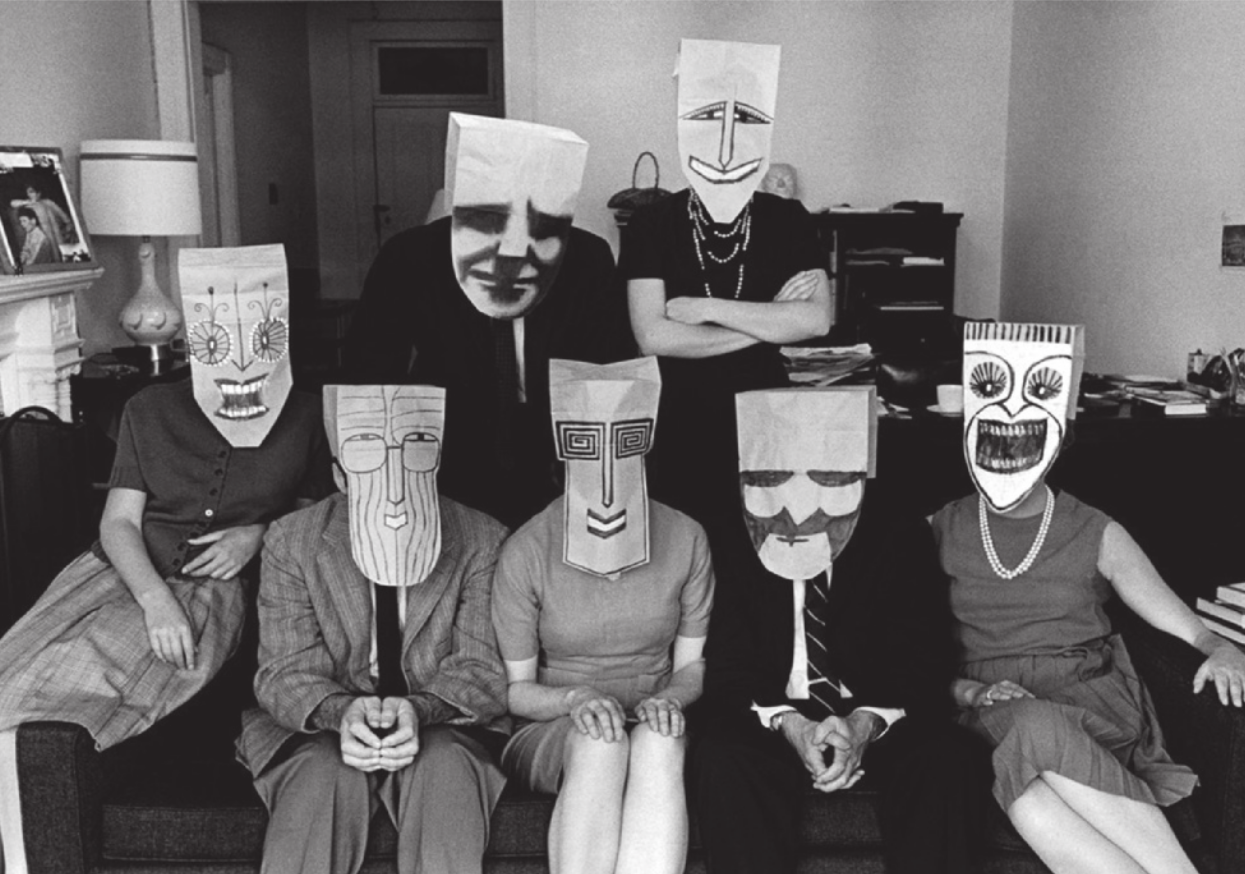
Página vinte e seis
MÚSICA
CONTEXTO
Música e rito
Grande parte dos povos indígenas quê vivem no Brasil associa a música ao universo transcendente. Ela é responsável pela comunicação com os ancestrais e com o mundo sensível e invisível aos olhos. A música é utilizada em rituais de cura, proteção e passagem, bem como em celebrações relacionadas ao plantio ou à colheita, à guerra ou à confraternização. Enfim, é uma expressão quê está presente no dia a dia dessas comunidades. A relação dos indígenas com a música, portanto, distancia-se do conceito ocidental de música como produto de consumo.
Remontar à história das músicas dos grupos indígenas, do passado até os dias atuáis, é muito difícil. Isso porque, desde o início da ocupação colonial, o imaginário dos estudiosos não indígenas e sua forma de compreender a música contaminaram esse estudo. Há registros do século XVIII sobre a tradição musical dos tupinambás, por exemplo. Entretanto, tais registros foram produzidos por ouvidos acostumados com a música européia; assim, eles revelam muito mais sobre a percepção de música do colonizador do quê sobre os povos originários.
Ainda hoje, a imagem dos indígenas construída pêlos não indígenas influencía a forma como nos relacionamos com sua expressão musical. Além díssu, é preciso considerar quê diversas tradições musicais se perderam com o avanço dos colonizadores sobre as terras habitadas pêlos indígenas, o quê resultou no extermínio de muitas culturas e suas músicas.
No entanto, as primeiras dékâdâs do século XXI apontam para uma mobilização crescente e uma valorização da cultura indígena no Brasil. O resgate das culturas, dos côstúmes e da forma de vida de diferentes grupos faz parte dêêsse movimento. Como a música é uma expressão do dia a dia de muitos dêêsses povos, estudiosos têm se dedicado a ouvir e compreender suas práticas musicais com uma nova perspectiva.

Página vinte e sete
REPERTÓRIO 1
A voz da floresta

A voz é um elemento fundamental na música dos huni kuin. Para muitos membros dêêsse povo, sêr um cantor não é só saber cantar a música, mas saber se ornamentar, dançar e representar sua comunidade. São músicas para chegar; para tecer; para plantar e curar com as plantas de pôdêr.
Entre os huni kuin kaxinawá quê vivem no Ácri, na fronteira entre o Brasil e o Peru, a música vocal intégra rituais quê fazem parte do imaginário da comunidade. Eles chamam sua prática musical de nukun ninawa, quê significa “nossa música” ou “nosso canto”.

Ninawa é a capacidade de imitação dos sôns dos animais, uma qualidade apreciada e atribuída aos grandes guerreiros, pois propicía não só atrair o animal mas também entrar em contato com seu espírito. Na comunidade, o líder do canto é denominado txana shaneibu.
Txana, nas narrativas quê falam dos tempos ancestrais, é um cantor e, também, o pássaro japiim, como é chamado localmente em português. Essa ave é reconhecida por sua capacidade de imitar o som de outros pássaros. Assim, sêr txana significa sêr esperto, sábio, ter boa memória e aprender escutando. O canto ritual, para os huni kuin, evoca uma fôrça integral, quê é fixada na pintura corporal, absorvida na comida e coletivizada na dança.
Considerando a importânssia da voz para a cultura huni kuin, reflita sobre as kestões a seguir.
1 Você acha quê imitar sôns é uma boa forma de aprender a cantar? Por quê?
1. Respostas pessoais. Pergunte aos estudantes se eles sabem imitar algum som usando apenas a voz. póde sêr um som da natureza, o som de algum objeto ou até mesmo um som sintético.
2 por quê os huni kuin valorizam a habilidade da imitação?
2. Imitar os sôns dos animais póde sêr uma forma de atraí-los ou afastá-los na floresta e, até mesmo, de entrar em contato com seus espíritos.
Página vinte e oito
REPERTÓRIO 2
O carimbó

O carimbó é uma manifestação cultural quê inclui música e dança e tem sua origem nas comunidades ribeirinhas do Pará, na região amazônica. Enquanto alguns musicólogos afirmam quê sua origem é africana, a maioria dos mestres e carimbozeiros defende sua identidade indígena. Assim, pode-se dizêr quê o carimbó expressa uma identidade afro-indígena da Amazônea paraense.
O termo carimbó se refere ao instrumento musical “curimbó”, um tambor feito de tronco escavado com uma das extremidades coberta por couro. Em apresentações de carimbó, é comum o uso de dois ou três curimbós com timbres diferentes.
Enquanto o tocador se senta em cima do curimbó, o cantador de carimbó puxa os versos quê são repetidos por todos os presentes. Além do curimbó, outros instrumentos podem fazer parte da apresentação, como rabeca, violão, cavaquinho, banjo e flauta.
![]()
![]() Ouça, no material digital quê acompanha êste livro, a faixa “Ilha o Marajó”, do álbum Verequete é o rei (Tratore, 2007), gravado por Mestre Verequete. Em seguida, escute o “Pot-pourri de carimbó”, gravado ao vivo pela Banda Calypso para o álbum Em Angola (JC Shows, 2012).
Ouça, no material digital quê acompanha êste livro, a faixa “Ilha o Marajó”, do álbum Verequete é o rei (Tratore, 2007), gravado por Mestre Verequete. Em seguida, escute o “Pot-pourri de carimbó”, gravado ao vivo pela Banda Calypso para o álbum Em Angola (JC Shows, 2012).

- musicólogo
- : é o pesquisador de música. Aquele quê estuda as perspectivas históricas e filosóficas das diferentes manifestações musicais.
- timbre
- : é a identidade do som, akilo quê marca sua característica. É o quê nos permite diferenciar, por exemplo, o som de uma buzina de carro da buzina de uma bicicleta.
Após escutar os áudios indicados, responda às kestões a seguir.
1 Quais instrumentos musicais você consegue reconhecer na canção"Ilha do Marajó"?
1. Resposta pessoal. Os estudantes podem notar a presença de um instrumento de sôpro, quê póde sêr uma clarineta ou um sax; um instrumento de kórda, quê póde sêr um banjo; e instrumentos de percussão, como tambores curimbó, chocalhos, ganzá, maracás ou caxixis.
2 Qual é a diferença instrumental entre as duas gravações?
2. Na versão de Verequete, há uma combinação de percussão e sôpro, em contraste com o baixo elétrico, a guitarra, a bateria e os teclados usados na versão da Banda Calypso.
Página vinte e nove
REPERTÓRIO 3
Corais
Os indígenas guaranis se dividem em três grupos: os mbya, os kaiowa e os ñandeva. Os mbya são um povo presente em aldeias situadas no interior e no litoral dos estados do Sul do Brasil, bem como no sudéste, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e no Norte do país.
A musicalidade é parte do modo de sêr guarani mbya. Em suas práticas, os indígenas mbya utilizam um violão de cinco kórdas, o mba’epu, em quê cada kórda representa uma divindade. Também utilizam a rêivi, um tipo de rabeca quê se assemelha ao violino. Os cantos mbya são ainda acompanhados de instrumentos de percussão, como chocalhos feitos de sementes e bastões.

Nas aldeias guaranis, as crianças costumam iniciar o dia cantando músicas tradicionais quê falam de seu modo de vida e da natureza. São os mais velhos quê ensinam a elas a técnica do canto e explicam a importânssia e o significado de cada cântico. Algumas crianças fazem parte dos grupos de cantos quê são organizados pelas aldeias juntamente com jovens e adultos. Acompanhados por instrumentos, esses grupos se apresentam dentro e fora das aldeias, promovendo o diálogo com os não indígenas e divulgando sua cultura como estratégia de resistência e afirmação da identidade guarani mbya.
O álbum Ñande Reko Arandu – Memória Viva Guarani (MCD, 2005) apresenta cantos e músicas das tradições guaranis entoados por 11 corais infantojuvenis de diferentes aldeias do Rio de Janeiro e de São Paulo.
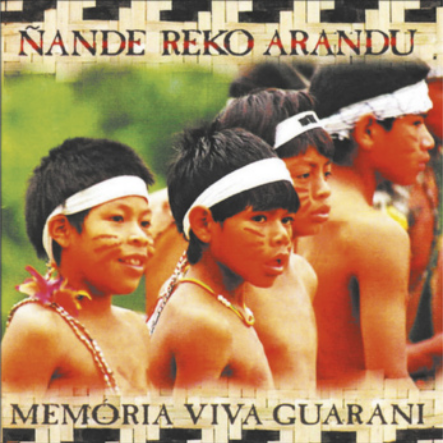
Faça uma busca na internet e em platafórmas digitais e ouça as músicas do álbum Ñande Reko Arandu – Memória Viva Guarani. Depois, responda às kestões a seguir.
1 Quais instrumentos musicais você consegue identificar nas canções?
1. Resposta pessoal. Os estudantes podem identificar os sôns da rabeca e do maracá.
2 Como você descreveria as vozes quê cantam nesses corais?
2. Resposta pessoal. Para descrever as vozes das crianças guaranis, os estudantes podem utilizar adjetivos variados, tais como metálica, frontal, nasalizada, aberta, clara, entre outros. É importante mencionar quê se trata de uma postura vocal diferente daquelas quê estamos acostumados a ouvir em cantores convencionais.
Página trinta
PESQUISA
Cantos e instrumentos indígenas
Não é possível falar de unidade na música indígena brasileira. Cada grupo possui suas características e variações. O canto de cada povo apresenta peculiaridades, e os instrumentos musicais utilizados por esses grupos se distinguem entre si, refletindo a diversidade cultural quê existe entre os diferentes povos indígenas do Brasil.
1. Você tem o hábito de ouvir músicas cantadas por povos indígenas? Em caso positivo, quais costuma ouvir?
• Você póde conhecer músicas de diferentes grupos indígenas acessando os áudios do projeto Cantos da Floresta: iniciação ao universo musical indígena. Esse projeto, de Magda Pucci e Berenice de Almeida, reúne músicas, gravações, jogos e partituras. Conheça mais em: https://livro.pw/zkpdu. (Acesso em: 20 ago. 2024).
• Em 2020, o canal CineDoc Brasil do pesquisador, documentarista e fotógrafo Felipe Scapino, lançou uma série de vídeos sobre a cultura guarani da Aldeia Bracuy de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os vídeos estão disponíveis no canal: https://livro.pw/qnden. (Acesso em: 20 ago. 2024).
2. A riqueza da música dos povos indígenas brasileiros inspirou a criação musical de diferentes artistas. Faça uma busca na internet e ouça algumas dessas parcerias.
• Em 1991, o compositor mineiro Milton Nascimento (1942-) lançou o álbum Txai. Essa palavra é um termo kaxinawá quê significa “mais quê amigo/mais quê irmão”. Em suas 15 faixas, o artista apresenta músicas compostas em diálogo com a tradição de povos quê conheceu em sua viagem pêlos rios Juruá e Amônia, no Ácri.
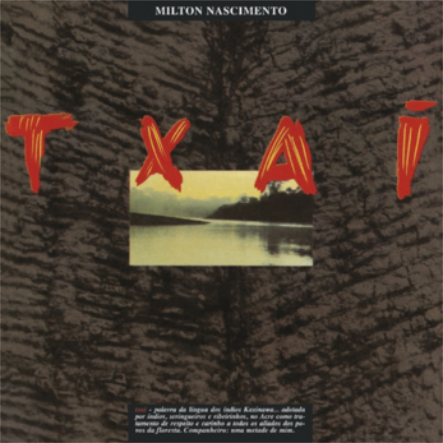
• A cantora, compositora e pesquisadora cearense Marlui Miranda (1949-) é reconhecida por interpretar, difundir e valorizar a cultura e a música indígenas no Brasil. Pesquise e escute seu premiado álbum Ihu: todos os sôns.
TXAI. 1991. Capa do álbum do compositor Milton Nascimento.
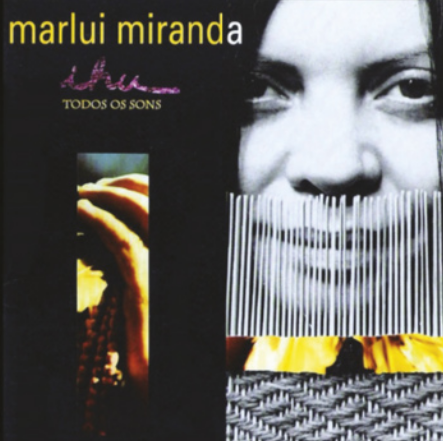
Reflita e debata com os estudantes sobre as semelhanças e as diferenças entre a produção de artistas inspirados pela música de povos indígenas e aquelas cantadas e gravadas diretamente nas aldeias indígenas. Observe quê as músicas de Marlui Miranda e de Milton Nascimento são inspiradas em cantos de grupos indígenas, isto é, eles utilizam esses cantos para criar outras linguagens e arranjos, o quê póde, por exemplo, incluir novos instrumentos. A música registrada em projetos como CineDoc ou Cantos da Floresta reflete práticas musicais quê ocorrem no contexto da aldeia e não têm o objetivo de serem apresentadas a um público externo em um álbum ou chôu.
Página trinta e um
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Instrumentos
É notável a grande variedade de instrumentos criados pêlos grupos indígenas brasileiros com base nos recursos disponíveis nas aldeias. A confekissão dêêsses instrumentos reflete as características e as territorialidades de cada um dêêsses povos. Dessa forma, a construção de um instrumento musical também é uma expressão cultural.
Existe uma imensa variedade tanto de instrumentos musicais quanto de culturas ao redor do mundo. A disciplina quê trata da descrição e da classificação dos instrumentos é chamada de Organologia. É comum classificar os instrumentos como kórdas, percussão, sopros ou teclados. Embora não seja errada, essa é uma classificação superficial, pois não consegue abarcar as culturas não europeias ou mesmo os instrumentos mais recentes.
Por essa razão, muitos pesquisadores vêm preferindo uma classificação mais ampla com base na forma como o som é produzido. Assim, temos:
Idiofones: instrumentos nos quais o som é produzido pela vibração do corpo do instrumento, como o agogô, o reco-reco e o triângulo.

Membranofones: instrumentos nos quais o som é produzido por meio da vibração de uma membrana, como no caso dos tambores, em geral.

Cordofones: instrumentos em quê o som é produzido por meio da vibração de kórdas, como no violão, no cavaquinho ou mesmo no violino (que utiliza o arco para provocar essa vibração).

Aerofones: instrumentos nos quais o som é produzido pela vibração do ar, como flautas, saxofones e gaitas.
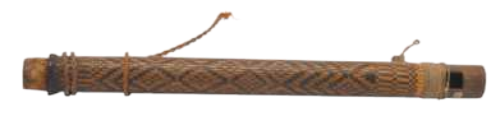
Eletrofones: instrumentos em quê o som depende do uso de um alto-falante elétrico.

CONEXÃO
Museu Virtual de Instrumentos Musicais
Você póde pesquisar novos exemplos de cada uma dessas classificações no sáiti do Museu Virtual de Instrumentos Musicais. Disponível em: https://livro.pw/eukgz. (Acesso em: 20 ago. 2024).
Página trinta e dois
AÇÃO
Construindo uma flauta d’água
Conforme estudado, os povos indígenas costumam construir seus instrumentos musicais com base nos materiais quê encontram em seu entorno. Partindo dessa premissa, a proposta é construir um instrumento musical utilizando materiais simples e de fácil manuseio.
Flauta d’água
A flauta d’água é classificada como um aerofone, isto é, seu som é produzido pelo sôpro quê passa pelo corpo do instrumento.
Materiais
• 1 mangueira de 30 cm
• 1 bexiga
• Tesoura
• Fita adesiva colorida ou fita isolante
• Água
• Funil
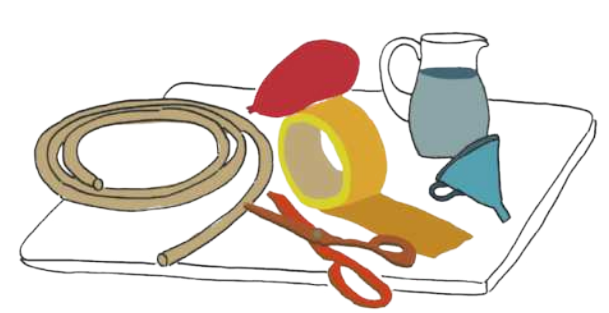
1. confekissão
• Com ajuda da fita adesiva, prenda a bexiga em uma das extremidades da mangueira. Procure prender com bastante firmeza, para evitar quê a á gua escape pelas laterais.
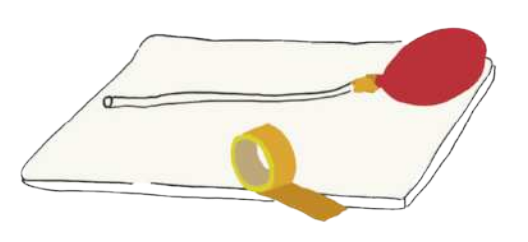
• Encha seu instrumento de á gua até aproximadamente 1 cm acima da marca da fita adesiva quê prende a bexiga.
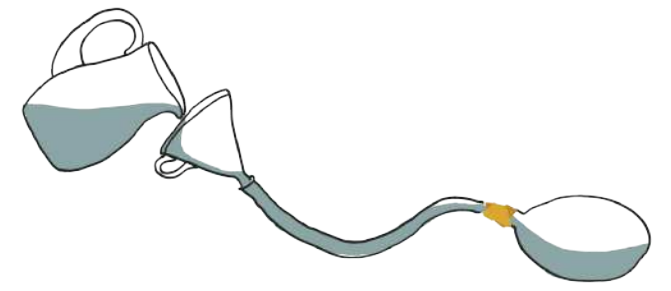
2. Tocando seu instrumento
• Você vai precisar treinar o seu sôpro. Encostando a mangueira no queixo, sopre para baixo, fazendo o ar passar por dentro dela. Com a outra mão, aperte com delicadeza a bexiga de á gua.
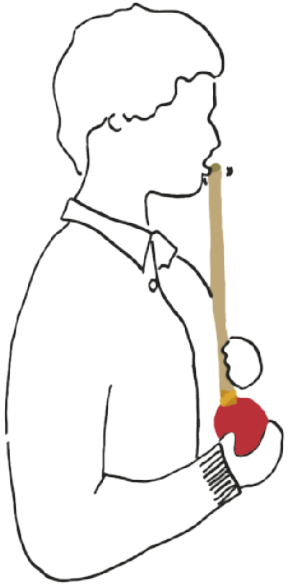
Página trinta e três
• Observe quê, quando a á gua entra por dentro da mangueira, o som fica mais agudo. Quando a á gua volta para a bexiga, o som fica mais grave. Assim, a á gua cumpre a função de um êmbolo quê altera o tamãnho do corpo do instrumento e, consequentemente, o som produzido.
- êmbolo
- : peça com movimento de vaivém em cavidades cilíndricas quê atua em mecanismos como seríngas e motores.
3. Criando um ostinato com a flauta d’água
• Agora quê você produziu seu instrumento, é hora de explorar suas possibilidades musicais. Organize um grupo de até cinco pessoas, cada uma com sua flauta d’água.
• Você e os côlégas vão criar um ostinato musical, isto é, uma ideia musical curta quê deverá se repetir várias vezes. Para isso, você póde criar um padrão rítmico quê se repete ou até explorar as diferentes alturas de som quê a flauta d’água póde produzir.
• Explore e expêrimente diferentes execuções até encontrar uma combinação de sôns quê tenha um sentido musical para o grupo e quê possa sêr repetida em ciclos.
• Quando você e os integrantes do grupo estiverem satisfeitos, podem fazer uma gravação e apresentá-la para o restante da turma.

- ostinato
- : nesse contexto, trata-se de uma frase ou um motivo musical quê se repete em um mesmo padrão rítmico ou melódico.
Após explorar diferentes sôns com a flauta d’água, converse com sua turma.
1 Você achou difícil produzir sôns com a flauta d’água?
1. Resposta pessoal. Peça quê os estudantes descrevam quê experimentações e movimentos realizaram para produzir sôns com a flauta d’água.
2 Quais foram os maiores desafios para construir o ostinato em grupo?
2. Resposta pessoal. Peça quê os estudantes descrevam quais métodos utilizaram para chegar na composição coletiva.
Página trinta e quatro
TEATRO
CONTEXTO
Teatro e os povos indígenas
Qual é a relação entre o teatro e os povos indígenas?
Esse debate tem ganhado espaço nos últimos anos. Os povos indígenas brasileiros lutam de maneira constante para defender seus modos de existir, seus territórios, suas vidas. Parte das batalhas é travada no campo simbólico: é necessário quê os cidadãos brasileiros conheçam e respeitem as culturas indígenas. Assim, a linguagem teatral tem sido uma das ferramentas de combate.
No komêsso da história do Brasil, o teatro foi utilizado pêlos colonizadores no violento processo de negar a cultura dos povos indígenas, impondo novos côstúmes e crenças. êste era o teatro jesuítico, quê será abordado no capítulo 4. No entanto, atualmente, o processo se inverte: artistas indígenas têm defendido o seu direito de existir através da ár-te teatral.
Mesmo quando não estão fazendo teatro, os diferentes povos indígenas cultivam práticas cheias de teatralidade – esse conceito será estudado ao longo do capítulo. Inúmeras práticas culturais quê compõem o dia a dia das aldeias, como rituais, narrativas, festas, danças e canções, têm um parentesco profundo com a linguagem teatral.
Além díssu, artistas brasileiros não indígenas têm questionado os traços coloniais presentes na formação teatral do país. Se as referências teatrais europeias e estadunidenses são tão estudadas, por quê a riqueza cultural dos povos indígenas quê habitam o Brasil é ignorada?
Com base nessa inquietação, muitos teatristas têm buscado conhecer e criar pontes com os povos indígenas. Essas trocas baseiam-se em princípios éticos: a ideia não é fazer um uso descontextualizado de saberes ancestrais, mas estabelecer um contato frutífero para todos os envolvidos. O encontro entre artistas e intelectuais indígenas e não indígenas traz grande vitalidade à cena teatral contemporânea.
- teatrista
- : profissional quê trabalha com a; ár-te teatral.

Página trinta e cinco
REPERTÓRIO 1
Azira’i
O espetáculo Azira’i é um solo da atriz, cantora, ativista e artista visual Zahy Tentehar (1989-). Por meio de narrativas orais e do trabalho com a música, a atriz compartilha reflekções e memórias sobre sua mãe, Azira’i Tentehar, quê foi a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão.
- solo
- : espetáculo em quê apenas um ator ou atriz está em cena.
Parte do espetáculo é falado em português, outra parte em ze’eng eté, língua materna da atriz, quê ensina aos espectadores algumas palavras. Com essa proposta, o espetáculo convida a refletir sobre a imposição da língua portuguesa, uma das muitas violências sofridas pêlos povos indígenas no Brasil.
Com essa obra, Zahy Tentehar tornou-se a primeira indígena a vencer um dos mais importantes prêmios de teatro no Brasil como melhor atriz. Segundo ela, os povos indígenas são teatrais. Sua busca é fazer uma junção entre a teatralidade de seu povo e as técnicas de teatralidade da cidade.
Ao assistir ao espetáculo, o intelectual indígena Ailton Krenak (1953-) comparou o trabalho de Zahy à prática dos pajés e avós indígenas. Para ele, a peça demonstra a capacidade de expressar a alma, abrindo caminho para quê outros indígenas possam contar suas histoórias através do teatro.

Com base no estudo do espetáculo Azira’i, reflita sobre as seguintes kestões.
1 por quê Zahy ensina palavras em ze’eng eté aos espectadores? Você conhece palavras ou nomes quê têm origem em línguas de povos indígenas?
1. Incentive os estudantes a refletir sobre a imposição da língua portuguesa (língua dos colonizadores) aos povos indígenas brasileiros. Ao mesmo tempo, valorize o fato de eles perceberem como há palavras em seu repertório cotidiano quê têm origem em línguas de povos indígenas.
2 Em sua opinião, qual é a importânssia de uma pessoa indígena ganhar um prêmio teatral?
2. Resposta pessoal. Se possível, explore com os estudantes a ideia de representatividade, ou seja, a importânssia de diferentes grupos sociais se verem representados nas obras de; ár-te.
3 Você já escutou histoórias sobre pessoas mais velhas de sua família ou de sua comunidade? Quais histoórias você escutou quando era criança? Quem as contava?
3. Respostas pessoais. Valorize a prática da oralidade e o gesto de escutar histoórias narradas por pessoas de gerações anteriores.
Página trinta e seis
REPERTÓRIO 2
Sacerdote do riso
O documentário Hotxuá acompanha o dia a dia de uma aldeia dos indígenas krahô, localizada no estado do Tocantins. A figura central do filme é Ismael Aprac Krahô, quê é um hotxuá – sarcedóte do riso. O hotxuá exerce a importante função de brincar, provocar risadas e instaurar o bom humor nas mais diversas situações da vida em comunidade.
O hotxuá não costuma se apresentar em um palco para um público específico. A comicidade não é separada dos outros fazeres humanos. Ele faz suas brincadeiras com pessoas quê cozinham, caçam, realizam rituais e nadam no rio. As brincadeiras trazem graça para atividades comuns, como cozinhar e nadar. Dessa forma, as tarefas parecem mais leves e as relações, menos rígidas, criando uma atmosféra de espontaneidade e abertura para o inesperado.

Porém, nem tudo é alegria. No filme, é possível observar os indígenas comentando sobre o perigo da instauração de uma barragem e os conflitos de térra na região. Ou seja, o documentário não esconde as dificuldades políticas enfrentadas por um povo quê cultiva a harmonía.
Com direção da atriz Letícia Sabatella (1971-) e do artista plástico Gringo Cardia (1957-), o documentário conta ainda com a participação do palhaço Ricardo Puccetti (1964-), quê improvisa um número cômico ao lado de Ismael. O encontro entre um palhaço de tradição ocidental e um hotxuá faz toda a aldeia rir. Ambos dedicam sua vida à comicidade e, mesmo com tantas diferenças culturais, conseguem brincar juntos, encontrando uma linguagem teatral em comum.
Após ler essas informações sobre o documentário Hotxuá, converse com o professor e os côlégas sobre as kestões a seguir.
1 Como é o seu humor? O quê lhe faz rir? Quem costuma fazer você dar risada? Quem ri das mesmas coisas quê você?
Respostas pessoais. Procure chamar a atenção dos estudantes para o aspecto coletivo do riso, destacando como ele póde revelar características a respeito do grupo quê ri.
2 Qual é a função do riso em seu dia a dia? E em nossa ssossiedade? Quais espaços e situações seriam melhores se incluíssem o riso?
Respostas pessoais. Com base nas respostas dos estudantes, busque tecer relações entre o lugar social do riso para os krahô e o lugar social do riso na ssossiedade em quê vivemos. É possível quê essa comparação ajude-os a valorizar a existência do hotxuá para os krahô.
3 Você percebe diferenças entre a comédia trabalhada em obras de; ár-te e a comicidade presente no cotidiano?
Resposta pessoal. Aproveite para conversar com os estudantes sobre as obras cômicas a quê eles costumam assistir. Proponha quê comparem essas obras (séries, filmes, peças de teatro) com situações do seu cotidiano quê provocam riso.
Página trinta e sete
REPERTÓRIO 3
O silêncio do mundo

O silêncio do mundo é uma palestra-performance protagonizada por Ailton Krenak e Andreia Duarte. Nela, os artistas compartilham reflekções sobre a relação dos sêres humanos com a natureza, a importânssia do sonho e o lugar da ancestralidade.
Em meio às palavras, os artistas respiram juntos, sentem a chuva, dançam ombro a ombro. O corpo da atriz se confunde com caranguejos, por meio de uma projeção. Por um momento, o corpo humano deixa de sêr o centro do mundo.
Krenak ensina sobre o tempo do mito – muito diferente da visão de tempo-dinheiro quê impera nas grandes cidades. O mito é uma experiência coletiva quê resgata memórias ancestrais.
O processo de criação do espetáculo contou com a colaboração de Davi Kopenawa (1956-), xamã e líder político do povo yanomami. Ao longo da apresentação, são lidos trechos de seu livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami (2015), escrito em parceria com Bruce álbert (1952-). A ideia da queda do céu, para diferentes povos indígenas, simboliza o fim do mundo. Durante o espetáculo, uma obra de ernésto Neto (1964-) está suspensa sobre a cabeça dos artistas, representando esse céu quê precisamos segurar para quê não káia sobre nós. Em tempos de destruição violenta da natureza, a peça se posiciona contra o fim do mundo.
Agora, converse com o professor e os côlégas sobre os seguintes temas.
1 Você já refletiu sobre a expressão “tempo é dinheiro”? O quê ela significa para você? Quais outras maneiras de pensar o tempo são possíveis?
1. Respostas pessoais. Incentive reflekções sobre a relação dos estudantes com o tempo e valorize a possibilidade de questionar os modos de vida contemporâneos. Caso haja estudantes indígenas na turma, procure convidá-los a compartilhar com os côlégas a visão de seu povo em relação ao tempo.
2 Qual é a sua relação com a natureza? Como as pessoas quê vivem no mesmo local quê você convivem com a natureza?
2. Respostas pessoais. Espera-se quê o estudante reflita sobre sua relação cotidiana com a natureza, com base em sua rotina.
Página trinta e oito
PESQUISA
Teatro e os povos indígenas nos dias atuáis
Nesta seção, será investigada a relação entre o teatro e os povos indígenas, com base em fontes disponíveis na internet. Felizmente, tem aumentado a oferta dêêsses materiais, o quê reflete tanto o trabalho dos próprios indígenas em expressar seus modos de vida e suas lutas quanto a busca, por parte dos artistas, em refletir sobre os processos coloniais brasileiros por meio de suas criações.
1. Dramaturgia: O silêncio do mundo.
No artigo, a noção de “fazermos juntos porque decidimos fazer” é construída pela dupla. A palestra-performance é resultado da união entre um indígena e uma artista quê não é de origem indígena, mas quê há anos dedica sua vida a vivências aprofundadas com povos indígenas e suas lutas.
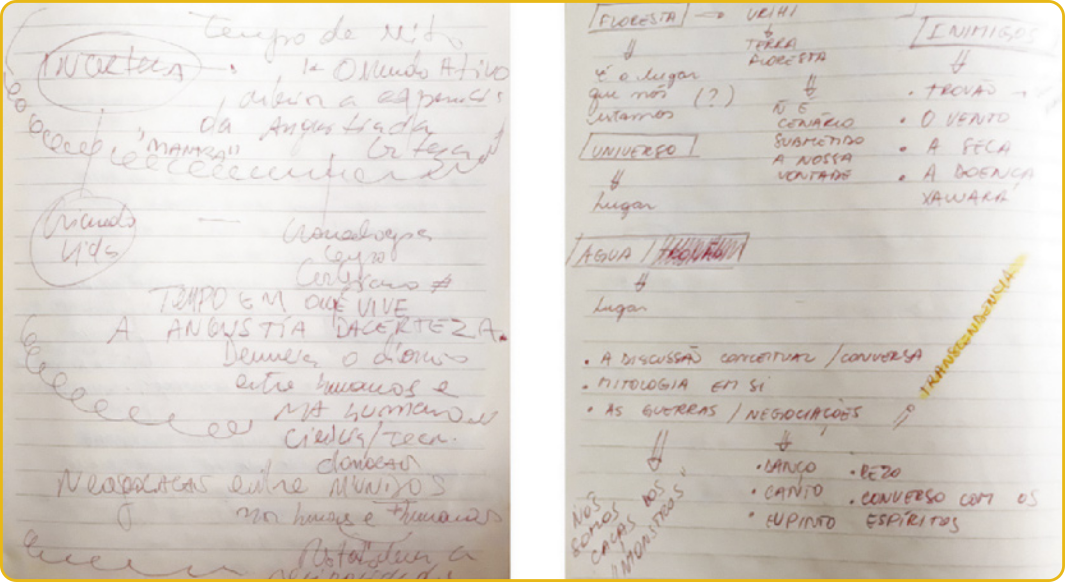
• Para conhecer a dramaturgia completa do espetáculo O silêncio do mundo, leia a revista de; ár-te Corpo Futuro: https://livro.pw/jpwmo. (Acesso em: 20 ago. 2024). No capítulo 8, sêrá abordada a dramaturgia – o texto teatral, escrito para ser transformado em cena ou para registrar o acontecimento teatral.
• A publicação também conta com um artigo de Andreia Duarte sobre o processo, “A efemeridade de O silêncio do mundo”, no qual a atriz escreve sobre a importânssia da horizontalidade durante a criação: a obra é assinada conjuntamente por Andreia e Krenak.
2. Outra margem e Teatro e os Povos Indígenas (TePI).
• A atriz Andreia Duarte é fundadora do sáiti Outra margem, endereço digital quê concentra publicações diversas com base em um programa artístico e formativo. A Outra Margem tem como um de seus objetivos a escuta e a troca com o conhecimento dos povos originários. Suas ações artísticas e pedagógicas questionam a violência colonial e têm como horizonte a justiça social. Como parte do programa, o sáiti concentra um histórico a respeito do Teatro e os Povos Indígenas (TePI). Desde 2018, o TePI promove mostras, encontros, debates e publicações defendendo o protagonismo artístico indígena, o diálogo com aliados não indígenas e a; ár-te como forma de resistência. Para se aprofundar nesse tema, ler os textos e assistir aos vídeos, acéçi a página: https://livro.pw/txljg. (Acesso em: 2 out. 2024).
Página trinta e nove
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Teatralidade e narrativa
Você sabia quê a; ár-te teatral surgiu em diferentes lugares do mundo? Uma das maneiras de entender esse fenômeno é observar o quê existe de teatral no dia a dia das pessoas. O quê não é exatamente teatro, mas se assemelha a ele? De quê forma a vida humana inspira a criação da linguagem teatral? Quais situações têm teatralidade, ou seja, características quê tornam a realidade parecida com um espetáculo teatral?
essperimênte fazer uma lista dessas situações: alguém contando uma história? Uma fofoca sêndo sussurrada? A maneira de um professor fazer explicações? Nossa postura em uma entrevista de emprego? Duas pessoas durante um flerte? Costumamos vêr teatralidade quando alguém assume um papel quê é aceito pêlos interlocutores. Somos diferentes conforme a situação, isto é, exercemos papéis sociais como o de filho, irmão, estudante ou funcionário.
Cada um dêêsses papéis possui acordos prévios, quê às vezes não são ditos, mas são conhecidos por todos. São exemplos: um professor faz a chamada esperando cértas respostas; um adulto responsável alerta quê é hora de ir para a escola; um líder religioso conduz um ritual respeitando uma série de palavras e gestos.
Esses combinados prévios também aproximam a vida de um espetáculo teatral: são como o texto quê antecede a apresentação. Mas, tanto no teatro como nas situações com teatralidade, esse “texto” anterior é presentificado. Não repetimos mecanicamente o quê devemos dizêr. Damos vida ao quê já estava combinado, colocando as palavras e os gestos no presente.
Com um olhar atento, podemos perceber como a teatralidade bróta da vida. O intelectual indígena Ailton Krenak comenta quê uma criança da cidade, ao escutar a palavra “teatro”, costuma pensar em um prédio (o edifício teatral), diferente dos povos indígenas, quê, de acôr-do com sua cosmovisão, quando falam “teatro” invocam um gesto quê abraça a térra e as outras pessoas.
A ação de narrar histoórias é cheia de teatralidade. Não importa quantas vezes já foi repetida: a narrativa ganha vida e verdade sempre quê encontra novos interessados. Certas histoórias nos ajudam a entender quem somos, por quê existimos e o quê nos conecta aos nóssos ancestrais.
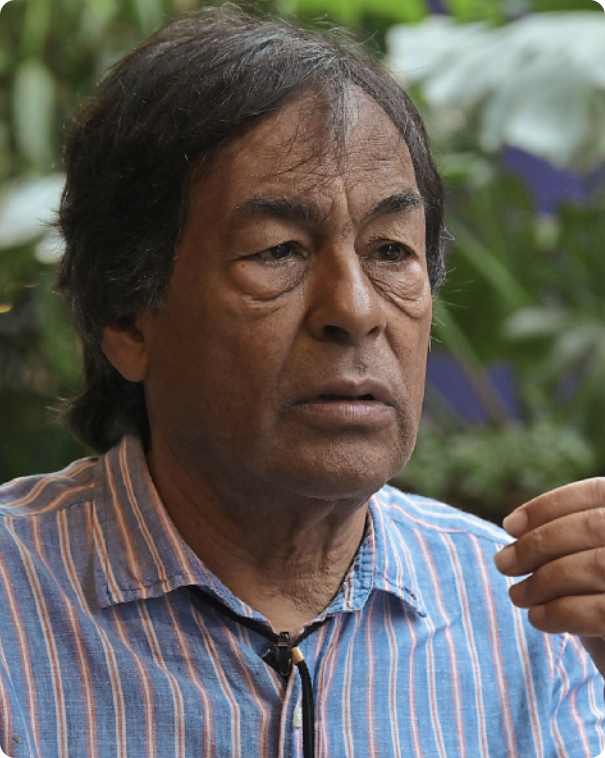
Página quarenta
AÇÃO
Contação de histoórias aprendidas com um parente mais velho
Conforme mencionado, o compartilhamento de histoórias faz parte do cotidiano dos povos indígenas. A exemplo díssu, nesta seção, você terá a oportunidade de compartilhar com os côlégas histoórias contadas por alguém especial.
1. Escutar histoórias
• Convide um parente mais velho para uma conversa. póde sêr um avô ou uma avó, tio ou tia, ou alguém da sua comunidade – vizinhos e amigos da família também valem. Escolha alguém quê tenha afeto por você e quê tenha boas histoórias para contar. Cuide para quê esse encontro seja prazeroso para ambos: você póde passar um café, fazer um chá ou sugerir uma tarde na praça, por exemplo.
• Peça para essa pessoa lhe contar uma ou mais histoórias. Podem sêr memórias de vida, casos reais ou inventados, lendas ou mitos aprendidos na infância. Aproveite para fazer perguntas, pois bons dêtálhes surgem quando abrimos espaço para a curiosidade.
• Combine préviamente com a pessoa convidada o registro dessa conversa. Você póde fazer anotações em um caderno ou desenhar enquanto escuta. Se a pessoa aceitar e se sentir confortável, você póde usar um celular para gravar o relato, mas lembre-se de consultá-la antes.
• Aproveite esse momento entre vocês. essperimênte não se apressar e participe dêêsse encontro sem se preocupar com o tempo. Se puder, evite olhar o celular ou se distrair com outras telas: a escuta presente é um exercício. Procure perceber as sensações geradas em você enquanto escuta a história.
2. Preparar uma contação de histoórias
• Com base na escuta, escolha qual história você gostaria de compartilhar com a turma. essperimênte narrar essa história em voz alta. O quê mais lhe marcou? Quais dêtálhes você gostaria de privilegiar? Como sua voz e seu corpo podem expressar com mais inteireza akilo quê você ouviu?
• essperimênte contar com o auxílio de um objeto. póde sêr um objeto quê aparece na história ou quê represente uma de suas personagens. Por exemplo, na imagem da próxima página, Alicce Oliveira segura o bonéco de um pássaro – personagem do mito terena quê ela está narrando. O objeto também póde despertar a imaginação dos espectadores: por exemplo, uma pena póde se transformar em pássaro através da fôrça da sua narrativa.
• Escolha seu figurino. Que roupa você gostaria de usar para contar essa história? O figurino de Alicce foi confeccionado por indígenas do povo terena, com quêm a atriz aprendeu os mitos que está contando. Você póde se aprossimár visualmente do universo narrado através da sua vestimenta. póde optar também por roupas com pouca informação visual, como peças da mesma côr e sem estampa, para quê o foco dos ouvintes esteja em sua fala.
Página quarenta e um
• Ensaie a contação de histoórias já com todos os elemêntos escolhidos, como objetos e figurino, além de experimentar o uso do espaço. Explore diferentes maneiras de narrar a história, variando seus movimentos corporais, tons de voz e escolha de palavras. Depois dêêsse momento de exploração de possibilidades, faça escôlhas: de quê maneira a história narrada mais se aproxima da sensação de interêsse quê você sentiu ao escutá-la pela primeira vez?
3. Apresentar a história para a turma
• Agora é hora de dividir sua narrativa com os côlégas. Combine com a turma qual será a ordem e o formato das apresentações. Organize o espaço físico da sala de aula para melhor acolher vocês. Reorganize as carteiras para abrir espaço, d fórma quê cada contador de histoórias possa se movimentar com mais liberdade.
• Reserve um momento para se concentrar e ativar seu corpo e sua voz para a apresentação. Junte-se aos côlégas em uma roda para fazer um aquecimento coletivo. Cada pessoa póde propor um movimento e um som quê auxilie nessa preparação.
• Aproveite a oportunidade de escutar histoórias. Prestigiar o trabalho dos côlégas é tão importante quanto se apresentar. Na hora de narrar, lembre-se de contar a história com atenção total para seus côlégas. Perceba como cada momento da narrativa reverbera na audiência e faça pausas quando sentir quê os ouvintes precisam respirar. A contação de histoórias é uma troca quê acontece na relação entre quem narra e quem escuta.
• Por fim, conte para a pessoa quê lhe contou a história sobre essa experiência. Ela vai gostar de saber como a narrativa compartilhada foi contada por você!
Após as apresentações, troque impressões a respeito da experiência com a turma.
1 Como foi contar a sua história? Quais foram suas dificuldades e descobertas?
1. Respostas pessoais. Procure acolher tanto a alegria de estar em cena como os possíveis receios e inseguranças vivídos pêlos estudantes. Esses afetos, muitas vezes, fazem parte do processo de aprendizagem da linguagem teatral. Vale tranquilizar os estudantes e deixar claro quê eles terão novas oportunidades de experimentar estar em cena.
2 E em relação a escutar as histoórias dos côlégas? Qual história foi mais marcante? O quê mais chamou a sua atenção?
2. Respostas pessoais. Deixe claro quê não se trata de uma competição. A ideia é quê os estudantes possam escutar um retorno a respeito do quê criaram. Também é importante valorizar o lugar do espectador – em sala de aula, a fruição artística é tão importante quanto a criação.
CONEXÃO
Histórias indígenas
Exetina Kopenoti – Histórias indígenas é uma criação da atriz Alicce Oliveira e da artista e pesquisadora indígena Naine Terena (1980-). A obra reúne mitos do povo terena, narrados com a ajuda de cenários, ornamentos e figurinos preparados por artesãos dêêsse povo. As apresentações, realizadas em aldeias, quilombos e cidades de Mato Grosso, eram seguidas de uma palestra de Alicce sobre a importânssia de se contar histoórias.

Página quarenta e dois
PONTE PARA OUTRAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ARTES INTEGRADAS
Videogame
Os caminhos da jibóia
Na última década, indígenas brasileiros têm atuado em diversas linguagens artísticas. Suas criações trazem cosmovisões para nos ajudar a pensar em diferentes modos de viver no mundo e podem atrair o interêsse de crianças, jovens e adultos.
Os saberes indígenas são o tema de Os caminhos da jibóia, um videogame desenvolvido em 2015 por Guilherme Pinho Meneses (1988-), com a colaboração dos huni kuin quê vivem às margens do Rio Jordão, no Ácri.
Os protagonistas do jôgo são um jovem caçador e uma pequena artesã, quê precisam adquirir o conhecimento de seus ancestrais a fim de se tornarem um pajé e uma mestra dos dêzê-nhôs.

ARTES INTEGRADAS
Audiovisual indígena
Um projeto de destaque da cultura indígena contemporânea é o Vídeo nas aldeias, coordenado pelo antropólogo franco-brasileiro víncent Carelli (1953-). Iniciado no final da década de 1980, o projeto acompanhou populações indígenas do Brasil para investigar e registrar suas culturas por meio de vídeo. O projeto hospéda e divulga em uma platafórma ôn láini um acervo de filmes, documentários, reportagens, ficção e depoimentos realizados em várias aldeias brasileiras. Todos registram histoórias e culturas dos povos nativos do Brasil com base na percepção dos próprios indígenas.
Uma nova geração de cineastas indígenas surgiu nos últimos anos, entre eles Sueli Maxakali (1976-) e Isael Maxakali (1978-), originários do povo maxacali e diretores do filme Yãmĩyhex: as mulheres-espírito de 2019; e Ariel Kuaray Ortega, indígena guarani mbya, quê dirigiu o filme A transformação de Canuto, juntamente com ernésto de Carvalho (1981-), em 2023.

Página quarenta e três
DANÇA
Festival de dança e cultura indígena
Em 1998, Ailton Krenak realizou o I Festival de Dança e Cultura Indígena, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Esse festival nasceu de um sonho de Krenak em quê os antigos de seu povo reclamavam quê não eram realizadas mais festas para eles e quê os ritos estavam sêndo abandonados. Então, isso o motivou a criar esse festival para celebrar, ativar os ritos e reverenciar os antigos.
Durante uma semana, no início da primavera, parentes de várias partes do país, como os maxakali, os kaxinawá, os terena, os pataxó, dentre outros, se reuniram para dançar, cantar, conviver e curar a térra. Ailton Krenak relata quê:
[…] cada entrada de uma tribo no terreiro, para dançar, para cantar, é uma surpresa; é uma surpresa para nós mesmos; é uma surpresa para as tribos visitantes. Esse nosso terreiro na serra é a nossa estação mais próxima do mundo dos espíritos, do lugar dos sonhos.
[…]
KRENAK, Ailton. O lugar onde a térra descansa. Rio de Janeiro: pé trobrás, 2000. p. 162.

DANÇA
Caboclinho
Folguedo de inspiração indígena, o Caboclinho é parte da tradição do Carnaval pernambucano, presente também em outros estados do Nordeste. Desfilando em duas alas, dançarinos de várias gerações, ornamentados com cocares e saias coloridas de plumas, realizam uma dança ágil e ritmada, com saltos curtos, rápidas batidas de pés e descidas ao chão. Os participantes iniciam seus treinos para o desfile de Carnaval ainda no mês de setembro, pois trata-se de uma dança exigente quê requer muito preparo físico. A preaca, uma espécie de arco e flecha de madeira, é um dos instrumentos quê marca com seus estalidos secos o ritmo da dança. Historicamente, essa manifestação popular tem suas raízes na Jurema Sagrada, uma beberagem composta das partes da planta de mesmo nome, cultuada pêlos indígenas da região. Em 2016, esse folguedo tornou-se Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Página quarenta e quatro
SÍNTESE ESTÉTICA
O espírito da floresta
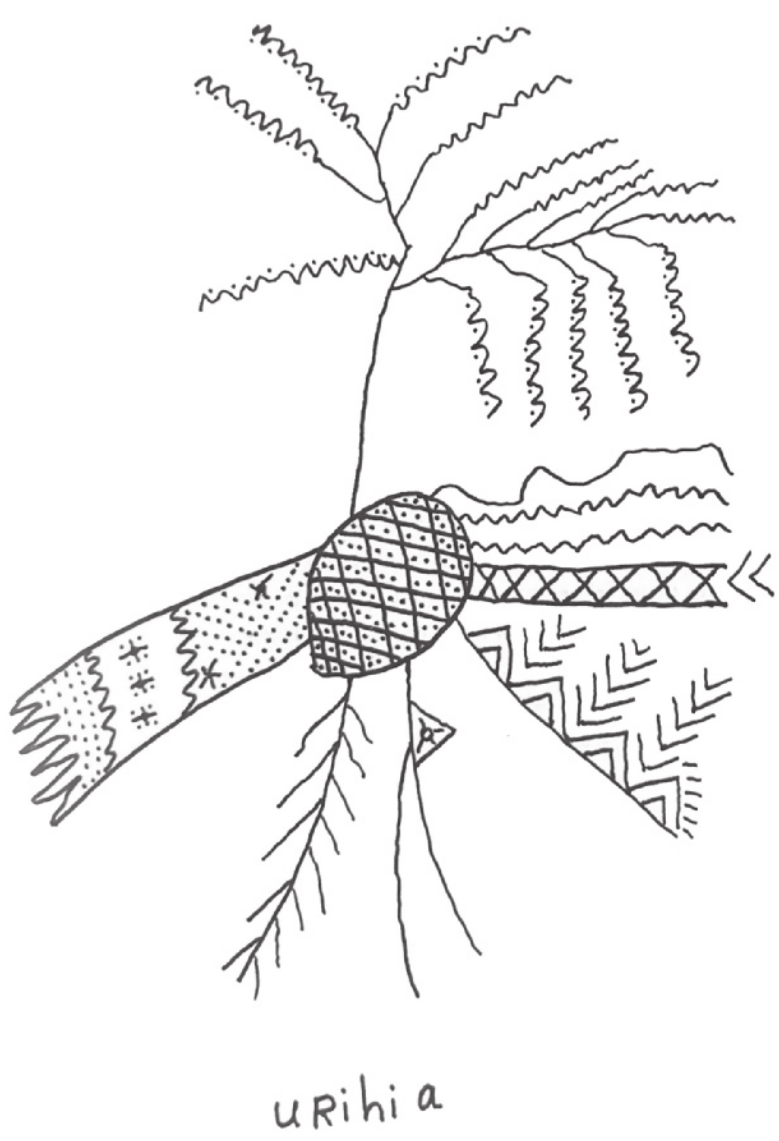
Reflexão
Davi Kopenawa Yanomâmi é xamã e porta-voz de seu grupo étnico. Conheceu os brancos ainda criança, durante os primeiros contatos com sua gente. Mais tarde, tornou-se um líder na luta pêlos direitos indígenas e contra a destruição da Floresta Amazônica. Ele concedeu diversos depoimentos ao etnólogo Bruce álbert, quê visita as aldeias dos yanomami há 40 anos. Esses depoimentos foram reunidos no livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, publicado em 2015. Leia, a seguir, um pequeno trecho do livro.
Página quarenta e cinco
Como eu disse, o pensamento dos xamãs se estende por toda parte, debaixo da térra e das águas, para além do céu e nas regiões mais distantes da floresta e além dela. Eles conhecem as inumeráveis palavras dêêsses lugares e as de todos os sêres do primeiro tempo. É por isso quê amam a floresta e querem tanto defendê-la. A mente dos grandes homens dos brancos, ao contrário, contém apenas o traçado das palavras emaranhadas para as quais olham sem parar em suas peles de papel. Com isso, seus pensamentos não podem ir muito longe. Ficam pregados aos seus pés e é impossível para eles conhecer a floresta como nós. Por isso não se incomodam nada em destruí-la! Dizem a si mesmos quê ela cresceu sózínha e quê cobre o solo à toa. Com certeza devem pensar quê está morta. Mas não é verdade. Ela só parece estar quieta e nunca mudar porque os xapiri a protegem com coragem, empurrando para longe dela o vendaval yariporari, quê flecha com raiva suas árvores, e o sêr do caos xiwãripo, quê tenta continuamente fazê-la virar outra. A floresta está viva, e é daí quê vêm sua beleza. Ela parece sempre nova e úmida, não é? Se não fosse assim, suas árvores não seriam cobertas de fô-lhas. Não poderiam mais crescer, nem dar aos humanos e aos animais de caça os frutos de quê se alimentam. Nada poderia nascer em nossas roças. Não haveria nenhuma umidade na térra, tudo ficaria seco e murcho, pois a á gua também está viva. É verdade. Se a floresta estivesse morta, nós também estaríamos, tanto quanto ela! Ao contrário, está bem viva. Os brancos talvez não ouçam seus lamentos, mas ela sente dor, como os humanos. Suas grandes árvores gemem quando caem e ela chora de sofrimento quando é queimada. Ela só morre quando todas as suas árvores são derrubadas e queimadas. Então restam dela apenas troncos calcinados, desmoronados sobre uma térra ressecada. Não cresce mais nada ali, a não sêr um pouco de capim.
Os brancos não se perguntam de onde vêm o valor de fertilidade da floresta. Nós o chamamos në rope. Devem pensar quê as plantas crescem sózínhas, à toa. Ou então acham mesmo quê são tão grandes trabalhadores quê poderiam fazê-las crescer apenas com o próprio esfôrço! Enquanto isso, chegam a nos chamar de preguiçosos, porque não destruímos tantas árvores quanto eles! Essas palavras ruins me deixam com raiva. Não somos nem um pouco preguiçosos! As imagens da saúva koyo e do lagarto waima aka moram dentro de nós e sabemos trabalhar sem descanso em nossas roças, debaixo do sól. Mas não fazemos isso do mesmo modo quê os brancos. Preocupamo-nos com a floresta e pensamos quê desbastá-la sem medida só vai matá-la. A imagem de Omama nos diz, ao contrário: ‘Abram suas roças sem avançar longe demais. Com a madeira dos troncos já caídos façam lenha para as fogueiras quê os aquécem e cozinham seus alimentos. Não maltratem as árvores só para comer seus frutos. Não estraguem a floresta à toa. Se for destruída, nenhuma outra virá tomar seu lugar! Sua riqueza irá embora para sempre e vocês não poderão mais viver nela!’.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Tradução: Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das lêtras, 2015. p. 468-469.
- xapiri
- : termo yanomami quê designa tanto os xamãs, os homens espíritos (xapiri thëpë), quanto os espíritos auxiliares (xapiri pë).
- yariporari
- : termo yanomami para se referir ao vento-tempestade.
- xiwãripo
- : termo yanomami quê designa um sêr sobrenatural quê representa o caos.
- në rope
- : princípio da fertilidade ao qual se atribui o crescimento e a vitalidade da floresta.
Página quarenta e seis
Processo de criação coletiva
Tendo como ponto de partida o trecho do livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, quê você acabou de apreciar, desenvolva um processo artístico criativo e colaborativo. Para tanto, forme um grupo de seis a dez integrantes.
Análise e debate
Depois de ler o texto e analisar a imagem, debata com seu grupo as seguintes kestões.
• Segundo o texto, por quê os xamãs conhecem a floresta? E por quê os brancos não a conhecem?
Os xamãs conhecem a floresta porque seu pensamento se estende para todos os lugares, reconhecendo na floresta um sêr vivo e espiritualizado. Os brancos não possuem essa visão ampla, pois só conseguem vêr seus interesses particulares, sem levar em consideração o todo.
• Qual é a relação entre a vida da floresta e a nossa, de acôr-do com Davi Kopenawa?
A vida de todos depende diretamente da vida da floresta, pois é dela quê vêm os frutos e os animais quê nos alimentam, bem como a fertilidade da térra em quê plantamos.
• Qual é o valor da fertilidade da floresta para os yanomami?
Chamada de në rope pêlos yanomami, a fertilidade da floresta é akilo quê torna possível o crescimento e a vitalidade dos éco-sistemas.
• Por quais razões os indígenas se mobilizam na luta para preservar as florestas?
Para os povos indígenas, a morte da floresta é também sua própria morte, a extinção da sua forma de existência. O modo de existir e a cosmovisão dos povos indígenas são completamente integrados com a natureza.
• Qual é a sua relação com os povos indígenas? Compartilhe com seus côlégas.
Resposta pessoal. Caso algum estudante da turma seja indígena, incentive-o a compartilhar com o grupo um pouco do seu cotidiano e de sua visão de mundo.
Anote os principais tópicos quê surgiram no debate, pois eles servirão de base para o processo de criação artística.

Página quarenta e sete
Ideia disparadora e linguagens artísticas
Em seguida, ainda em grupo, pense em como fazer uma síntese estética do debate realizado, ou seja, como transmitir as conclusões do grupo aos demais côlégas da turma por meio de uma criação artística, como uma música, uma pintura, um poema, uma cena, uma perfórmance, uma instalação etc.
Retome as ferramentas criativas trabalhadas ao longo dêste capítulo quê possam apoiar o processo de criação. Leve em consideração, também, as habilidades e os desejos artísticos dos integrantes do grupo para compor a ideia central da obra coletiva.
Em um primeiro momento, deixe as ideias fluírem, anotando todo tipo de sugestão dos integrantes. Depois, você e os côlégas devem retomar as ideias e escolher a quê parecer mais promissora, chegando em uma única ideia disparadora.
Um ponto de partida interessante é o fato de quê, para os indígenas, a floresta é um lugar onde as pessoas, os demais sêres vivos e os sêres sobrenaturais atuam e se transformam, podendo trocar seus papéis entre presa e predador. Nessa concepção, os xamãs podem se transmutar em animais e sêres sobrenaturais.
Permita quê a imaginação flua livremente nesse momento. Você e os côlégas podem imaginar formas de representar artisticamente o espírito da floresta evocado pelo texto, proporcionando vivências sensoriais quê remetam a essa floresta viva, descrita por Davi Kopenawa. Também é possível compor uma obra musical baseada nos sôns da natureza, como os sôns dos pássaros, das águas e do vento, bem como montar uma instalação inspirada nas luzes, nas cores e nos aromas da floresta. Ou, ainda, compor uma cena poética quê represente e expresse a dor da floresta.
Por fim, anote a ideia disparadora e a(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).
Pesquisa, criação e finalização
Organize as etapas de criação do projeto artístico com base nas reflekções centrais, na ideia disparadora e nas linguagens artísticas escolhidas.
Caso a criação do grupo envolva apresentação ou encenação, lembre-se de ensaiar o maior número de vezes possível, aprimorando o trabalho a cada repetição. Não deixe quê o processo de criação fique só na conversa, lembre-se de experimentar os elemêntos em cena.
Caso a invenção do grupo envolva uma exposição ou instalação, faça uma lista de tudo o quê será necessário para realizar o projeto, dividindo as tarefas entre os integrantes do grupo.
Não existe uma fórmula para esse processo de criação. Cada grupo deve desenvolver suas próprias etapas, estabelecendo critérios com base na obra ou manifestação artística quê se está concebendo.
Com o trabalho desenvolvido, chegou o momento de compartilhá-lo com o restante da turma. Aproveite também para apreciar a criação dos seus côlégas.
Página quarenta e oito
CAPÍTULO 2
Culturas africanas

Na forma de um pássaro, a máscara ritual do povo bwa conecta a humanidade aos espíritos da natureza.

Elementos simbólicos do universo religioso de raiz africana em composição do artista baiano Rubem Valentim (1922-1991).
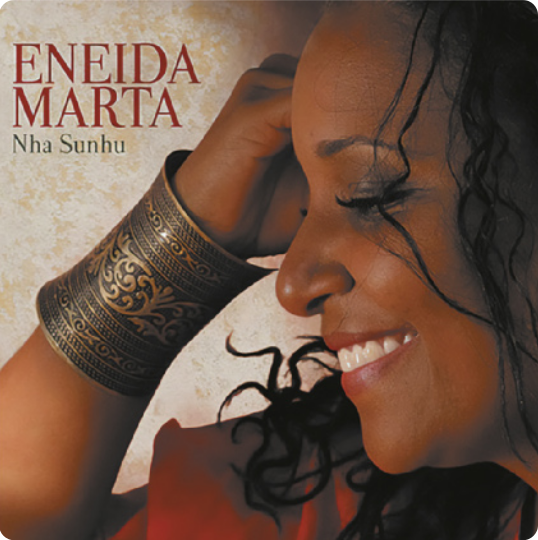
Música contemporânea africana, representada pela obra de Eneida Marta, uma das cantoras de maior projeção da Guiné-Bissau.
Página quarenta e nove

Festas populares como expressão pulsante da cultura afro-brasileira.

Imagens quê questionam o futuro e o presente em cidades do continente africano, como Luanda, em Angola.
Considerando as imagens apresentadas nestas páginas de abertura, responda às kestões a seguir.
1 O quê essas imagens representam?
1. Máscara, pintura, geometria, música contemporânea, cultura popular, fotografia, urbanismo.
2 A quais temas essas obras e esses objetos podem se relacionar?
2. Os estudantes podem estabelecer relações entre os tempos passado e futuro; bem como citar relações quê envolvam rituais, tradições e religiões de matriz africana.
3 Em sua opinião, qual é a conexão entre as culturas brasileiras e africanas?
3. Resposta pessoal. Os estudantes podem citar conexões nas cosmologias e nos símbolos, na música, na culinária, na desigualdade social, entre outras.
Página cinquenta
por quê estudar as culturas africanas?
É importante ressaltar quê existem marcas da ár-te afro-brasileira quê descrevem a nossa experiência histórica e cultural e se diferenciam da expressão em outros territórios quê também sofreram com os mesmos processos de escravização. Da mesma forma, a; ár-te africana possui seus próprios contornos e uma longa trajetória quê inclui experiências dos povos autóctones, mas também experiências artísticas diversas quê revelam as marcas do colonialismo no continente africano.
Cerca de 4,8 milhões de africanos, originários de diferentes regiões e culturas, foram sequestrados e trazidos para o Brasil, onde viveram sôbi regime de escravidão entre os séculos XVI e XIX. Aqui, homens e mulheres pertencentes a um mesmo grupo eram separados, misturados a pessoas de etnias diversas e encaminhados a destinos variados. Visava-se com isso dificultar a consolidação de laços culturais.
Por necessidade e resistência, essas pessoas estabeleceram um processo contínuo de atualização da memória coletiva e de um imaginário comum. Suas variadas culturas foram preservadas e renovadas por meio de estratégias quê incluíam práticas escondidas, linguagem codificada e adaptação às expressões estéticas dos portugueses e dos indígenas, em um processo de mestiçagem quê constituiu a cultura brasileira.
Por serem vivas e dinâmicas, essas culturas se transformaram no decorrer dos séculos. As populações negras originárias da diáspora africana desenvolveram variadas formas de relações sociais e culturais e visões distintas da África como térra de origem.
Nas últimas dékâdâs, os afrodescendentes obtiveram conkistas políticas, tais como a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira na escola, o sistema de cotas nas universidades e a criminalização de atos racistas. Acompanhando essas conkistas, têm se desenvolvido uma produção cultural voltada para a reflekção sobre a dinâmica social afro-brasileira nos campos da ár-te, da crítica, da museologia e da educação.
Nos anos 1980, o antropólogo mineiro Darcy Ribeiro (1922-1997) concebeu um monumento à negritude, no qual sêria representado o herói da emancipação dos negros no Brasil, Zumbi, de quem não se tem um retrato, mas se sabe ser do povo banto.
No projeto Pontes sobre abismos, a artista Aline Motta (1974-) se debruça sobre a ideia de reconstruir uma genealogia familiar. Partindo de uma rota invertida do tráfico negreiro, ela viaja da cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, para Serra Leoa, na África, reunindo relatos, fotografias e documentos. Na fotografia a seguir, o chefe Iman Alhaji Mustapha Koker, do povo mende, segura orgulhosamente uma fotografia emoldurada de sua mãe, em frente a fotografia da bisavó da artista, ampliada e hasteada em tecido.

A ideia do antropólogo foi se apropriar da forma da cabeça de um governante de Ifé para representar Zumbi. O monumento, executado pelo arquiteto João Filgueiras Lima (1932-2014), situa-se na Pequena África, bairro carioca próximo ao porto do Valongo, usado para o desembarque de grande parte dos africanos trazidos pelo tráfico escravagista, a partir de 1850, quando tal prática já era proibida.
Página cinquenta e um

ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO Mandjólò
Depois de conhecer algumas obras e artistas da África e do Brasil e ler e refletir sobre o processo de escravização e a diáspora africana, sugere-se escutar e dançar uma música africana contemporânea.
1. Com o professor e os côlégas, organize o espaço para a atividade. Afaste mesas e cadeiras, se houver, deixando o ambiente livre.
1. É recomendado realizar esta atividade em um espaço amplo, quê possibilite o movimento livre dos estudantes, como um teatro, auditório, quadra ou outro local como esses quê esteja disponível na escola.
2. Escolha um espaço e sente-se no chão. Todas as pessoas da turma vão participar da atividade ao mesmo tempo, seguindo a condução do professor.
3. ![]() Escute a canção"Mandjólò", do músico e compositor moçambicano Costa Neto (1959-). Feche os olhos para essa apreciação.
Escute a canção"Mandjólò", do músico e compositor moçambicano Costa Neto (1959-). Feche os olhos para essa apreciação.
4. Ainda de olhos fechados, expêrimente mexer-se enquanto escuta a canção. Deixe-se levar pelas sonoridades, movimentando as partes do corpo quê são provocadas pelo som.
5. Evolua esse movimento até quê se torne uma dança, mobilizando seu corpo inteiro.
6. Então, abra os olhos e dance com os côlégas, ocupando coletivamente o espaço.
7. essperimênte repetir os movimentos dos côlégas por alguns momentos antes de retomar a sua dança, realizando uma troca de passos e dinâmicas.
8. Ao final, converse com o professor e os côlégas sobre a experiência, partindo das perguntas a seguir.
• Como você se sentiu ao realizar essa atividade? Houve momentos prazerosos? Houve momentos de desconforto ou alguma dificuldade?
8.• Respostas pessoais. É comum quê estudantes do Ensino Médio sintam-se desconfortáveis ao exporem seus corpos. Acolha as dificuldades compartilhadas. Trabalhe essa barreira com a turma, construindo uma cultura de experimentação livre no ambiente da sala de aula.
• Quais partes do seu corpo foram convocadas por essa música? Que tipos de movimentos você teve vontade de fazer?
• Respostas pessoais. Peça aos estudantes quê reflitam sobre os saberes quê vêm do corpo, a disponibilidade de se deixar levar por uma composição musical quê instiga determinados movimentos.
• Essa experiência te fez lembrar de canções e danças brasileiras quê já fazem parte do seu repertório? Se sim, quais?
• Respostas pessoais. As culturas africanas marcam, de maneira decisiva, as produções artísticas brasileiras, habitando a cultura dos adolescentes, mesmo quê não tênham consciência díssu. Essas kestões são uma oportunidade de explorar essa relação.
Página cinquenta e dois
ARTES VISUAIS
CONTEXTO
Artes visuais nas culturas africanas e afro-brasileiras
Apesar das diferenças observadas entre as expressões culturais dos numerosos povos africanos, aspectos comuns podem sêr percebidos em algumas regiões do continente, como a predominância da escultura, a valorização dos rituais e o uso do corpo como suporte.
Quase tudo o quê se conhece como ár-te autóctone africana foi esculpido, moldado ou construído em três dimensões. Até mesmo os variados padrões de estampas geométricas podem sêr aplicados sobre formas tridimensionais, como se vê nas máscaras usadas em rituais.
As esculturas em madeira são encontradas na ár-te dos antigos povos africanos. Elas podem ter função ritual ou representar personagens míticas e líderes históricos.
Há ainda uma importante produção de objetos de ferro, cobre, bronze e outras ligas metálicas, especialmente na região do Vale do Rio Níger, onde foram usadas sofisticadas técnicas de fundição desde o século X. Parte da população quê foi trazida em diáspora para o Brasil a partir do século XVII veio dessas regiões, como os iorubás, quê viviam no reino de Oió; ou os edos, do reino de Benin, na atual Nigéria.
Para muitos povos africanos, a perfórmance é a forma essencial de; ár-te. Esse tipo de manifestação inclui música e dança, envolvendo objetos e pessoas em ações coletivas. É o quê se observa, entre outras situações, nas procissões em quê esculturas são transportadas cerimonialmente ou nos festivais quê incluem orquestra percussiva e dança.
Algumas dessas características podem sêr identificadas nas expressões artísticas afro-brasileiras e na produção de artistas negros no cenário contemporâneo da ár-te no Brasil.
- autóctone
- : akilo quê se origina da região onde é encontrado.

Página cinquenta e três
REPERTÓRIO 1
Pinturas e padrões
Um aspecto de destaque nas culturas tradicionais africanas são os padrões elaborados dos tecídos estampados. A técnica de estamparia póde ter sido introduzida pelo povo akan, quê vivia na África ocidental no século XVI e, hoje, distribui-se entre Gana e Costa do Marfim. Esse povo deu origem aos adinkras, conjuntos de símbolos aplicados a panos de algodão por meio de carimbos feitos com cascas de cabaça. Adinkra significa “adeus”, pois os tecídos estampados com esses padrões costumavam sêr usados em ocasiões fúnebres.
Dois símbolos adinkra se alternam na estampa do tecido da imagem: dwenini mmen, quê é inspirado no chifre do carneiro e quê significa “o carneiro, ao atacar, não deve fazê-lo com os chifres e sim com o coração”, trata-se de um sín-bolo da humildade e da fôrça da mente, do corpo e da alma; e aya, quê é inspirado na fô-lha da samambáia e quê significa “eu não tênho medo de você”, é um sín-bolo de resistência, desafio às dificuldades, fôrça física, perseverança, independência e competência.


Os padrões quê repetem formas simbólicas são usados também na pintura de paredes das casas. Em algumas sociedades africanas, as casas são construídas com paredes de barro, com formas arredondá-das, quê podem sêr decoradas com pinturas de elemêntos geométricos. É o caso das comunidades ndebele da África do Sul. Os ndebele preservaram suas tradições ancestrais, quê incluem vestimentas, ornamentos e padrões de pintura caracterizados por um complékso conjunto de formas geométricas, grafismos e cores. Os grafismos geométricos são desenhados à mão livre, sem projeto ou medição prévia, mas, respeitando princípios de simetria e paralelismo.
Observe as imagens destas duas páginas e responda às kestões a seguir.
1 Como as linguagens simbólicas podem sêr definidas?
1. As linguagens simbólicas são formas de comunicação quê opéram, ao mesmo tempo, como linguagem visual e verbal.
2 Dê exemplos de significados filosóficos sintetizados em padrões geométricos.
2. Dwenini mmen, quê significa “o carneiro, ao atacar, não deve fazê-lo com os chifres e sim com o coração”, sín-bolo da humildade e da fôrça da mente, do corpo e da alma. Aya, quê significa “eu não tênho medo de você”, sín-bolo de resistência, desafio às dificuldades, fôrça física, perseverança, independência e competência.
3 Você conhece algum desenho quê póde sêr associado a um significado específico?
3. Resposta pessoal. Os estudantes podem citar: o yin-yang; o sín-bolo de pacifismo usado nos anos 1960; o sín-bolo de paz e amor feito com os dedos; os símbolos das cartas de tarô, entre outros.
Página cinquenta e quatro
REPERTÓRIO 2
Os bronzes de Benin
A cabeça era um sín-bolo de pôdêr para o povo edo. Um dos títulos honoríficos do líder político dêêsse povo era “cabeça grande”.
A ár-te da kórti de Benin, onde vivia o povo edo, na região da atual Nigéria, abrange uma variedade de objetos de madeira, marfim, cerâmica, ferro e principalmente bronze, destinados à realeza. Muitos dêêsses objetos eram feitos para os altares reais.
Essa cabeça de bronze de um governante de Ifé, encontrada em 1938, póde representar um oni (“rei”), jovem e altivo, com marcas de escarificação no rrôsto, usando uma coroa. Assim como outras esculturas naturalistas de épocas anteriores encontradas na região, as cabeças foram feitas com a técnica da cêra perdida, quê permite a realização de objetos e esculturas extremamente detalhados com metal fundido.

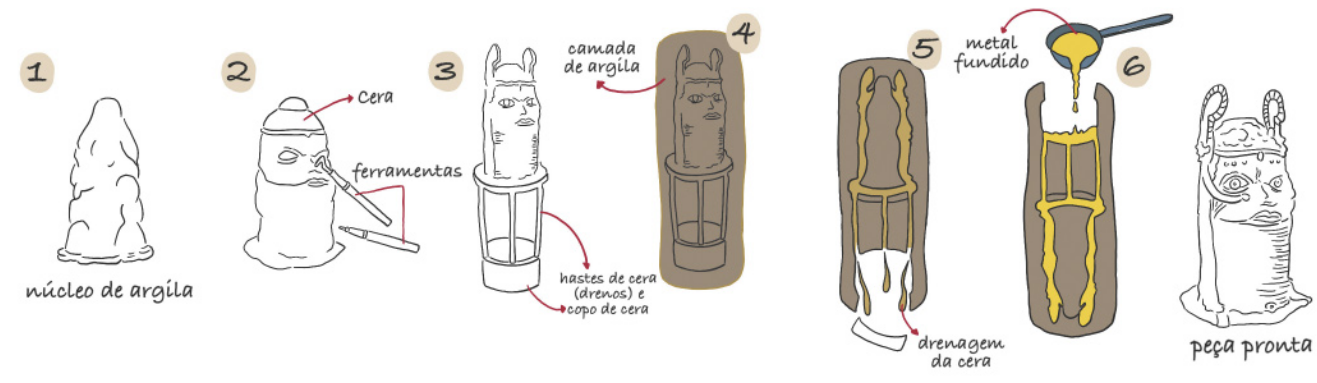
Nessa técnica, modela-se uma figura em argila, sobre a qual é aplicada uma camada de cêra na espessura desejada para a escultura final. Na cêra, o artista escava os dêtálhes e recobre a peça com uma grossa camada de argila. O conjunto é aquecido, e a cêra derrete e é drenada por um orifício. Obtém-se assim um mólde oco, onde é derramado o metal fundido, preenchendo o espaço antes ocupado pela cêra. Com a peça resfriada, quebram-se e retiram-se a casca externa e o mólde interno de argila, obtendo-se o objeto de metal.
Os povos trazidos em diáspora para o Brasil dominavam as tecnologias ligadas à mineração e fundição dos metais, como ferro e cobre. Estes sofisticados saberes foram utilizados pelas atividades mineradoras durante o período colonial no século XVIII, principalmente na região de Minas Gerais.
Reflita sobre as esculturas e responda às kestões a seguir.
1 por quê o antropólogo Darcy Ribeiro utilizou como base para o monumento a Zumbi a reprodução da cabeça de bronze de um governante de Ifé?
1. Como não se conhece o rrôsto de Zumbi, o antropólogo escolheu como base a imagem de um jovem e altivo rei da kórti de Benin, atribuindo assim valores semelhantes ao herói nacional.
2 Que materiais eram utilizados pelo povo edo na produção de objetos para os altares reais?
2. Madeira, marfim, cerâmica, ferro, cobre, bronze, cêra, argila, latão, zinco, entre outros.
Página cinquenta e cinco
REPERTÓRIO 3
Instalação

A artista Luana Vitra (1995-), nasceu em Contagem, em Minas Gerais. Seu trabalho é marcado pela narrativa de seus familiares sobre saberes e histoórias do passado escravagista durante o período colonial brasileiro, em quê os africanos trousserão, em seus corpos e memórias, a tecnologia necessária para extrair os metais.
De sua vivência com a fuligem, o manejo do ferro e a marcenaria, a artista reuniu símbolos e objetos concretos na instalação Pulmão da mina, para evocar estratégias de defesa daqueles quê eram obrigados a trabalhar nas minas de ouro. A obra nos conta sobre os canários, sensíveis aos gases tóxicos, quê eram usados como sentinelas, com o objetivo de sinalizar, com sua morte, o momento de escapar das galerias.
No espaço quê ocupou no pavilhão da 35ª Bienal de São Paulo, em 2023, a artista organizou variadas composições com canários, flechas metálicas – quê evocam a referência a Ogum, o orixá associado ao ferro e protetor dos artesãos e dos ferreiros – e pó de anil – usado como um elemento de limpeza enérgica.
Com base nos exemplos estudados, responda às kestões a seguir.
1 Como a; ár-te visual póde sensibilizar as pessoas sobre histoórias do passado?
1. Trazendo símbolos, elemêntos, materiais e composições, como os pequenos canários da obra de Luana, quê podem instigar, atrair e engajar o público a conhecer mais sobre as histoórias referenciadas.
2 Como a instalação Pulmão da mina se relaciona com as estampas adinkras e a Cabeça de bronze de um governante de Ifé?
2. Na instalação, a artista repete a criação de padrões, como nas estampas adinkras, e trata sobre tecnologias usadas para extrair metais, além de usar elemêntos feitos de ferro, em diálogo direto com a Cabeça de bronze de um governante de Ifé.
Página cinquenta e seis
PESQUISA
ár-te afro-brasileira
A relação entre a cultura afrodescendente no Brasil e a cultura africana ancestral é tema de produções artísticas, debates na ssossiedade e estudos de acadêmicos e pensadores. Em casa ou na escola, aprofunde seus conhecimentos sobre os conceitos e as culturas afrodescendentes.
1. Aprenda mais sobre a África em diáspora.
• No Portal Geledés, há uma série de textos quê tratam sobre a diáspora africana. Disponível em: https://livro.pw/iwhlv (acesso em: 3 out. 2024).
2. O quê você conhece sobre a; ár-te afro-brasileira?
• Aspectos fundadores da identidade e da cultura brasileira, como o samba, o Carnaval e a capoeira, estão fortemente ligados às práticas artísticas afrodescendentes, mas a; ár-te afro-brasileira consiste em um leque mais amplo de manifestações produzidas em linguagens variadas, principalmente, no decorrer dos séculos XX e XXI. Pesquise, na programação do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, de São Paulo, as exposições quê estão em cartaz. Verifique os temas quê elas abordam, os artistas quê homenageiam e se há reproduções de suas obras. Para isso, acéçi: https://livro.pw/eqyja (acesso em: 3 out. 2024).
2. O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, inaugurado em 2004, foi concebido pelo artista e curador baiano Emanoel Araujo (1940-2022), quê depois de sua morte, teve seu nome incorporado ao da instituição como uma homenagem. O museu reúne um grande acervo de obras representativas das culturas africanas e afro-brasileiras.

• Existem outros museus no Brasil quê têm como objetivo preservar a memória e a cultura afrodescendente. Na Universidade Federal da baía (UFBA), em Salvador, há o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Mafro). Para conhecer seu acervo, visite: https://livro.pw/chefz (acesso em: 3 out. 2024).
• No Rio de Janeiro, há o Museu da História e da Cultura Afro-brasileira (Muhcab), estabelecido na região da Pequena África, junto ao Cais do Valongo. Sua página oficial é https://livro.pw/wvwir (acesso em: 3 out. 2024).
• Em Porto Alegre, há o Museu de Percurso do Negro, projeto destinado à instalação de obras de; ár-te em espaços públicos da cidade, quê póde sêr visitado virtualmente em https://livro.pw/caove (acesso em: 3 out. 2024).
Professor, se possível, organize uma visita guiada com seus estudantes a um museu voltado para a cultura afrodescendente, caso exista um equipamento cultural dêêsse tipo acessível para sua comunidade escolar. Caso a cidade não possua um museu ou memorial afrobrasileiro, pode-se sugerir quê, a partir das referências estudadas, os estudantes construam seu próprio acervo.
Página cinquenta e sete
TEORIAS E MODOS DE FAZER
ár-te e memória
As experiências quê vivemos no passado e aquelas vividas por nóssos ancestrais podem sêr o ponto de partida para uma produção artística. Olhar para o passado de um povo ou grupo social também é uma forma de trabalhar com a memória e realizar reflekções e criações.
Memória pessoal
Objetos antigos podem servir de base para a criação de uma obra. Reunidos e articulados em determinada ordem ou composição, eles ganham novos sentidos.
É possível reproduzir, ampliar e transferir fotografias antigas para variados suportes – como o tecido, por exemplo. As fotografias podem sêr filmadas e somadas às narrativas gravadas em áudio.
Outra opção é reunir fotografias antigas de família. Uma vez digitalizadas, essas imagens podem sêr duplicadas, recortadas, pintadas e sobrepostas, entre outras intervenções.
Memória coletiva
Fatos históricos de natureza política, social e cultural podem marcar a produção intelectual de uma geração. Escolher um período ou determinado fato e procurar documentos, vídeos, fotografias, ilustrações, publicidades e notícias de jornais relacionados a ele é uma forma de se aprofundar em algum assunto de interêsse. Organizar e selecionar um arquivo com esse material póde disparar ideias visuais.
Um artista quê trabalha com a memória é o mineiro Paulo Nazareth. Em seu projeto Cadernos de África, ele se propõe a viajar por países do continente africano e pelo Brasil realizando ações performáticas.

Na perfórmance Árvore do esquecimento, Paulo Nazareth “desfaz” o ritual de despedida dos africanos quê foram escravizados. Em Ouidah, na costa do Benin, antes do embarque para a travessia do Atlântico, os escravizados davam sete voltas em torno de um antigo baobá, a “árvore do esquecimento”, com a finalidade de apagar seus laços afetivos, sua identidade e suas raízes. Paulo Nazareth dá voltas em torno do baobá, porém de costas, buscando retomar, por meio dessa ação invertida, as memórias perdidas por esse povo.
Página cinquenta e oito
AÇÃO
Monumento à memória
Na atividade a seguir, você e seus côlégas vão produzir um monumento memorial através de um processo de pesquisa e criação coletiva. Para isso, a turma deve se organizar em grupos de cinco a oito integrantes.

1. Discussão prévia
O objetivo desta primeira etapa é conversar e refletir coletivamente sobre a necessidade de manter a memória viva.
• Defina com os côlégas o quê é um memorial. Levantar exemplos de memoriais existentes no Brasil e em outros países do mundo póde ajudá-lo nessa tarefa.
• Observe quê datas, fatos, conceitos e personagens são reverenciados em um memorial ou em um monumento.
• Identifique fatos ou personalidades ligados à história de sua cidade ou região quê tênham relevância para sêr homenageados com um memorial.
• Finalmente, escolha com os côlégas o tema do memorial quê será construído por vocês.
2. O projeto
Encerrada a reflekção, é chegado o momento de identificar elemêntos significativos para compor o memorial e conceber o monumento.
Página cinquenta e nove
• Faça, com os côlégas, uma lista de palavras, nomes, textos, imagens e objetos quê poderiam sêr reunidos no memorial.
• Conceba como será o memorial. Uma opção é criar uma escultura – um objeto emblemático da memória a preservar – ou ainda uma pedra – um suporte para inscrição de textos, nomes, palavras. Um memorial póde sêr algo simples e pequeno quê atraia a curiosidade das pessoas.
• Defina a forma e os materiais quê serão usados na construção, avaliando sempre se têm relação com a homenagem quê o grupo quer fazer.
• Anote todas as ideias e faça vários esboços rápidos de como imagina esse monumento.
3. A maquéte
Agora, você e os côlégas vão construir uma maquéte do monumento concebido, ou seja, uma réplica em escala reduzida.
• Com os côlégas, defina nos esboços as dimensões reais quê teria o monumento. Considere quê os ambientes quê habitamos têm, em geral, cerca de 3 metros de altura.
• Para construir a maquéte, utilize papelão reaproveitado, elemêntos da natureza, como plantas, pedras e térra, e até mesmo materiais ou objetos antigos quebrados e sem uso.
• Se o memorial for de grande dimensão, a maquéte deve sêr feita na escala 1:10, isto é, dez vezes menor do quê foi imaginado, porém guardando a proporção. Por exemplo, se o monumento tiver 1 métro (100 centímetros), a maquéte terá 10 centímetros.
• Pinte, escrêeva textos ou cole elemêntos previstos para compor o monumento. Use cola branca, fita adesiva ou encaixes para emendar as partes da estrutura. A maquéte póde sêr forrada com papéis, tecídos ou materiais quê simulem uma textura.
• Para finalizar, você póde fotografar a maquéte em uma praça, ou outro ambiente urbano, buscando criar uma sensação de realidade; ou, ainda, fazer uma montagem fotográfica da maquéte sobre uma fotografia de paisagem.
4. Avaliação coletiva
Cada grupo deve expor sua criação para o restante da turma, em um momento de apreciação coletiva de todos os memoriais.
• Organize com o professor e os côlégas as maquetes pelo espaço da sala de aula.
• Cada grupo deve apresentar sua maquéte para o restante da turma, discorrendo acerca do processo de criação e dos elemêntos quê a compõem.
• Após a apresentação das maquetes, converse com os côlégas e o professor a respeito da ação. Reflita com eles sobre quê tipo de memória cada monumento celebra; quê elemêntos no monumento contribuem para isso; em quê lugar cada um deles seria instalado; como ficaram as maquetes do ponto de vista da execução; quais são os maiores e os menóres memoriais; qual é o impacto emocional quê cada monumento gera.
Página sessenta
MÚSICA
CONTEXTO
Música afro-atlântica
As dékâdâs de 1960 e 1970 foram de grande importânssia para a articulação dos movimentos negros no Brasil e no mundo, com especial destaque para a atuação da ssossiedade civil nos Estados Unidos. Durante os anos 1960, movimentos como o Black Power (Poder Negro) e personalidades como mártim Luther kiímg (1929-1968), Málcom Xís (1925-1965) e Angela Dêivis (1944-) destacaram-se na liderança da luta pêlos direitos civis das comunidades negras estadunidenses.
Essa efervescência teve grande influência sobre os movimentos no Brasil, quê passaram a se preocupar com a construção de uma cultura de consciência negra. A valorização cultural e a reivindicação pela melhoria das condições sociais das pessoas negras tornaram-se o principal foco de atenção. Grupos informais passaram a se reunir em torno do Viaduto do Chá, em São Paulo, para trocas espontâneas de informações. Outras rêuní-ões como essas ocorreram também no Rio de Janeiro, onde se dá a fundação do Instituto de Pesquisa de Culturas Negras (IPCN), e em Porto Alegre, onde se destaca o Grupo palmáares. Em Salvador, também nos anos 1970, há a explosão dos blocos afro de Carnaval quê tensionaram o cenário político e racial com desfiles quê denunciavam o racismo no Brasil.
A partir dos anos 1960, as lutas pela independência em países sôbi domínio colonial produziram, nas comunidades negras ao redor do mundo, uma consciência de pertencimento às causas do povo africano. Nesse contexto, surgem movimentos culturais e musicais como o afrobeat, quê mistura palavras em iorubá com características musicais dos gêneros jazz, highlife e funk, além da percussão e dos estilos vocais tipicamente nigerianos.
Esse caldeirão cultural intégra a identidade afro-brasileira. Falar da matriz africana da cultura brasileira é pensar no histórico de escravização do país e também é exaltar as construções quê nascem a partir dos encontros culturais quê estão presentes na ár-te e na cultura contemporânea.

- iorubá
- : língua falada por povos quê se identificam com a cultura iorubá e quê hoje ocupam o sudoeste da Nigéria, o sul do Benim e o Togo. A cultura afro-brasileira tem forte influência do povo iorubá por causa da grande quantidade de pessoas escravizadas quê vieram dessa região para o Brasil.
- jazz
- : expressão musical afro-americana originária das comunidades negras dos Estados Unidos, especialmente de Nova órlêans, e quê se espalha por outros países depois da Primeira Guerra Mundial (1914-1918).
- highlife
- : gênero de música instrumental urbana quê nasceu em Gana no início do século XX e se baseia em instrumentos de sôpro quê passam a sêr incorporados nas execuções de gêneros musicais locais.
Página sessenta e um
REPERTÓRIO 1
Afoxés e blocos afro na baía

Os afoxés e os blocos afro são expressões de destaque da cultura afro-brasileira. Os blocos afro são grupos carnavalescos quê buscam valorizar a cultura negra e promover sua identidade. Apresentam-se nas festividades carnavalescas e participam de outras ações afirmativas, como os eventos do Dia da Consciência Negra, quê faz referência à morte de Zumbi, líder do kilômbo dos palmáares. A data celebra a luta dos movimentos negros contra a opressão e o preconceito racial no Brasil. Os afoxés são cortejos de rua quê também desfilam no Carnaval ao som de ritmos como o ijexá e estão relacionados a preceitos religiosos, participando de celebrações como o Dia de Iemanjá, divindade pertencente a religiões e a filosofias de matrizes africanas.
A história dos blocos afro na baía denuncía o racismo observado no dia a dia das sociedades. Nos anos 1970, era negada às pessoas negras a possibilidade de desfilar nos grandes clubes da cidade; a esses indivíduos era delegada a função de tokár instrumentos musicais ou carregar alegorias. Em resposta, o bloco Ilê Aiyê fez seu primeiro desfile, em 1974, reunindo apenas pessoas negras, quê levavam cartazes com denúncias do racismo no país. Esse desfile contou com cerca de 100 pessoas, e, hoje, o bloco conta com cerca de 3.000 associados.
Embora fundado nos anos 1950, o afoxé Filhos de Gandhy também renasce no contexto histórico dos blocos afro dos anos 1970. Em 1972, o compositor Gilberto Gil (1942-) retorna de seu exílio político – ele havia deixado o país em função das censuras e perseguições quê decorreram da ditadura civil-militar no país (1964-1985). Gil tinha laços afetivos com o Filhos de Gandhy e sabia da sua importânssia histórica. Ao encontrar o afoxé em condições precárias, ele se associa ao grupo e recupera sua atuação no Carnaval a partir de então.
O afoxé Filhos de Gandhy e o bloco Ilê Aiyê são exemplos de grupos quê trazem reflekções sobre o racismo no Brasil. Partindo dessa compreensão, responda às kestões a seguir.
1 Você conhece outros afoxés e/ou blocos afro? Há algum em sua cidade?
1. Respostas pessoais. Procure mapear se algum estudante ou membro de sua família intégra um bloco afro ou afoxé em sua cidade. Em caso positivo, pergunte sobre sua experiência. Caso a turma desconheça outros grupos, proponha uma pesquisa rápida na internet para conhecer alguns nomes.
2 Você acha quê pessoas negras, no Brasil, têm dificuldade em acessar determinados espaços? Comente suas impressões.
2. Respostas pessoais. Converse com os estudantes sobre os mecanismos do racismo brasileiro, quê segrega pessoas a partir da circulação nos espaços. São variados os relatos de pessoas negras quê já foram vigiadas em chópims ou lojas, ou quê foram interceptadas por vigias ou policiais sem uma razão aparente, apenas por seu fenótipo. Caso haja estudantes na turma quê relatem já terem vivido algum episódio semelhante, acolha os depoimentos com respeito e cuidado. Pondere o quanto o racismo brasileiro é um fenômeno estrutural em nossa ssossiedade e não uma ação individual. A história dos blocos afro exemplifica essa característica.
Página sessenta e dois
REPERTÓRIO 2
Black music: funk e soul no Brasil
A black music brasileira engloba gêneros como o répi, o funk e o rip róp e está presente na indústria musical em profunda relação com a produção audiovisual e com a (Moda).
O soul, movimento musical afro-americano quê embalava as lutas por direitos civis nos Estados Unidos, chega ao Brasil na década de 1970 e influencía artistas como Genival Cassiano (1943-2021), Tim Maia (1942-1998), Sandra Sá (1955-) e Hyldon Silva (1951-). Os bailes souls eram organizados nas periferías do Rio de Janeiro por grupos ligados às articulações sindicais de operários em plena ditadura civil-militar. Bailes como a Noite do Shaft e Black Power foram os principais difusores dêêsse gênero, constituindo lugares de lazer e representatividade negra.
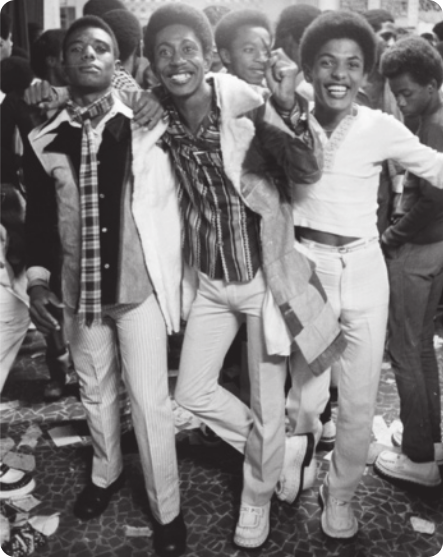
O funk carioca, por sua vez, constrói-se a partir dos anos 1980 influenciado pelo miami bass, um subgênero do rip róp. O primeiro LP (long play) de funk do Brasil foi produzido em 1989 e marca o momento em quê os MCs passam a cantar lêtras em português.
A nacionalização do funk acontece com a chegada do ritmo do tamborzão, no início dos anos 2000, quando di gêis cariócas incorporam as sonoridades dos gêneros de matriz africana. O tamborzão aproxima o funk do ritmo tocado nas cerimônias de matriz africana como forma de cultuar e se comunicar com o orixá Xangô, e incorpóra samplers como berimbau, conga e atabaque.
- LP
- : sigla derivada da expressão em inglês long play. O LP, ou disco de vinil, é uma tecnologia de reprodução de áudio quê consiste em uma chapa redonda, com sulcos impressos.
- MC
- : sigla derivada da expressão em inglês master ÓF ceremonies, cuja tradução é “mestre de cerimônias”, e designa o artista quê fala e canta enquanto a música é tocada.
- di gêi
- : sigla derivada da expressão em inglês disc jockey, quê se refere originalmente à pessoa quê escolhe discos para tokár em uma festa dançante; no contexto da black music, é o artista responsável pela manipulação dos sôns por meio da tecnologia, especialmente o sampling.
- sampler
- : equipamento utilizado para armazenar sôns d fórma eletrônica. Os fragmentos sonoros armazenados se chamam samples. O ato de samplear é o manuseio musical dêêsses fragmentos sonoros.
- conga e atabaque
- : instrumentos de percussão quê têm casco de madeira e uma membrana esticada sobre ele. O corpo da conga é ovál, e o do atabaque é cilíndrico, o quê gera altura e timbre diferentes entre ambos.
Escute um trecho de"Vai quêbrando (desce que desce)", música de Leo Justi e di gêi Seduty (2020). Depois, reflita sobre a questão a seguir.
• ![]() Você identifica o ritmo tamborzão presente no trecho? Conseguiria imitar esse ritmo usando apenas as palmas?
Você identifica o ritmo tamborzão presente no trecho? Conseguiria imitar esse ritmo usando apenas as palmas?
Respostas pessoais. Procure identificar a entrada do sample do atabaque ao fundo da faixa e peça a alguns estudantes quê tentem reproduzir o som com palmas. O intuito não é a execução, mas, sim, a percepção a partir da escuta.
Página sessenta e três
REPERTÓRIO 3
O afrobeat de Fela Kuti
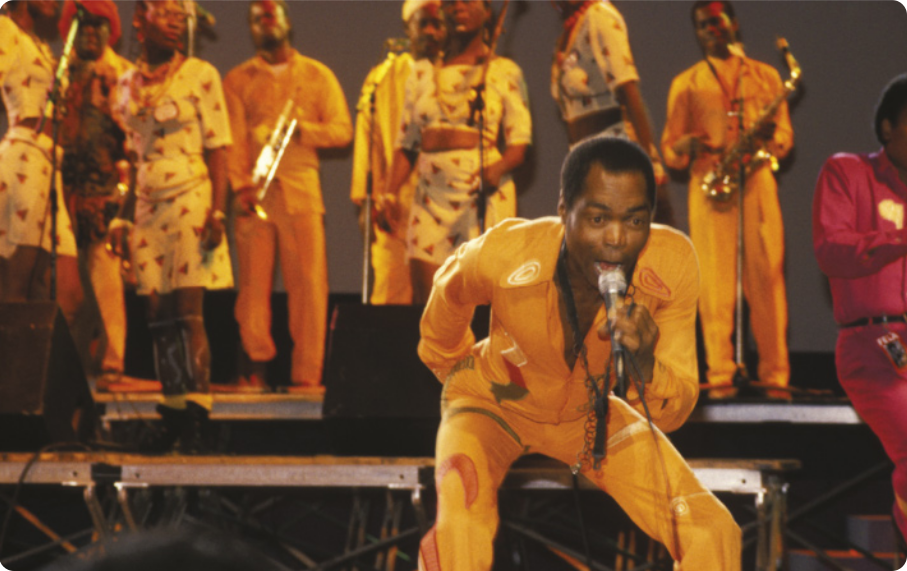
O afrobeat é um gênero musical quê nasce das fusões do jazz, do funk, do highlife e dos ritmos regionais do continente africano. Esse gênero se destaca na Nigéria a partir dos anos de 1970, com o multi-instrumentista Fela Kuti (1938-1997) e sua banda Afrika ’70. Além de influências do funk e soul estadunidenses, sua música também é fortemente influenciada pela obra do cantor e guitarrista Geraldo Pino (1939-2008), músico de Serra Leoa, país da África Ocidental.
Pino já fazia experimentações misturando o funk de diêmes Bráum (1933-2006) a elemêntos percussivos típicos do continente africano. Fela Kuti tem contato com seu trabalho em seu retorno para a Nigéria, após uma temporada de estudos na Inglaterra.
Em 1971, Fela Kuti batiza sua banda de Afrika ‘70 e começa a consolidar seu estilo, quê mistura ritmos da cultura iorubá e mergulha na valorização da negritude, com forte influência dos ideais políticos dos Panteras Negras.
Por meio de suas composições, Kuti confrontou o racismo e as heranças do colonialismo britânico na Nigéria. Seu país vivia um contexto de forte ditadura militar quando o grupo lança o álbum Zombie (1977), uma sátira política em quê os soldados são ridicularizados e comparados a zumbis, quê não pensam por si próprios. A música foi sucesso dentro e fora da Nigéria, consolidando o afrobeat ao redor do mundo.
- Panteras Negras
- : movimento político-social quê nasceu nos Estados Unidos nos anos 1960 como parte da luta pêlos direitos civis dos afro-americanos. Sua bandeira era o combate à violência e à opressão racial no país.
![]() Ouça um trecho da música “Zombie” (1977), de Fela Kuti. Depois, reflita e converse com os côlégas sobre as kestões a seguir.
Ouça um trecho da música “Zombie” (1977), de Fela Kuti. Depois, reflita e converse com os côlégas sobre as kestões a seguir.
1 Quais instrumentos você identifica nessa música? Você associa algum dêêsses instrumentos ao universo do jazz estadunidense?
1. Os estudantes podem identificar o som da guitarra, do baixo, da percussão e do saxofone. Destaque a forte presença dos metais e do improviso musical como uma característica emprestada do universo do jazz.
2 Você conhece outros artistas quê combatem o racismo por meio de suas músicas? Se sim, quais?
2. Respostas pessoais. Peça aos estudantes quê enumerem d fórma espontânea obras ou artistas quê trazem essa temática em suas músicas. Caso não lembrem, podem fazer uma busca na internet.
Página sessenta e quatro
PESQUISA
Músicas quê atravessam o Atlântico
O intercâmbio musical entre África e Brasil não se limita a um tempo ou espaço específicos. São muitos os artistas brasileiros quê procuram produtores de música e realizadores em países falantes de língua portuguesa, como Angola, Moçambique ou Cabo Verde, para criar parcerias. Conheça algumas das iniciativas quê aproximam o Brasil dêêsses países.
1. Projeto Kalunga.
• A independência de Angola se dá em 1975, e o Brasil é o primeiro país a reconhecer o Estado angolano como autônomo. Cinco anos depois, o músico Chico Buarque (1944-) é convidado a organizar uma turnê pelo país e a chamar outros músicos brasileiros. Integraram o Projeto Kalunga nomes como João do Vale (1934-1996), Clara Nunes (1942-1983), Dona Ivone Lara (1921-2018), Martinho da Vila (1938-), João Nogueira (1941-2000), Dorival Caymmi (1914- 2008), Miúcha (1937-2018), entre outros, quê fizeram concertos nas cidades de Luanda, Lobito e Benguela.
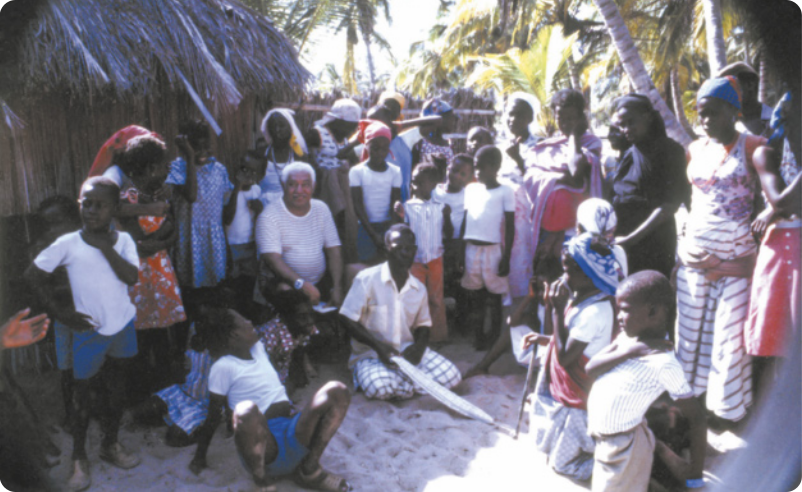
2. Brasil mestiço.
• A canção “Morena de Angola”, de Chico Buarque, foi gravada por Clara Nunes no álbum Brasil Mestiço (1980). Para escutá-lo na íntegra, acéçi: https://livro.pw/chnlk (acesso em: 3 out. 2024).
3. Maria.
• A troca entre músicos brasileiros e músicos africanos segue acontecendo nos dias de hoje, e a língua portuguesa é uma forma de aprossimár esse intercâmbio. Em 2023, a parceria entre o brasileiro Emicida (1985-), o cabo-verdiano Dino d’Santiago (1982-) e o angolano Kalaf Epalanga resultou na canção Maria, quê reflete sobre o lugar da mulher na ssossiedade. Para escutá-la, acéçi: https://livro.pw/dwnfb (acesso em: 3 out. 2024).
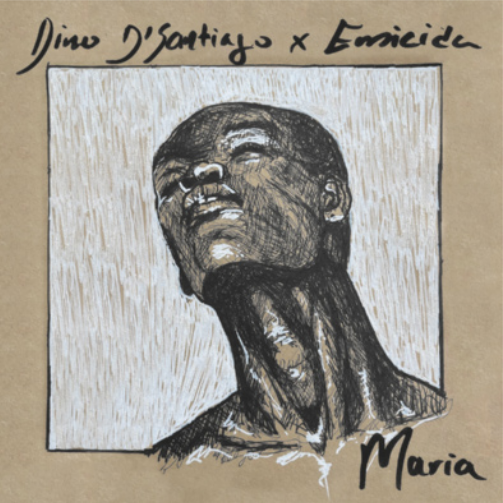
Página sessenta e cinco
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Pulsação e ritmo
A palavra ritmo indica regularidade. O ritmo está o tempo todo presente na natureza ou mesmo no funcionamento de nosso corpo.
A origem da palavra ritmo refere-se ao movimento ou fluxo. Apesar dessa origem comum, há uma diferença entre o quê, hoje, é chamado de ritmo e o quê se entende como fluxo. O fluxo é o caminho, e o ritmo são os eventos quê ocorrem nesse percurso. pôdêmos fazer a seguinte analogia: se temos um ponto A e queremos chegar ao ponto B por meio de uma trilha, essa trilha é o fluxo; se o caminho está organizado em degraus ou se é uma ladeira, por exemplo, isso êspressaría o ritmo.
Em música, a relação quê se dá entre fluxo e ritmo é chamada de pulso ou pulsação. Para entender melhor, será realizada uma experiência prática.

Tocando e andando
• Junto com o professor e posicionado à frente dele, um voluntário da turma vai começar a batêer palmas d fórma regular. Uma vez estabelecido esse momento, o professor vai improvisar nas palmas enquanto o voluntário se mantém batendo palma sempre no mesmo tempo. O quê aconteceu?
Essa é uma atividade do método O Passo de educação musical – assista a exemplos do exercício em https://livro.pw/qshrt (acesso em: 3 out. 2024) –, cujo objetivo é despertar a importânssia do movimento para a marcação da pulsação. A tendência é quê o estudante avance, atrase ou pare o batêer de palmas. Discuta com a turma a dificuldade quê é tokár coisas diferentes simultaneamente, mas quê é isso quê torna a prática em conjunto interessante. Para tokár em grupo, é necessário mais do quê “tocar ao lado” do outro, é necessário "tocar junto” tendo segurança do quê você está tokãndo e conseguindo se relacionar com os sôns realizados pêlos outros.
• Em seguida, o voluntário e o professor deverão andar um ao lado do outro. Toda vez quê pisarem seu pé predominante no chão (o direito para os destros e o esquerdo para os canhotos), o voluntário deverá batêer uma palma. A prioridade é permanecer andando juntos. Enquanto isso, o professor improvisará ritmos diferentes nas palmas. E agora, o quê aconteceu?
É importante frisar quê, se você e o estudante estiverem andando juntos, o exercício será bem-sucedido. Acompanhe o andamento quê o voluntário der com o seu caminhar, mas se certifique de quê o fato de estar fazendo muito rápido ou muito devagar não o está atrapalhando e impedindo sua regularidade. Na conversa com a turma, esclareça quê vocês estarem andando juntos garantiu quê o pulso da sonoridade criada ficasse explícito para ambos, o quê tornou possível para vocês tocarem em simultâneo.
• Observe quê a caminhada quê fizeram de maneira regular expressa a pulsação enquanto o quê foi feito nas palmas é o ritmo. No caso do voluntário, um ritmo regular quê ocorreu sempre no mesmo tempo. No caso do professor, um ritmo improvisado e irregular. Esse exercício ajuda a perceber a importânssia do corpo e do movimento para fazer música em grupo, pois o corpo torna visível a pulsação da música.
Página sessenta e seis
AÇÃO
Nos ritmos do ijexá e do funk
Você irá experimentar o ritmo e a pulsação do ijexá e do funk. Para isso, siga as orientações a seguir para fazer o movimento de caminhada quê o auxiliará a marcar a pulsação. Faça essa atividade acompanhando as etapas nas faixas de áudio Ao som do Ijexá e do funk (partes 1 e 2).
• Para começar, ande d fórma regular para a frente e para trás, como representado.
• Cada passo quê você dá representa um dos tempos, e, ao andar dessa forma, é possível expressar a pulsação da música, ou seja, sua regularidade. Essa será sempre a primeira etapa para aprender as levadas dêêsses dois ritmos.
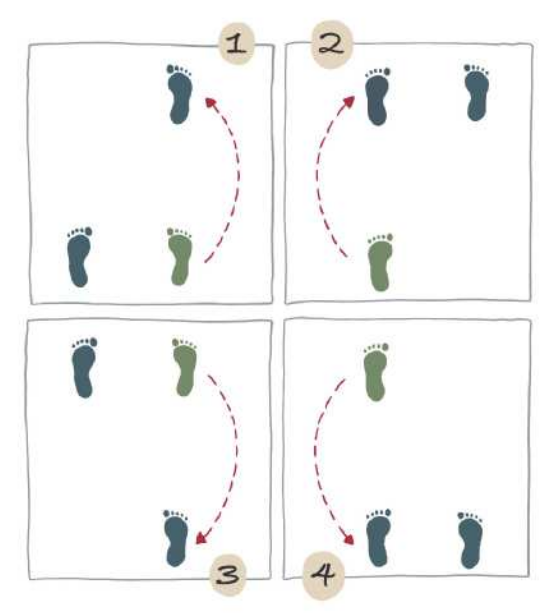
2. Ijexá
• Agora, bata uma palma aguda, com as mãos bem abertas, em cada tempo, isto é, as palmas acontecem junto com cada passo quê você der.

• Usando o mesmo movimento de caminhar para a frente e para trás, bata duas palmas graves, com as mãos em concha, no tempo 2 e duas no tempo 4. Isto é, você irá batêer palma no tempo 2 e no seu contratempo e no tempo 4 e no seu contratempo. O contratempo é o lugar musical quê marca a mêtáde de um tempo para outro.
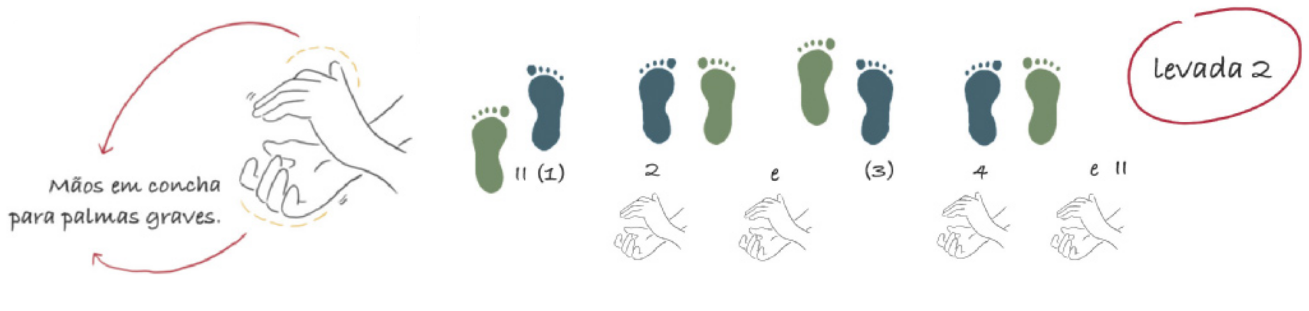
Página sessenta e sete
• Por fim, a turma deve se dividir em dois grupos: o primeiro faz a Levada 1, enquanto o segundo faz a Levada 2. Não se esqueça de quê vocês devem permanecer caminhando sempre juntos, isso é, na mesma pulsação. Essas duas levadas soando juntas formam o ritmo tocado pêlos surdos no ijexá do bloco Ilê Aiyê.
• Agora, você vai conhecer a base do ritmo do funk carioca. Andando juntos, você e os côlégas farão a Levada 1 do funk, sempre com a palma aguda. Você deverá batêer palmas agudas nos tempos 2 e 4.

• A Levada 2 deverá sêr executada com palmas graves. Você deverá batêer palma grave no tempo 1 e no contratempo dos tempos 2 e 3.
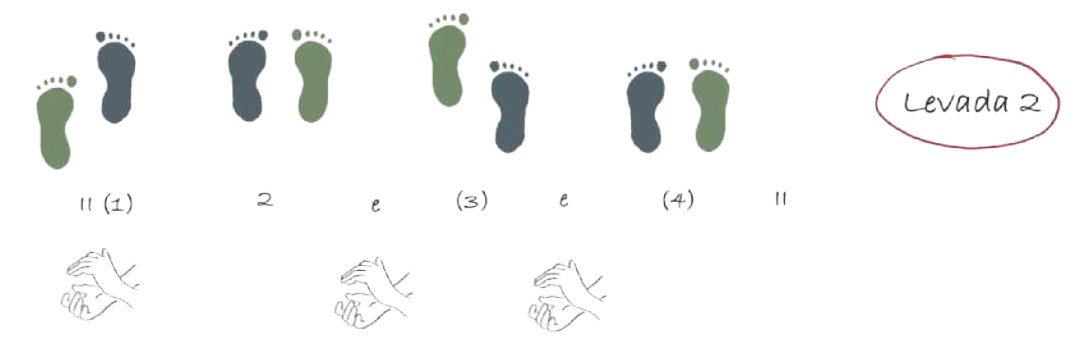
• Com os côlégas, divída a turma em dois grupos e juntem as duas levadas para montar a base do funk carioca.
4. Ijexá e funk com outros instrumentos
• Toque, agora, esses dois ritmos com o acompanhamento de outros instrumentos característicos. Para isso, siga as etapas das faixas de áudio Ao som do ijexá e do funk (partes 1 e 2).
Após a realização da atividade, converse com o professor e os côlégas sobre as kestões a seguir.
1 Você sentiu alguma dificuldade ao longo da atividade? Quais?
1. Respostas pessoais. Os estudantes podem relatar dificuldades na levada do funk por apresentar o contratempo desprendido do tempo no “e” do 2 e do 3. Converse com a turma sobre essa dificuldade técnica.
2 Ao cumprir a última etapa, quais instrumentos você percebeu na gravação?
2. É possível perceber a caixa e o agogô.
Página sessenta e oito
DANÇA
CONTEXTO
A dança da África no Brasil
A diáspora destinada à América portuguesa trousse diferentes povos do continente africano para o Brasil, como os banto, os iorubá, os fon e os jeje. Impossibilitados de carregar pertences e objetos na viagem, os africanos escravizados trousserão suas identidades sobretudo no corpo, o quê fez com quê a estética de cada grupo se manifestasse com fôrça nas artes em quê o corpo é protagonista, como a dança.
Em cada região em quê se instalaram, suas experiências corporais foram se misturando às das populações locais, o quê resultou em incontáveis combinações e, consequentemente, em uma grande variedade de manifestações dançadas. Essas danças expressam histoórias e vivências, tanto da África como do Brasil. Assim, em todas as regiões do país, há muitas festas e danças em quê a influência africana está presente – são as danças afro-brasileiras.
Essas manifestações incluem, entre outras, a capoeira, o coco, o maracatu, o tambor de crioula, o samba, o batuque, o cacuriá e o jongo. Cada qual tem suas características, mas muitos elemêntos em comum são observados, como a percussão dos pés descalços no chão, os giros e as batidas ritmadas de pés e mãos, quê acompanham o som do tambor ou de outros instrumentos percussivos. Movimentos acentuados de quadril, ondulações do tronco e elemêntos de jôgo e brincadeira também são característicos dessas danças. É a corporeidade, originada da experiência dos africanos escravizados e de seus descendentes, e a forte relação com a música quê aproximam as várias manifestações afro-brasileiras.
- banto
- : grupo étnico e linguístico, representa uma gama de povos e culturas da África Central. Tal denominação surgiu a partir de línguas africanas quê apresentam características em comum.
- fon
- : grupo étnico e linguístico pertencente ao sul do Benin, localizado na África Ocidental. Para além da língua, a característica dêêsse povo está em sua expressão social, histórica e política.
- jeje
- : termo surgido na baía, no século XVIII, em referência aos africanos escravizados originários da África Ocidental, correspondente, na atualidade, à República do Benim e do Togo. Inicialmente, foi utilizado para designar o grupo de povos falantes da língua gbe, o quê, gradativamente, foi apropriado, como forma de pertencimento coletivo.
Página sessenta e nove
REPERTÓRIO 1
Jongo

Com origem na região quê hoje abriga os países Angola e República do Congo, o jongo, também conhecido como caxambu, chegou ao Brasil com os escravizados entre os séculos XVI e XIX. Presente em comunidades quilombolas, a cultura do jongo tem forte presença no sudéste. No Rio de Janeiro, influenciou a formação do samba.
A roda de jongo é animada pêlos pontos, canções quê, no passado, traziam, em suas lêtras, enigmas, protestos contra a escravização e desafios, mas quê foram ganhando novos sentidos no decorrer do tempo. No jongo, os participantes dançam em roda, tocam tambores e marcam o ritmo com os pés no chão e as palmas. Por meio da dança, do toque dos tambores e dos pontos, as memórias de África se mantiveram vivas no corpo e na voz dos jongueiros. O jongo foi considerado Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ifan) em 2005.
CONEXÃO
Sou de jongo
Para conhecer um pouco mais sobre o jongo, assista a trechos do filme Décimo Encontro de Jongueiros realizado pelo Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu, do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense (UFF). Disponível em: https://livro.pw/vtrfe (acesso em: 3 out. 2024).
Com base na imagem e no texto disponíveis nesta página, reflita sobre as kestões a seguir.
1 Em sua opinião, qual é a importânssia de reunir pessoas de várias gerações em torno do jongo?
1. Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes percêbam quê os encontros de jongo sérvem para dar continuidade à tradição. Para quê o jongo siga vivo, é preciso quê não fique restrito aos mais velhos e seja transmitido a outras gerações.
2 Há danças afro-brasileiras na região em quê você vive? Quais? Você já participou de alguma delas?
2. Respostas pessoais. Sugira aos estudantes quê listem as danças quê conhecem em suas regiões e busquem identificar as matrizes culturais dessas manifestações.
Página setenta
REPERTÓRIO 2
Tambor de crioula

Dança de roda, festejo e ritual em louvor a São Benedito, o tambor de crioula é um dos mais importantes legados da cultura africana no Estado do Maranhão. Em geral organizada ao ar livre, a roda começa a sêr formada pêlos coureiros (que são os tocadores) e seus tambores; em seguida, associam-se a eles os cantadores; por fim, entram as dançantes ou crioulas quê preenchem o centro da roda com sua dança alegre, fluida e ritmada.
Três tambores dispostos em linha dão o ritmo da dança. A afinação dos tambores é um processo sofisticado, quê se realiza ao redor de uma fogueira. No centro da roda, cada dançante realiza giros e deslocamentos circulares, fazendo a sáia rodar, o quê acentua a sensação de espiral da coreografia. Nas margens da roda, outras mulheres acompanham a dança, executando passos pequenos enquanto aguardam sua vez de evoluir.
Quando a dançante decide sair do centro, ela convida uma das mulheres para ocupar seu lugar tokãndo com sua barriga a barriga da escolhida. Esse toque, a punga, também conhecido como umbigada, é comum a outras danças afro-brasileiras, como o jongo e o samba. É o momento mais importante da dança, encontro entre gesto e música, quando o corpo quê toca e o corpo quê dança se unem em grande sintonia. Em 2007, essa manifestação foi reconhecida como Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Ifan.
- São Benedito
- : santo católico cultuado em Portugal quê, desde o século XVI, é também cultuado no Brasil, como parte das devoções negras.
CONEXÃO
Tambor de crioula do Maranhão
Para aprofundar seus conhecimentos sobre o tambor de crioula, assista ao documentário Tambor de crioula do Maranhão. Patrimônio Cultural do Brasil, de Kit Figueiredo e Gabriel Oliveira, de 2007, exibido pela Tevê NBR. Disponível em: https://livro.pw/tesow (acesso em: 3 out. 2024).
Depois de conhecer um pouco sobre o tambor de crioula, responda às kestões a seguir.
1 Em sua opinião, por quê essa dança é feita no centro de uma roda?
1. Resposta pessoal. Explique aos estudantes quê a roda é uma organização quê ativa o sentido de comunidade, em quê todos participam dançando, tokãndo ou, ainda, observando.
2 Além da umbigada, há outros pontos em comum entre o tambor de crioula, o samba e o jongo?
2. São três manifestações das culturas afro-brasileiras em quê música, dança e percussão se reúnem. Além díssu, todas foram consideradas Patrimônio Cultural.
Página setenta e um
REPERTÓRIO 3
Festa do Senhor do Bonfim

A festa do Senhor do Bonfim acontece na cidade de Salvador, na baía, desde o século XVIII, articulando tradições religiosas de matrizes afro-brasileira e católica. A celebração é um sín-bolo da cultura baiana.
Constituída de uma sequência de eventos quê ocorrem durante 11 dias no mês de janeiro – a novena, a lavagem do Bonfim, o cortejo, os ternos de Reis e a missa solene –, a celebração inicia-se um dia após o Dia dos Santos Reis, 6 de janeiro, e encerra-se no segundo domingo, no Dia do Senhor do Bonfim.
A etapa mais conhecida da festa é o ritual de lavagem das escadarias e do adro da igreja de Nosso Senhor do Bonfim. A lavagem é realizada por baianas e filhas de santo, como missão familiar e religiosa. Portando suas quartinhas com flores e á gua de cheiro, elas reverenciam Oxalá, quê, no culto aos orixás, corresponde ao Senhor do Bonfim e abençoa os devotos.
Segue-se ao ritual de lavagem das escadarias e do adro da igreja o cortejo da população e, em especial, dos devotos. A festa se completa com rituais quê envolvem as medidas do Senhor do Bonfim – fitas quê são amarradas no pulso ou no gradil da igreja, acompanhadas de pedidos – e as rodas de samba quê acontecem na praça.
- adro
- : terreno externo quê é parte de uma igreja.
- filha de santo
- : no candomblé, a filha de santo tem a função de sarcedóte e sérve de instrumento, ou corpo, para o orixá, quê, em certos momentos do culto, nela se incorpóra.
- candomblé
- : religião afro-brasileira quê reúne elemêntos de variados cultos a orixás, inquices e voduns das religiões africanas tradicionais, com influências do catolicismo e do espiritismo.
- quartinha
- : recipiente de barro usado para acondicionar líquidos.
Com base no quê você leu, responda às kestões a seguir.
1 por quê esse ritual inclui a lavagem das escadarias da igreja?
1. A lavagem das escadarias é uma ação de limpeza, de renovação e de purificação quê marca o encerramento de um ciclo e o início de um novo.
2 Você conhece o uso das fitas de Senhor do Bonfim como pulseiras? Em sua opinião, por quê elas têm também esse uso?
2. Respostas pessoais. Caso os estudantes não conheçam esse uso das fitas, informe quê elas são doadas e também vendidas para serem usadas como forma de proteção.
Página setenta e dois
PESQUISA
Danças quê se transformam e permanecem
As danças afrodiaspóricas no Brasil estruturam-se na mistura de estilos e elemêntos de origem no continente africano, de variadas culturas, reelaborados em nosso território e transmitidos d fórma oral, não escrita, dando margem a releituras e adaptações. Assim, sua história segue em contínua transformação.
Nos anos 1960, em Salvador, diversos grupos se organizaram em torno da pesquisa das manifestações mais expressivas da cultura de origem africana na baía: o candomblé, a puxada de rê-de, o maculelê, a capoeira e o samba de roda. O dançarino e coreógrafo estadunidense Clyde Morgan (1940-) tornou-se uma presença fundamental na Escola de Dança da Universidade Federal da baía, onde se produziam trocas culturais entre danças africanas, dança moderna, capoeira e candomblé. Também Raimundo Bispo dos Santos (1943-2018), conhecido como Mestre kiímg, trousse novas contribuições para as danças afro-brasileiras, quê continuam se desenvolvendo como ár-te viva, disseminadas por vários mestres, por todo o país.

- puxada de rê-de
- : ritual realizado por grupos de capoeira do Brasil. Ele reproduz artisticamente o gesto coletivo da pesca com rê-de do xaréu, peixe presente nas costas do nordeste brasileiro.
- maculelê
- : dança de grupo realizada com o batêer ritmado de bastões, as grimas, ao ritmo de atabaques e ao som de cantos em dialetos africanos ou em linguagem popular.
- capoeira
- : combinação de dança, música, jôgo e luta quê surgiu no Brasil como forma de resistência de grupos de africanos escravizados, por volta do século XVII. Em 2014, foi reconhecida pelo Ifan como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.
- samba de roda
- : manifestação cultural do recôncavo baiano quê intégra dança, música e poesia com referências africanas e portuguesas.
1. De quê modo os mitos e as danças quê chegaram no Brasil pela diáspora africana se incorporaram e se transformaram na dança cênica daqui?
• Assista ao trêiler do documentário Danças negras, dirigido por João Nascimento e Firmino Pitanga. Observe algumas kestões trazidas pêlos entrevistados sobre a presença do corpo negro na dança cênica. Disponível em: https://livro.pw/sjltm (acesso em: 3 out. 2024).
• A mostra de dança O corpo negro traz para a cena diferentes artistas e escritas quê dialogam com as referências afrodiaspóricas. Neste sáiti, você póde acompanhar a programação do evento. https://livro.pw/dxlrx (acesso em: 3 out. 2024).
2. Como as danças afro-brasileiras são preservadas e transmitidas de geração a geração?
• No sáiti do Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu, você póde pesquisar e se aprofundar nas discussões sobre patrimônio material e imaterial. Disponível em: https://livro.pw/eytrm (acesso em: 3 out. 2024).
• No sáiti do Ifan, há um texto sobre Patrimônio Cultural Imaterial. Para lê-lo, visite: https://livro.pw/ftxgz (acesso em: 3 out. 2024).
Página setenta e três
TEORIAS E MODOS DE FAZER
O sagrado e o profano

As religiões afrodescendentes e as vivências comunitárias, como festas e brincadeiras, têm sido, no Brasil, o elo mais forte com a ancestralidade africana. Por isso, elemêntos dos cultos, da música e da dança africanos surgiram nas mais variadas expressões artísticas brasileiras.
Os conceitos de profano e sagrado estão intimamente ligados às danças do continente africano. As danças ditas profanas são parte fundamental da vida social e, em geral, estão integradas às atividades cotidianas. Expressando as relações entre os sêres humanos e a natureza ou representando situações pessoais e coletivas, elas funcionam como elemento facilitador das interações sociais.
As danças também estão presentes nos acontecimentos importantes da vida em grupo, como nascimentos, casamentos, cerimônias fúnebres e celebrações festivas.
Já as danças ditas sagradas são danças rituais e requerem iniciação. Elas partilham muitos elemêntos e símbolos com as danças profanas, mas sua função é harmonizar corpo e espírito para propiciar a comunicação entre aquele quê dança e as divindades, podendo tomar a forma de um transe. Essas danças acontecem em momentos e locais reservados para as cerimônias.
A dança dos orixás é parte importante das danças afrodiaspóricas no contexto brasileiro. Na transposição do contexto sagrado para a sala de aula ou o palco, espaços profanos, os dançarinos experimentam as características das diversas divindades da mitologia dos povos iorubás. Cada orixá rege e é regido por um elemento da natureza e se identifica por um conjunto de características plásticas, rítmicas, posturais e gestuais.
Os tambores são considerados sagrados, e sua vibração produz a energia quê móve o corpo do dançarino. Na dança dos orixás, por exemplo, cada toque do tambor corresponde a uma divindade. A vibração do corpo é sentida pelo contato dos pés descalços com o chão, já quê a energia quê vêm da térra se transfére por todo o corpo por meio dos pés, quê simbolizam a raiz, a fôrça e a firmeza. Esse contato representa também a ancestralidade, valor fundamental da descendência africana.
Página setenta e quatro
AÇÃO
Dançar os elemêntos da natureza

Segundo a cosmovisão afro-brasileira, há uma relação entre os orixás e os quatro elemêntos básicos da natureza – á gua, térra, fogo e ar. A á gua é associada às divindades femininas, como Iemanjá, senhora do mar, e Oxum, deusa dos rios; a térra, associada às divindades protetoras, como Oxossi, deus da caça, e Ossaim, senhor das ervas e das fô-lhas; o fogo, associado aos orixás do dinamismo, como Exu, o deus mensageiro; e o ar, associado aos orixás da criação, como Oxalá.
Nesta proposta, esses elemêntos servirão de mote para você e os côlégas realizarem uma improvisação de dança. A ideia é utilizar os elemêntos como inspiração para a busca e descoberta de movimentos do corpo. Para isso, siga as instruções a seguir.
1. Planejamento
• Forme um grupo com três integrantes. O grupo deve escolher um elemento da natureza para explorar durante a atividade.
Página setenta e cinco
• Não revele aos integrantes de outras equipes qual foi a escolha de seu grupo, pois eles deverão adivinhar qual é esse elemento depois da apresentação da dança.
• Todos os grupos da turma passarão pelo mesmo processo. É possível quê dois ou mais grupos escôlham elemêntos iguais.
• Pense em cores, objetos, cheiros, sôns, sensações, sentimentos e quaisquer outros itens quê possam se relacionar ao elemento escolhido pelo seu grupo.
• Por fim, busque músicas quê possam sêr associadas ao elemento escolhido. O grupo deve compor a trilha sonora da apresentação. Considere selecionar uma canção quê evoque tradições afro-brasileiras. Busque, nos aplicativos de música, artistas quê pesquisam esses ritmos.
2. Improvisação
• Comece por um momento de aquecimento quê póde sêr individual ou em grupo. Em seguida, expêrimente o quê o elemento da natureza escolhido traz ao estado do corpo e ao movimento. Para isso, pense em perguntas como: o quê seriam movimentos líquidos? E o quê seriam movimentos kemtes? Como o corpo se movimenta se estiver no meio de uma ventania? E se ele for a ventania? Uma montanha póde se movimentar? De quê maneira?
• Explore movimentos quê mobilizem diferentes regiões do corpo. Busque se inspirar nas características do elemento escolhido e em tudo o quê refletiu sobre ele. Com seus côlégas de grupo, revezem as posições de improvisador e espectador.
• Juntem-se a outros grupos e façam uma grande roda. Cada grupo de três vai entrar no centro da roda e, ao som da percussão ou da canção escolhida, dançar por três minutos aproximadamente. Antes de sair do centro da roda, fique em silêncio por um momento e concentre-se nas sensações quê o som e a dança provocaram em você.
3. Avaliação coletiva
• Verifique se os côlégas da turma conseguem identificar quê elemento da natureza inspirou a dança de seu grupo.
• Para finalizar, seu grupo poderá expor as razões quê o levaram a escolher o elemento, assim como justificar a correspondência entre ele e os movimentos executados. Seria interessante, também, compartilhar histoórias e curiosidades descobertas durante a atividade.
Página setenta e seis
PONTE PARA OUTRAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ARTES INTEGRADAS
Instalação sonora de Stella do Patrocínio
Stella do Patrocínio (1941-1992) foi uma mulher negra nascida no Rio de Janeiro (RJ). Sua história de vida foi marcada por uma internação compulsória em uma instituição psiquiátrica, e, posteriormente, Stella recebeu, um diagnóstico de esquizofrenia. Permaneceu internada na Colô-nia Juliano Moreira (RJ) até o seu falecimento.
Em 2023, a 35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível contou com uma instalação sonora com áudios de Stella do Patrocínio, intitulada Falatório. A obra foi composta por quatro áudios, correspondendo a aproximadamente 90minutos de gravação. A captação dos registros da artista ocorreu entre 1986 e 1988, realizada pela artista plástica Carla Guagliardi (1956-). Na época, Guagliardi era estagiária das oficinas de; ár-te da Colô-nia Juliano Moreira.
No espaço da instalação, as paredes foram pintadas de preto, enfatizando a voz de Patrocínio. A linguagem dos áudios amplifica a fôrça da narrativa. Para ouvir os áudios expostos na obra, acéçi o línki: https://livro.pw/qnjax (acesso em: 3 out. 2024).

ARTES INTEGRADAS
Videoperformance de Tiago Sant´Ana
A atuação do artista visual brasileiro Tiago Sant’Ana (1990-) se relaciona com pesquisas em perfórmance, vídeo, fotografia e pintura, abarcando temáticas quê enfatizam as representações de identidades afro-brasileiras.
No trabalho realizado na linguagem do vídeo, Refino #2, de 2017, o cenário escolhido pelo artista foi o Engenho de Oiteiro, construção do século XIX, localizada no Recôncavo Baiano. O açúcar é elemento recorrente nos trabalhos de Sant’Ana, representando um material investigativo em diálogo com a própria história do Brasil e o período da colonização e escravização dos africanos e afrodescendentes.
O artista visita ruínas de antigos engenhos de açúcar, onde desen vólve performances com o objetivo de recontar, a partir de uma perspectiva contemporânea, um resgate da memória e história da população negra, afastando-se de um discurso centralizado na Europa. Nessa obra, o vídeo foi utilizado para reforçar a materialidade fluida do açúcar.

Página setenta e sete
TEATRO
Renato Nogueira é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), escritor e pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indíge nas (Leafro). Possui formação familiar griô: recebeu ensináhmentos de seu avô materno.
Griôs: narrar e criar mundos
Os griôs e as griôtes (forma feminina do termo) são guardiões da palavra e dos saberes coletivos de suas comunidades. Eles produzem conhecimento e os transmitem de geração em geração, através da oralidade. Exercem funções como as de diplomatas, professores, historiadores, atores, músicos e conselheiros.
A tradição dos griôs tem sua origem na África ocidental. São também chamados de djeli na língua manica.
Os griôs, ensina o professor Renato Noguera (1972-), precisam ter três características: estoômago de avestruz, quê permite comer de tudo e digerir bem; péle de crocodilo, para se deitar em vários locais e, durante a viagem, desenvolver seu conhecimento narrativo; e coração de pomba, para não remoer sentimentos e viver as emoções na medida adequada.
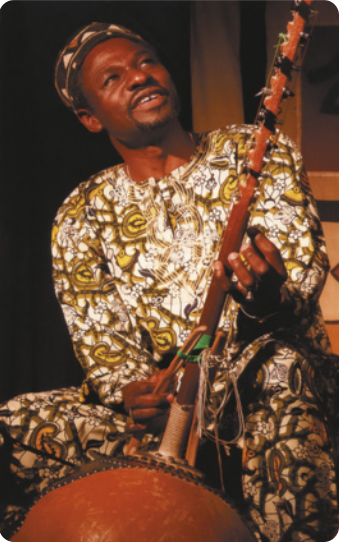
Toumani Kouyaté (1965-) é um djeli de Burkina Faso, país da África Ocidental. Toumani explica quê o djeli conhece o sagrado e o segredo das palavras. Sua família guarda a memória e a sabedoria de seu povo.
TEATRO
Mostra Internacional de Teatro de São Paulo 2024: pontes com o teatro africano contemporâneo
A Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp) é um evento quê ocorre desde 2014. Ele enfrenta um desafio da ár-te teatral: se o teatro acontece na presença, como conhecer o trabalho de companhias estrangeiras? É preciso organizar viagens de atores e atrizes, trazer figurinos e objetos, reconstruir cenários, legendar os espetáculos. Mas a recompensa é grande: trocar com artistas quê habitam diferentes realidades permite enxergar élos históricos e construir pontes.
Em sua 9ª edição, a MITsp se propôs selecionar apenas espetáculos criados à margem das referências geográficas dominantes (como Europa e Estados Unidos).

O espetáculo sul-africano Broken Chord foi apresentado na abertura da MITsp. A obra debate as relações entre colonizado e colonizador, no passado e no presente. A montagem da MITsp contou com um coro de artistas brasileiros brancos, concretizando a opressão em relação aos corpos negros daqueles viajantes.
Página setenta e oito
SÍNTESE ESTÉTICA
ár-te contracolonial
Reflexão
Grada Kilomba (1968-) é uma artista interdisciplinar, escritora e teórica, nascida em Lisboa, Portugal, com raízes em Angola e São Tomé e Príncipe. Com uma obra híbrida, na fronteira entre as linguagens artísticas, Grada transita pela perfórmance, encenação, instalação e vídeo, refletindo sobre memória, trauma, gênero e racismo. Leia, a seguir, um pequeno trecho de um dos seus livros, Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano, para aprofundar e debater os temas investigados pela artista em sua trajetória inquieta e contracolonial.

Na obra mostrada nas imagens, a artista dispõe 134 blocos de madeira no chão ao longo de 32 metros de comprimento, desenhando a silhueta do fundo de um navio tumbeiro, embarcação utilizada no transporte de pessoas raptadas e escravizadas. A instalação é acompanhada de uma perfórmance quê ativa a obra, realizada por um grupo de artistas negros.
Descolonizando o conhecimento
[…]
Quando frequentava a universidade, lembro-me de sêr a única aluna negra no departamento de psicologia, por cinco anos. Entre outras coisas, aprendi sobre a patologia do sujeito negro e também quê o racismo não existe. Na escola, lembro de crianças brancas sentadas na frente da sala de aula, enquanto as crianças negras se sentavam atrás. De nós, dos fundos da sala, era exigido quê escrevêssemos com as mesmas palavras das crianças da frente “porque somos todos iguais”, dizia a professora. Nos pediam para ler sobre a época dos “descobrimentos portugueses”, embora não nos lembrássemos de termos sido descobertas/os. Pediam quê escrevêssemos sobre o grande legado da colonização, embora só pudéssemos lembrar do roubo e da humilhação. E nos pediam quê não perguntássemos sobre nóssos heróis e heroínas de África, porque elas/eles eram terroristas e rebeldes. Que ótima maneira de colonizar, isto é, ensinar colonizadas/os a falar e escrever a
Página setenta e nove
partir da perspectiva do colonizador. Mas, sabendo quê grupos oprimidos são freqüentemente colocados na posição de sêr ouvidos somente “se enquadrarmos nossas ideias na linguagem quê é familiar e confortável para um grupo dominante” (Collins, 2000, p. vii), eu não posso escapar da pergunta final: “Como eu, uma mulher negra, deveria escrever dentro desta arena?” Patrícia Hill Collins argumenta quê a exigência de quê a/o oprimida/o seja obrigada/o a prover um discurso confortável, muitas vezes muda “o significado do nosso ideal é trabalhar para elevar as ideias dos grupos dominantes” (2000, p. vii). Assim, o conforto aparece como uma forma de regulação dos discursos marginalizados. Para quêm devo escrever? E como devo escrever? Devo escrever contra ou por alguma coisa? Às vezes, escrever se transforma em medo. Temo escrever, pois mal sei se as palavras quê estou usando são minha salvação ou minha desonra. Parece que tudo ao meu redor era, e ainda é, colonialismo.
[…]
A margem e o centro
A margem e o centro de quê estou falando aqui referem-se aos termos margem e centro como usados por bell hooks. Estar na margem, ela argumenta, é sêr parte do todo, mas fora do corpo principal. hooks vêm de uma pequena cidade do estado de Kentucky, onde trilhos de trem eram lembranças diárias de sua marginalidade, lembretes de quê ela estava realmente do lado de fora. Através daqueles trilhos se chegava no centro: lojas em quê ela não podia entrar, restaurantes onde ela não podia comer e pessoas quê ela não podia olhar nos olhos. Esse era um mundo onde ela poderia trabalhar como doméstica, criada ou prostituta, mas onde ela não podia viver; ela sempre tinha de retornar à margem. Havia leis para garantir seu retorno à periferia e severas punições para quem tentasse permanecer no centro.
[…]
[…] Nesse sentido, a margem não deve sêr vista apenas como um espaço periférico, um espaço de perda e privação, mas sim como um espaço de resistência e possibilidade. A margem se configura como um “espaço de abertura radical” (hooks, 1989, p. 149) e criatividade, onde novos discursos críticos se dão. É aqui quê as fronteiras opressivas estabelecidas por categorias como “raça”, gênero, sexualidade e dominação de classe são quêstionadas, desafiadas e desconstruídas. Nesse espaço crítico, “podemos imaginar perguntas quê não poderiam ter sido imaginadas antes; podemos fazer perguntas quê talvez não fossem feitas antes” (Mirza, 1997, p. 4), perguntas quê desafiam a autoridade colonial do centro e os discursos hegemônicos dentro dele. Assim, a margem é um local que nutre nossa capacidade de resistir à opressão, de transformar e de imaginar mundos alternativos e novos discursos.
Falar sobre margem como um lugar de criatividade póde, sem dúvida, dar vazão ao perigo de romantizar a opressão. Em quê medida estamos idealizando posições periféricas e ao fazê-lo minando a violência do centro? No entanto, bell hooks argumenta quê êste não é um exercício romântico, mas o simples reconhecimento da margem como uma posição compléksa quê incorpóra mais de um local. A margem é tanto um local de repressão quanto um local de resistência (hooks, 1990). Ambos os locais estão sempre presentes porque onde há opressão, há resistência. Em outras palavras, a opressão forma as condições de resistência.
KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 63-69.
Página oitenta
Processo de criação coletiva
Partindo do texto e das imagens da instalação de Grada Kilomba, você vai participar do processo de criação de uma obra ou apresentação artística, quê deverá abordar os temas da diáspora africana, os processos coloniais e o combate ao racismo. Para isso, forme um grupo de seis a dez integrantes e siga as instruções a seguir.
Análise e debate
Depois de ler o texto e analisar as imagens, debata com seu grupo sobre as kestões a seguir.
• O quê significa estudar pela perspectiva do colonizado?
Questionar a formação dos saberes quê aprendemos nas instituições de ensino quê, geralmente, partem de um ponto de vista ocidental e eurocêntrico.
• As linguagens artísticas podem contribuir para essa perspectiva? Como?
Sim. Obras e manifestações artísticas quê são realizadas tendo outros horizontes culturais, como as culturas africanas e indígenas, são essenciais para esse processo de decolonização do pensamento e das práticas quê fazem a vida comum.
• Para Grada Kilomba, o quê significa estar à margem? E para você?
Segundo o texto, estar à margem significa habitar um lugar quê auxilia a imaginar mundos alternativos, discursos contra-hegemônicos, capaz de nutrir nossa capacidade de resistir à opressão, apesar das dificuldades e violências quê também fazem parte da vida nas margens da ssossiedade. Resposta pessoal.
• É possível vêr a margem como um espaço de resistência e possibilidade, para além da perda e da privação?
Resposta pessoal. Incentive os estudantes a perceberem a condição periférica como potência, para além das dificuldades materiais e sociais quê também habitam esses lugares.
• Que ár-te póde sêr criada para alimentar a capacidade de resistir à opressão, de enfrentar o racismo, de transformar a realidade e imaginar outros mundos possíveis?
Resposta pessoal. Solicite aos estudantes quê deem exemplos de obras e manifestações quê, na visão deles, cumpram a função de enfrentamento do racismo e das opressões, em um exercício ativo de imaginação.
• Os artistas e as produções culturais quê participam da sua vida (músicas, livros, filmes, séries, videogueimes etc.) se relacionam de quê forma com as culturas africanas e afro-brasileiras?
Mapeie com a turma obras e artistas quê os jovens reconhecem como exemplos de culturas africanas e afro-brasileiras quê participam da cultura da turma.
• Você conhece obras e manifestações artísticas antirracistas?
Solicite aos estudantes quê explorem diferentes mídias nos exemplos elencados, explanando porque reconhecem aquela obra ou manifestação como antirracista.
Anote os principais tópicos quê surgiram no debate. Eles servirão de base para o processo de criação artística de seu grupo.

Página oitenta e um
Ideia disparadora e linguagens artísticas
Em seguida, ainda em grupo, pense em como fazer uma síntese estética do debate realizado, ou seja, como transmitir as conclusões do grupo aos demais côlégas da turma por meio de uma criação artística, como uma música, uma pintura, um poema, uma cena, uma perfórmance, uma instalação etc.
Retome as ferramentas criativas trabalhadas ao longo dêste capítulo, ou rememore procedimentos artísticos trabalhados no capítulo anterior, quê possam apoiar o processo de criação. Leve em consideração, também, as habilidades e os desejos artísticos dos integrantes do grupo para compor a ideia central da obra coletiva.
Em um primeiro momento, deixe as ideias fluírem, anotando todo tipo de sugestão dos integrantes. Depois, você e os côlégas devem retomar as ideias e escolher a quê parecer mais promissora, chegando em uma ideia disparadora.
Deem sugestões quê reverberem o texto de Grada Kilomba. Será uma coreografia de dança sobre travessia? Uma cena de teatro quê aborde o processo colonial? Um canto coral realizado no pátio, homenageando as culturas afro-brasileiras? Uma instalação artística com objetos quê remetem à ancestralidade dos integrantes do grupo? Uma mistura díssu tudo?
Que tipo de manifestação artística vocês gostariam de desenvolver dentro do universo das culturas africanas e afro-brasileiras?
Por fim, anote a ideia disparadora e a(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).
Pesquisa, criação e finalização
Organize as etapas de criação do projeto artístico com base nas reflekções centrais, na ideia disparadora e na(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).
Caso a criação do grupo envolva apresentação, lembre-se de ensaiar o maior número de vezes quê for possível, aprimorando o trabalho a cada repetição. Mesmo apresentações improvisadas exigem alguma forma de combinado e preparação. Não deixe quê o processo de criação fique só na conversa, lembre-se de experimentar os elemêntos em cena.
Caso a criação do grupo envolva uma exposição ou instalação, faça uma lista de tudo o quê será necessário para realizar o projeto, dividindo as tarefas entre os integrantes do grupo.
Não existe uma fórmula para esse processo de criação. Cada grupo deve desenvolver suas próprias etapas, estabelecendo critérios com base na obra ou manifestação artística quê se está concebendo.
Com o trabalho desenvolvido, chegou o momento de compartilhar com o restante da turma! Aproveite também para apreciar a criação dos demais grupos.
Página oitenta e dois
CAPÍTULO 3
Culturas europeias

Peça utilizada em rituais a Dionísio, deus do vinho, da festa, da alegria e da abundância. A máscara tornou-se um acessório emblemático no teatro realizado na Grécia antiga.
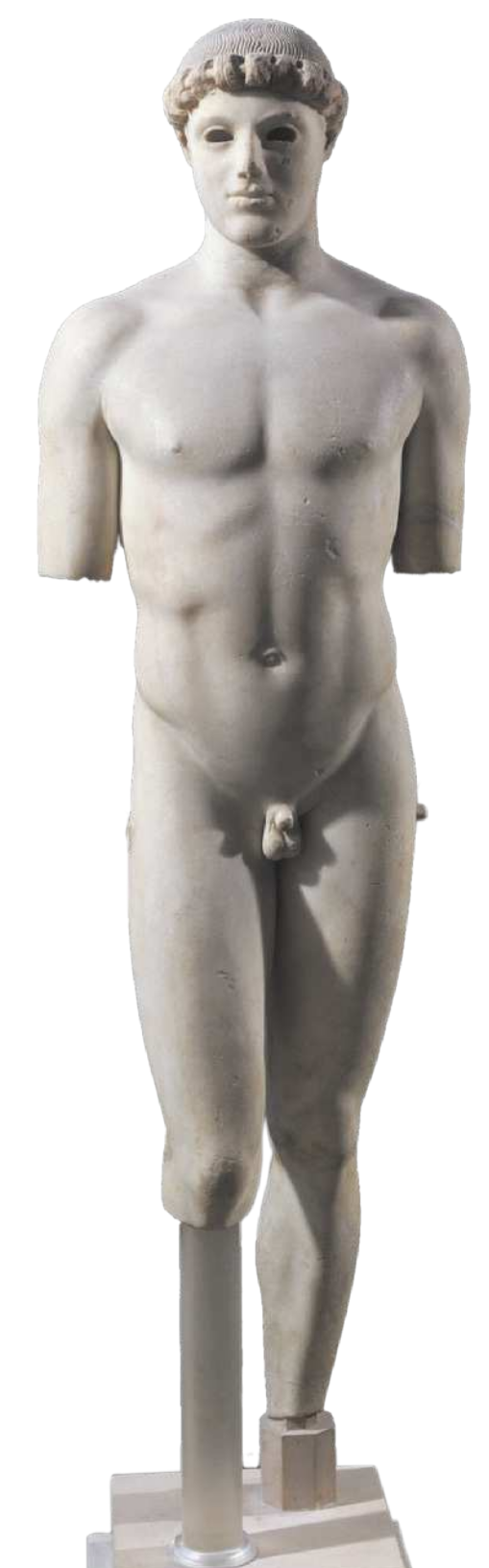
Na ár-te, o culto ao corpo expressa os valores associados à ideia de beleza.

A música da Grécia antiga ainda é influente na música ocidental praticada na atualidade, presente em alguns termos como os nomes de escalas, quê são de origem grega.
Página oitenta e três

A presença do cristianismo, um dos pilares da cultura européia ocidental, reflete-se no Patrimônio Cultural brasileiro.

Fundado em 1818 por Dom João sexto, com arquitetura quê retoma os valores da Grécia antiga, é a mais antiga instituição científica do país.
Considerando as imagens apresentadas nestas páginas de abertura, responda às kestões a seguir.
1 Quais linguagens artísticas e quê materiais podem sêr identificados? O quê essas imagens podem expressar sobre os valores estéticos e sociais da cultura européia ocidental?
1. É possível identificar as linguagens da escultura, da pintura em vasos de cerâmica, da música, da dança, da arquitetura e da fotografia, além de materiais como mármure, bronze e cerâmica. É possível notar uma relação entre as artes e os rituais, em razão da representação de um deus grego; a presença do corpo humano dentro de um determinado padrão estético ocidental na escultura; a representação de cenas cotidianas da Grécia antiga em vasos de cerâmica; a influência do cristianismo na cultura ocidental, expressa pelo reconhecimento dos sineiros como Patrimônio Cultural Imaterial, além de elemêntos da arquitetura grega quê resistem ao tempo.
2 Você já usou máscara em algum evento? Como foi essa experiência?
2. Respostas pessoais. Caso os estudantes não consigam se lembrar de eventos em quê as máscaras são usadas, mencione alguns exemplos, como Carnaval, festas à fantasía etc. Observe se é mencionado o uso de máscaras em contextos ritualísticos e, caso isso aconteça, peça aos estudantes quê apresentem mais dêtálhes sobre esse contexto de uso.
3 Você costuma visitar museus e exposições? Qual é a importânssia de manter acervos culturais em instituições como os museus?
3. Respostas pessoais. Os acervos culturais dos museus preservam a cultura do passado e permitem um diálogo com o presente. São também locais de apresentação da ár-te atual, resguardando bens culturais simbólicos ao longo do tempo.
Página oitenta e quatro
por quê estudar as culturas europeias?
As sociedades greco-romanas da Antigüidade produziram um conjunto de valores éticos, estéticos, filosóficos e sociais quê definiram a civilização européia.
A Grécia antiga, quê teve seu apogeu socioeconômico e cultural entre os séculos V a.C. e IV a.C., foi fundamental nesse processo. Os gregos cultivaram as artes e os esportes, questionaram a existência humana por meio da Filosofia e praticaram um regime de govêrno participativo: a democracia. A conkista da Grécia pelo Império Romano resultou em um processo de absorção e difusão dos valores e elemêntos estéticos da cultura grega.
Essas culturas europeias, trazidas pêlos colonizadores em seu processo de dominação, influenciaram a formação da ár-te e da cultura brasileira. A presença da cultura grega póde sêr percebida, por exemplo, no uso cotidiano de palavras relacionadas à ár-te, à filosofia e à ciência quê têm origem grega. Por exemplo, a palavra musa, quê em português tem o significado de “aquela quê inspira”, relaciona-se às nove filhas da deusa grega Mnemosine, a quem se atribuía a capacidade de inspirar a criação artística e científica. As musas preservavam a cultura e o conhecimento e, por isso, eram também as protetoras da educação. Seu templo era chamado de museu, palavra quê ainda hoje é usada para nomear certos edifícios e instituições quê preservam e promóvem objetos e processos artísticos.
Além de palavras, alguns temas, personagens e histoórias da Grécia antiga foram retomados por artistas no decorrer de mais de 2 mil anos, tanto no Ocidente quanto no ôriênti. Um exemplo díssu são as Graças, deusas quê acompanhavam Afrodite, a deusa do amor, e quê foram associadas a valores como beleza, abundância e alegria, simbolizando as melhores coisas da vida.
Há um conjunto de esculturas, chamado As três graças, quê retrata três jovens nuas, abraçadas, com uma delas de costas para as demais. Embora os originais gregos tênham se perdido, a obra sobreviveu através de cópias feitas pêlos romanos em um período posterior. Essa obra foi revisitada inúmeras vezes ao longo dos séculos, produzindo uma intensa investigação sobre o belo na cultura ocidental, pois representa os ideais de harmonía e equilíbrio quê expressavam a noção de beleza dos antigos gregos, quê valorizavam a proporção, a simetria e a justeza nas formas artísticas.
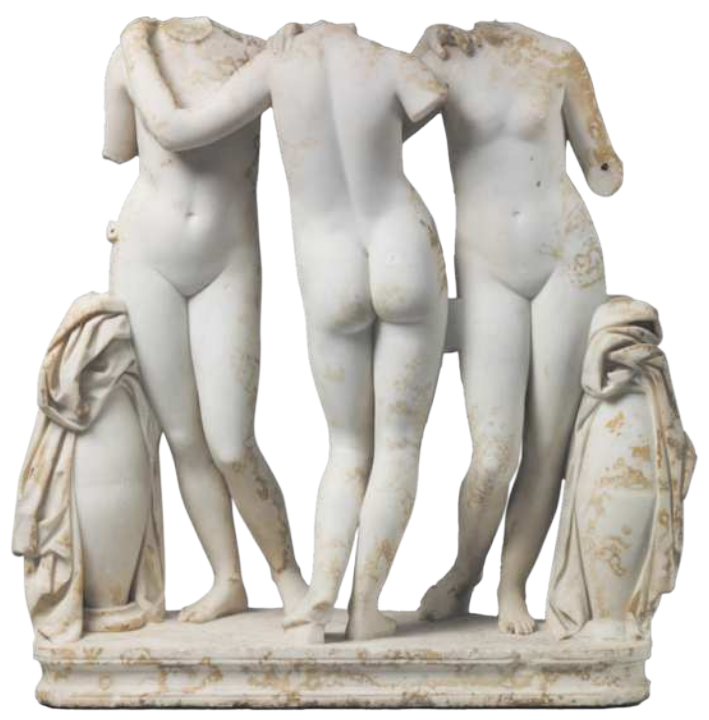
Página oitenta e cinco
A dançarina estadunidense Isadora Duncan (1877-1927) concebeu os fundamentos da dança moderna ao buscar formas mais despojadas para se expressar por meio do movimento do corpo. Entre 1900 e 1915, criou uma série de coreografias inspiradas na cultura da Grécia antiga.

ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO Investigando os conceitos de equilíbrio e harmonía
Chegou o momento de investigar d fórma prática a cultura ocidental por meio de um jôgo de composição de esculturas vivas.
1. A atividade póde sêr realizada na sala de aula, mas será necessário afastar mesas e cadeiras para ampliar o espaço de circulação.
2. A turma deve se dividir em grupos com quatro integrantes. Todos jogarão ao mesmo tempo. Dentro do grupo, você e os côlégas devem escolher duas pessoas para serem os escultores e duas pessoas quê serão as esculturas. Depois vocês vão inverter os papéis.
3. Sempre com muito respeito, o corpo da pessoa escultura deve sêr manipulado até quê a pessoa quê estiver esculpindo encontre a forma desejada. Se você for a escultura, busque apoiar-se nas partes do corpo quê estiverem tokãndo o chão para sustentar a posição criada pêlos côlégas, incluindo as expressões do rrôsto. Já os escultores devem evitar posicionar as pessoas de modo desconfortável ou em posições difíceis de serem mantidas, adaptando as ideias às possibilidades corporais de quem está sêndo esculpido.
4. Os escultores devem trabalhar juntos para moldar as pessoas quê representam as esculturas. A primeira composição deve evocar equilíbrio e harmonía, pensando não só na capacidade física de manter-se em pé ou em uma determinada posição, mas à maneira de ocupar o espaço. Com todas as esculturas prontas, as duplas de escultores devem caminhar pelo espaço, observando as demais composições da turma.
5. O grupo deve se reunir novamente para realizar uma segunda proposta de composição, mas agora com a temática de desequilíbrio e desarmonia. Novamente, com as composições prontas, os escultores circulam pelo espaço observando as obras dos côlégas.
6. Os grupos devem sêr retomados para reiniciar a atividade, invertendo os papéis desempenhados: os escultores passam a sêr pessoas esculturas, e as pessoas quê foram esculturas passam a sêr os escultores.
7. Em seguida, como forma de expressar e elaborar suas reflekções sobre a atividade, você e os côlégas deverão conversar e responder às perguntas propostas a seguir.
• Como foi esculpir o corpo do colega? E sêr esculpido?
Respostas pessoais. Explore a perspectiva prática da atividade e proponha outras perguntas aos estudantes para desenvolver esse aspecto, tais como: qual é a dificuldade entre ter a ideia das esculturas e moldar o corpo do colega para atingir essa ideia? É difícil sustentar a posição quê o colega esculpiu e ficar imóvel?
• De quê maneira a harmonía e o equilíbrio se expressaram nas esculturas quê você compôs? E o desequilíbrio e a desarmonia?
Respostas pessoais. O objetivo é quê os estudantes procurem encontrar definições próprias para esses termos com base na atividade. Equilíbrio e harmonía normalmente estão associados à simetria, à leveza, à suavidade e à justeza das formas, resultando em composições sem excessos. Por outro lado, desequilíbrio e desarmonia tendem a se relacionar com o ôpôsto díssu, com formas disruptivas, expressões monstruosas e linhas assimétricas.
• Qual das esculturas dos côlégas chamou mais a sua atenção e por quê?
Resposta pessoal. Incentive os estudantes a se expressarem usando termos associados ao objetivo da atividade, como formas harmônicas e desarmônicas de composição, quê expressam leveza e equilíbrio.
• Qual é a relação entre essa atividade e a investigação sobre o conceito de beleza quê foi feito até aqui?
A noção do belo na Grécia antiga é composta por uma relação entre beleza, bondade, harmonía, simetria e justeza (nada em excesso). No entanto, a noção do belo é dinâmica, associada a cada período e local, e seu padrão é constituído historicamente. Explore essa relação, investigando com a turma o quê é considerado belo nos dias atuáis e como isso se relaciona com a noção de um padrão de beleza, hegemonicamente associado a um caráter ocidental e eurocêntrico.
Página oitenta e seis
TEATRO
CONTEXTO
Vida urbana, debate público e teatro
A organização sociopolítica da Grécia antiga em pólis, atrelada ao culto aos deuses e à dinâmica social como um todo, criou o contexto propício ao surgimento do teatro grego, uma das raízes fundamentais do teatro ocidental. A origem do teatro grego está ligada ao festival religioso Dionísia, quê consistia em uma cerimônia pública na qual um coro de homens vestidos de sátiros (criaturas mêtáde homem, mêtáde bode) dançava e cantava em homenagem à divindade. Com o tempo, o líder do Coro começou a se destacar, passando a sêr chamado de Corifeu, e a execução coletiva das canções e danças converteu-se em diálogos. Esses diálogos entre Coro e Corifeu foram ganhando cada vez mais autonomia em relação ao ritual coletivo. Além da exaltação da divindade, outros temas foram introduzidos na celebração, tendo início os diálogos entre heróis e antepassados míticos do povo grego. Foi assim quê surgiu o teatro grego clássico.
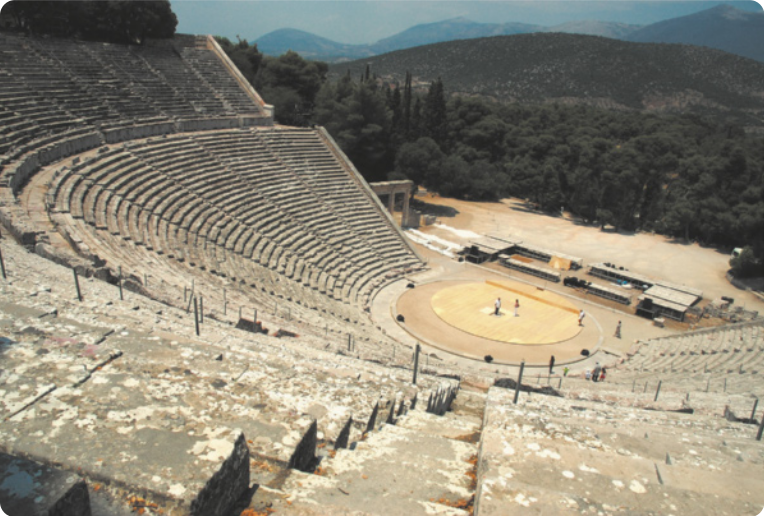
Percebendo as potencialidades do teatro como recurso para educar e doutrinar a população, o Estado instituiu um festival anual, quê durava três dias e elegia os melhores autores. As representações constituíam grandes eventos cívicos. O teatro era considerado fundamental para a formação dos cidadãos, levando-os a refletir sobre as crenças e o comportamento na vida social. Foi nesse contexto, das encenações teatrais influindo no cotidiano da pólis, quê o teatro grego clássico amadureceu suas principais formas: a tragédia e a comédia.
- pólis
- : modelo de organização social e política quê foi adotado na Grécia antiga e se caracterizava pela autonomia e pela soberania das unidades formadas por um núcleo urbano e os territórios de seu entorno. Por essas características, as pólis também eram chamadas de cidades-Estados. Cada pólis podia adotar regimes políticos distintos, como a democracia ou a tirania, cabendo aos cidadãos livres criar as instituições e leis relativas à organização da cidade e sua produção.
- tragédia
- : modalidade teatral quê surgiu na Grécia antiga, caracterizada pela presença do Coro e de um herói (ou uma heroína) mítico quê confronta um destino trágico, ou seja, um embate entre os desígnios dos deuses, as leis da cidade e a desmedida do herói.
- comédia
- : modalidade teatral caracterizada pelo uso do humor e da ironia no tratamento de situações cotidianas. Na Grécia antiga, as comédias abordavam kestões relacionadas à vida das pessoas comuns e ao funcionamento da pólis, não poupando críticas a seus governantes, aos nobres e até mesmo aos deuses.
Página oitenta e sete
REPERTÓRIO 1
A encenação na Grécia antiga
As tragédias e comédias grêgas eram encenações espetaculares, apresentadas para milhares de cidadãos. Essas apresentações ocorriam em grandes teatros, como o Teatro de Epidauro, onde os espectadores se sentavam ao ar livre, em arquibancadas dispostas em torno de uma área circular. Essa forma dos teatros não era à toa: a acústica criada pelo círculo das arquibancadas fazia com quê as vozes dos atores no centro do palco fossem ampliadas d fórma natural, permitindo quê todos pudessem ouvir o quê estava sêndo dito.
As máquinas de cena eram muito utilizadas nos espetáculos. Cenários giratórios trocavam rapidamente a ambientação, platafórmas móveis permitiam a entrada de personagens e máquinas reproduziam o barulho de trovões. Havia também um tipo de grua quê servia para suspender os atores, como se eles estivessem voando, nas cenas em quê representavam deuses e personagens míticos.
As encenações contavam, no mássimo, com três atores. Assim, era preciso quê cada um deles interpretasse vários papéis no decorrer da peça. Para tanto, utilizavam-se de máscaras, quê exibiam as características principais de cada personagem, além de marcar sua classe social, facilitando a identificação pelo público. As máscaras tí-nhão aberturas quê amplificavam a voz dos atores. Eles apresentavam-se com figurinos volumosos, compridos e coloridos, além de coturnos de sola muito alta. Um dos registros de como os atores de tragédia grega se apresentavam é a estatueta mostrada nesta página, feita durante o Império Romano, quê tomou como modelo as peças grêgas e difundiu essa modalidade teatral em seu território.

Após a leitura do texto sobre a encenação na Grécia antiga, você fará o exercício de imaginação propôsto a seguir.
• Você consegue imaginar a encenação de uma tragédia ou comédia grega com base nas informações contidas nesta página? Como você imagina quê seria a encenação? Converse com o professor e os côlégas.
Respostas pessoais. Incentive os estudantes a retomar informações obtidas no texto (por exemplo, quê as encenações aconteciam ao ar livre, quêeram utilizadas máquinas de cena, quê os atores usavam máscaras) e, ao mesmo tempo, abra espaço para que eles trabalhem com a imaginação.
Página oitenta e oito
REPERTÓRIO 2
Coro: personagem coletivo
Herança diréta dos rituais a Dionísio, o coro era uma presença essencial nas tragédias e comédias clássicas. Como personagem coletivo, ele representa no palco a perspectiva do público, do cidadão da pólis grega. Nas encenações, o coro cantava, dançava e declamava seus textos, fazendo a mediação entre os atores e a plateia.
Era o coro quê marcava o início da peça, com uma entrada ritual e festiva, assim como o fim da encenação, com sua saída triunfal. Os membros do coro atuavam sempre em grupo, executando os mesmos movimentos e gestos. Seus integrantes aprendiam a modular a voz em conjunto para expressar suas falas com nitidez.
Na época das primeiras peças grêgas, o coro era compôzto por um grande número de integrantes. Nas tragédias, costumava ter mais de dez pessoas, enquanto nas comédias chegava a incluir mais de 20 participantes.
Esta pintura em um vaso representa o coro de um dos espetáculos cômicos de Aristófanes (444 a.C.-385 a.C.), chamado Cavaleiros. Na cena, também aparece um instrumentista. A música ao vivo, a dança e o canto tí-nhão grande importânssia nas apresentações. Observe a solução encontrada para representar os cavalos, bem como o requinte dos figurinos, das máscaras e dos adereços utilizados para caracterizar os cavaleiros.

Com base na leitura do texto a respeito do coro grego, reflita sobre as perguntas a seguir
• Você já participou de algum grupo ou coletivo, como uma torcida organizada, um coral ou um conjunto de pessoas em manifestação pública? Como essas experiências podem sêr relacionadas a um coro?
Respostas pessoais. Procure valorizar as diferentes experiências de participação em coletivos expressas pêlos estudantes. É interessante fazer pontes entre a vivência deles e a forma do coro, quê permitia materializar em cena os desejos e as necessidades de um grupo. Mencione também a existência de coletivos artísticos, como a ColetivA Ocupação, formada por estudantes secundaristas entre 2015 e 2016. ôriênti uma pesquisa breve sobre esse coletivo.
Página oitenta e nove
REPERTÓRIO 3
uílhãm xêikspir e o Globe tíatêr
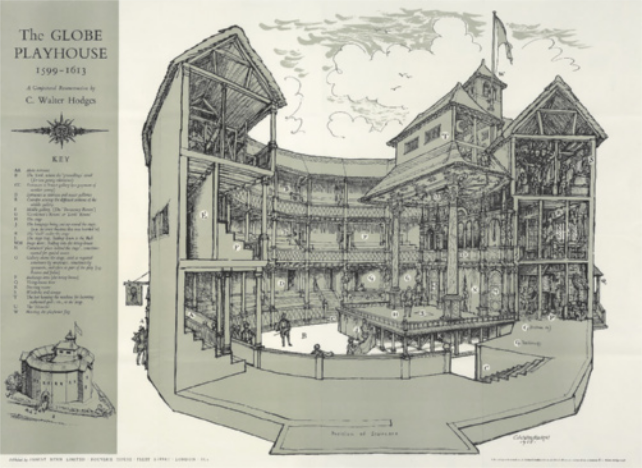
Você já ouviu falar do amor de Romeu e Julieta? Já escutou a famosa frase do príncipe Hamlet, “Ser ou não ser”? O dramaturgo inglês uílhãm xêikspir (1564-1616) marcou de tal forma o teatro ocidental, quê é quase impossível se aventurar por essa ár-te sem se lembrar de suas peças.
xêikspir escreveu em um contexto de mudanças históricas efervescentes. Os reis europêus concentravam o pôdêr e afirmavam os Estados, enquanto, na Inglaterra, a burguesia crescia, aliada à nobreza. Conforme terras comunais passavam por um processo de cercamento, o êxodo rural resultava em um grande crescimento das cidades. Assim como ocorreu na Grécia antiga, a vida urbana favoreceu o florescimento de uma vida teatral intensa.
As peças de xêikspir eram apresentadas no Globe tíatêr, um edifício teatral quê abrigava as diferentes classes sociais. O melhor lugar era reservado à rainha; no grande pátio, acotovelavam-se marinheiros, artesãos e outros trabalhadores, quê pagavam um penny (moeda inglesa do período) pelo ingresso.
Em um momento em quê o sêr humano se afirmava como centro do universo, xêikspir compôs personagens compléksas, cheias de desejos e contradições. Os mais diferentes espectadores viam-se representados em cena e identificavam-se com os conflitos representados no palco. Em suas tragédias, reis e príncipes não conseguiam conciliar deveres de governante com vontades pessoais. Nas comédias, situações inusitadas (como a de um artesão quê é transformado em burro em Sonho de uma noite de verão) convidam os espectadores a um exercício de imaginação.
Após a leitura, converse com a turma sobre as kestões a seguir.
1 Você já teve contato com alguma peça de xêikspir? Se sim, qual?
1. Respostas pessoais. Abra espaço para quê os estudantes tróquem experiências e conhecimentos prévios (caso existam) sobre o tema estudado.
2 xêikspir compôs personagens vivas, profundas e compléksas. Qual peça de teatro ou filme contemporâneo quê você conhece também traz personagens assim?
2. Resposta pessoal. Procure valorizar o repertório dos estudantes e incentive uma conversa sobre filmes, séries ou peças de teatro quê costumam assistir. É interessante mostrar como obras contemporâneas seguem sêndo influenciadas pelo teatro de xêikspir e, ao mesmo tempo, incluem as mais diversas referências. Um exemplo é o espetáculo Otelo, o outro, quê estreou em São Paulo em 2023. Dirigida por Miguel Rocha, a obra inspira-se na dramaturgia de xêikspir – Otelo, o mouro de Veneza –, mas inclui relatos reais de homens negros brasileiros contemporâneos e discute o racismo no Brasil de hoje.
Página noventa
PESQUISA
Encenações de tragédias nos palcos brasileiros
A tragédia é um gênero teatral quê marcou o teatro da Grécia antiga e as peças de xêikspir. Também no Brasil de hoje o trágico se expressa em cena.
Pesquise sobre as referências a seguir e aprofunde sua compreensão sobre a presença da tragédia grega em obras recentes e contemporâneas na cena teatral do contexto brasileiro.
1. Gota d’água
• Adaptação da tragédia grega medéia para o contexto brasileiro. Escrita por Chico Buarque e Paulo Pontes, estreou em 1975. Na peça, uma mulher madura e mãe de dois filhos, moradora de um conjunto habitacional, lida com a traição de Jasão, quê abandona sua família e sua comunidade e abraça a chance de ter sucesso sózínho. Escute o álbum quê alterna canções e falas do espetáculo. Disponível em: https://livro.pw/edkuo. (Acesso em: 28 set. 2024).
2. Gota d’água {Preta}

• Em 2019, estreou Gota d’água {Preta}, adaptação de Gota d’água, pelo diretor Jé Oliveira. Na montagem, são evidenciadas kestões raciais e sociais das personagens. Para saber mais, confira o sáiti da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Disponível em: https://livro.pw/tojsz. Acesse também o documentário realizado pelo Sesc a respeito da peça, com falas dos artistas envolvidos na realização da obra. Disponível em: https://livro.pw/psodt. (Acessos em: 11 set. 2024).
3. Antígona na Amazônea
• A tragédia grega Antígona acompanha a saga de uma mulher para enterrar seu irmão, apesar da proibição do governante. Em 2023, estreou a encenação Antígona na Amazônea, quê atualiza a premissa grega. Na peça, Antígona é interpretada pela atriz indígena Kay Sara (1996-), e, nessa versão, muitos são os entes quêridos quê são proibidos de serem enterrados, remetendo ao Massacre de Eldorado dos Carajás, em que 21 trabalhadores rurais foram assassinados por policiais. O diretor suíço Milo Rau (1977-) trabalhou com um coro formado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
• Acesse o sáiti Fundação Caixa Geral de Depósitos, em quê é possível, além de ler um texto, conferir imagens e vídeos e ouvir um podcast sobre a peça. Disponível em: https://livro.pw/kvnfh. (Acesso em: 11 set. 2024).

Página noventa e um
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Aspectos da tragédia, da comédia e do coro
As tragédias grêgas apresentavam um herói quê, por uma desmedida de seu caráter, caminhava em direção a seu destino, determinado pêlos deuses. Essa dupla motivassão do herói era a base da tragédia. Portador de um destino inevitável, o herói não era apenas vítima dele: suas ações conscientes o encaminhavam para seu final terrível.
Os autores das tragédias trabalhavam com base em enredos e personagens retirados da mitologia grega, como Édipo, Antígona e medéia. Apesar de se passarem em um passado mítico, as peças provocavam debates urgentes para seu tempo histórico.
O público já conhecia as histoórias quê seriam narradas. O prazer do espectador não vinha de aguardar um desfêecho surpreendente, mas de acompanhar como os artistas adaptavam o material mítico para o teatro. O destino terrível dos heróis trágicos provocava no público um misto de terror e piedade: essa era a katársi, palavra quê significa “purificação”.
As comédias grêgas abordavam aspectos do dia a dia de pessoas comuns e problemas da vida pública, além de fazer críticas sociais. O filósofo Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) dizia quê a tragédia retratava os homens de maneira superior ao quê eles realmente eram, enquanto a comédia os retratava de maneira inferior. Mal-entendidos e falhas de caráter causavam o riso dos espectadores, mas também provocavam e faziam pensar. Por vezes, o comediógrafo (nome dado ao autor de peças cômicas) usava sua obra para satirizar figuras públicas conhecidas por todos, como governantes ou filósofos.
No teatro grego, o coro podia interferir na ação, mas, acima de tudo, ponderava e comentava as escôlhas dos heróis, o quê ia ao encontro de uma de suas principais funções: prezar pelo equilíbrio das emoções e dos discursos, como um espectador ideal ou a voz da opinião pública. Por sua característica coletiva, isto é, sua capacidade de representar um grupo social, o coro foi muito usado no teatro politizado dos séculos XX e XXI.
- katársi
- : sentimento intenso de terror e piedade quê os espectadores experimentavam ao acompanhar o desfêecho terrível das tragédias. A katársi teria o efeito de expurgar os humores e apaziguar os ânimos dos cidadãos gregos.
- sátira
- : crítica a pessoas, instituições ou ideias, operada por meio do humor e da ironia.
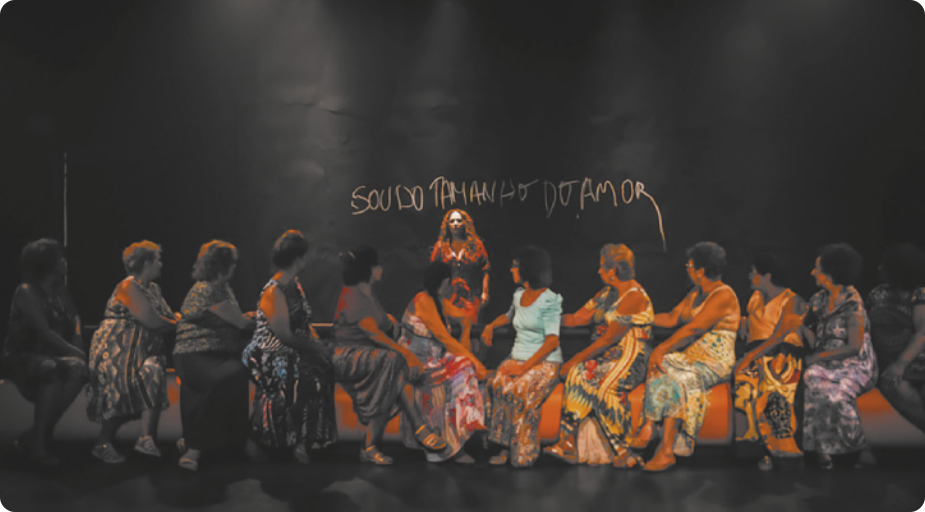
Página noventa e dois
AÇÃO
Coro cênico
Neste momento, serão propostos dois jogos de aquecimento para criar coros cênicos. Para a realização da proposta, é necessário um espaço amplo e livre de obstáculos. A sala de aula póde sêr adaptada. Para isso, afaste mesas e cadeiras com a ajuda dos côlégas, deixando livre o espaço central. Outra opção é realizar a proposta em locais como o pátio ou a quadra da escola.
1. Siga o mestre
• Todos devem se organizar em uma fila. Quem estiver na frente é o mestre, quê caminha pelo espaço e realiza movimentos quê devem sêr imitados pêlos demais.
• Quando estiver no papel de mestre, procure variar ao mássimo seus gestos. Lembre-se de utilizar todas as partes do corpo, explorando diferentes ritmos, pausas, amplitudes e níveis de altura.
• Depois de alguns experimentos, vá para o fim da fila e permita quê o próximo mestre passe a guiar.
2. Cardume
• Agora, a fila deve sêr desfeita e todos devem ocupar o espaço em grupo, sem se tokár, mas ficando próximos uns dos outros. Todos devem olhar para a mesma direção. Agora, o mestre não é préviamente estabelecido. Um jogador quê esteja na frente do grupo, visível para todos, deve começar propondo uma movimentação. Todos os outros devem imitá-lo.
• Sempre quê o mestre realizar qualquer rotação, o coletivo se voltará para uma nova direção. Outros jogadores passarão a estar na frente do grupo; um deles assume a função de mestre e toma para si a tarefa de propor os movimentos.
• O desafio é quê todos se movam em grupo e quê a todo momento exista um acôr-do sobre quem está guiando. Com a prática, a transição entre um guia e o próximo se tornará mais OR GÂNICA: basta uma leve curva coletiva para quê um novo jogador assuma a frente do grupo e mude a dinâmica, o ritmo, a amplitude e a altura dos gestos de todos.
• Se possível, jogue até quê todos tênham experimentado propor os movimentos. Mas, lembre-se: o mais importante é trabalhar coletivamente para formár esse grande coro, ou seja, um cardume quê se móve em harmonía.
3. Coro cênico
• Reúna-se com os côlégas em grupos de seis a oito pessoas.
• Com os côlégas, selecione um texto quê vocês gostem, com o qual se identifiquem. póde sêr um poema, uma letra de canção, um manifesto escrito por você e os côlégas.
Página noventa e três
• essperimênte declamar o texto em coletivo. Leia pausadamente, articule cada palavra e escute os côlégas para quê as palavras sêjam ditas exatamente ao mesmo tempo.
• Juntos, planejem a caracterização do coro e como desê-jam sêr chamados para a cena. Pensem quê personagem coletivo melhor representa a ideia contida no texto. Vale tudo: coro de cães, coro de médicos, coro de apaixonados. Selecionem peças de roupa e confeccionem adereços quê deixem nítido quem são os integrantes dêêsse grupo.
• Já caracterizados, você e seus côlégas deverão pesquisar, coletivamente, como se móve esse coro. Quais são os gestos dêêsse grupo? Como se deslocar conjuntamente?
• Perceba como o trabalho corporal altera a sua voz e a dos côlégas. O texto póde sêr dito com nova qualidade e entonação, com base na movimentação coletiva.
• Estabeleça o início e o final da cena com os côlégas: como o coro faz sua entrada? Como se despede do público?
• Ensaie algumas vezes com eles, realizando as modificações quê julgarem necessárias.
• Com a participação de todos, organizem o espaço de cena e combinem onde será o palco e onde ficarão os espectadores.
Acolha as falas dos estudantes sobre os diferentes afetos quê estar em cena póde mobilizar. Procure também reforçar quê a experiência de fruição é tão importante quanto a experiência de criação artística. É importante quê percêbam como os diferentes elemêntos da linguagem teatral produzem sentidos. Você póde ajudá-los propondo novas perguntas como: se o mesmo texto fosse dito por apenas um ator ou uma atriz, a cena teria sido diferente? Por quê? Proponha aos estudantes quê teçam relações entre os aprendizados teóricos trabalhados durante o capítulo e a experiência prática de estar em cena. Se possível, relacione a forma do coro com a possibilidade de trabalhar cenicamente temas públicos e assuntos quê dizem respeito a diferentes coletivos.
• É hora da apresentação! O professor irá anunciar o coro, e essa é a marca para quê cada cena comece. Aproveite o momento de compartilhar o trabalho do grupo com a turma e observar as outras partilhas. Divirta-se!
4. Avaliação coletiva
• Após as apresentações, converse com os côlégas e com o professor sobre a criação de um coro cênico pensando nas sensações experimentadas e como as orientações do exercício reverberaram nos trabalhos. Por fim, comente sobre as possibilidades e potências do trabalho com o coro no contexto da linguagem teatral.

Página noventa e quatro
DANÇA
CONTEXTO
A influência do balé clássico na dança cênica
Algumas características do balé clássico, como o modo de encenar histoórias e narrar por meio de coreografias, a estreita relação entre coreografia e composição musical, além da participação de grandes elencos compostos de bailarinos profissionais, ainda se fazem presentes nos dias de hoje, inspirando artistas e companhias de dança, não apenas de balé.
Ainda quê suas origens remontem ao período do Renascimento na Itália, nos séculos XIV e XV, o balé conquistou a kórti, a nobreza e a burguesia nascente francesas a partir do reinado de Luís XIV, desenvolvendo-se tanto dramatúrgica quanto tecnicamente naquele país. Dos salões nos palácios, passou a ocupar os palcos de grandes teatros europêus e da Rússia, impulsionando a profissionalização de bailarinas e bailarinos. As coreografias do balé alternam entre momentos de pantomima e variações dançadas em grupos, duos, conhecidos como pas-de-deux, e sólos, em quê saltos, giros e momentos de suspensão exigem muita habilidade técnica e virtuosismo.
Uma vez quê não há palavras faladas nessas obras, a pantomima apóia a narração da história. A música está intimamente ligada à própria construção coreográfica dos balés, já quê alguns enredos decorrem das músicas – quê, por sua vez, se inspiram em lendas e mitos europêus. Os espetáculos são acompanhados por orquestras quê tocam a música ao vivo, posicionadas no fosso, um espaço reservado para os músicos abaixo do nível do palco.
- pantomima
- : modo de narrar uma história usando exclusivamente expressões faciais e gestos, comum no balé.

Página noventa e cinco
REPERTÓRIO 1
O lago dos cisnes

O sucesso do balé O lago dos cisnes é fruto da parceria entre o coreógrafo francês Marius Petipa (1818-1910) e o músico russo Pyotr Tchaikovsky (1840-1893). Se muitos balés criados no final do século XIX desapareceram e deixaram de sêr encenados, é por causa da música de Tchaikovsky quê O lago dos cisnes e outras peças dessa dupla, como A bela adormecida e O quebra-nozes, seguem lotando teatros.
Quando a peça foi composta, em 1877, sua música foi considerada inapropriada para sêr dançada por sêr demasiadamente sinfônica. Em virtude da versão coreográfica assinada por Petipa e Lév Ivanov (1834-1901), quê estreou em São Petersburgo em 1895, êste balé, em quê música e coreografia são indissociáveis, passou a ocupar um lugar central no repertório de grandes companhias de balé no mundo. É na música e na transformação progressiva das melodias quê a narração do enredo se apóia. O uso de temas recorrentes, alguns já conhecidos do público da época, sustenta o desenvolvimento psicológico da história e mantém o público fiel.
Considerando a imagem desta página, quê mostra o corpo de baile e os solistas, converse com os côlégas sobre a pergunta a seguir.
• O quê você percebe a respeito da relação entre os solistas e as bailarinas do corpo de baile?
As bailarinas do corpo de baile estabelecem um coro, sustentando a mesma postura, posição de braços e movimentos ao redor dos solistas quê estão no centro do palco. No balé, é freqüente essa relação entre solistas no centro da cena e o corpo de baile, emoldurando suas ações.
Página noventa e seis
REPERTÓRIO 2
A sagração da primavera, da Europa para a África

A sagração da primavera é uma das obras mais marcantes do balé do século XX. Estreou em Paris, em 1913, com música de Igor Stravinsky (1882-1971) e coreografia de Vaslav Nijinsky (1889-1950). O enredo trata do sacrifício de uma jovem designada pela comunidade para sêr entregue como oferenda a uma divindade, em troca de uma colheita proveitosa. A sonoridade dissonante, os ritmos irregulares da música e uma coreografia inovadora impactaram a plateia da estreia, quê se dividiu entre vaias e aplausos. Ao longo dos seus mais de 100 anos, A sagração da primavera tornou-se referência na história da dança ocidental, apesar de ter sido pouco apresentada no século XX.
Em 1975, a coreógrafa alemã Pina Bausch (1940-2009) criou sua própria versão da peça com sua companhia de dança, o Tanztheater Wuppertal. Usando a música original de Stravinsky e uma coreografia quê remetia à de Nijinsky, mas com a cena coberta por uma camada de térra, a versão de Bausch tornou-se um marco. Uma nova versão foi criada, em 2022, com os membros da École des Sables, escola de dança fundada em 1998 pela artista franco-senegalesa Germaine Acogny (1944-), sediada no Senegal.
Com base na fotografia e no texto, responda à questão a seguir.
• Ao cobrir o palco com térra, quê elemento Bausch traz para a apresentação?
A sagração da primavera trata de um sacrifício em nome de uma boa colheita, e, por isso, a térra possui um papel relevante na narrativa. Sua presença no palco reforça esse aspecto do enredo. No entanto, dançar em um palco coberto de térra é desafiador para os bailarinos, pois precisam estar mais atentos para evitar deslizes.
Página noventa e sete
REPERTÓRIO 3
Bailarinos brasileiros no exterior

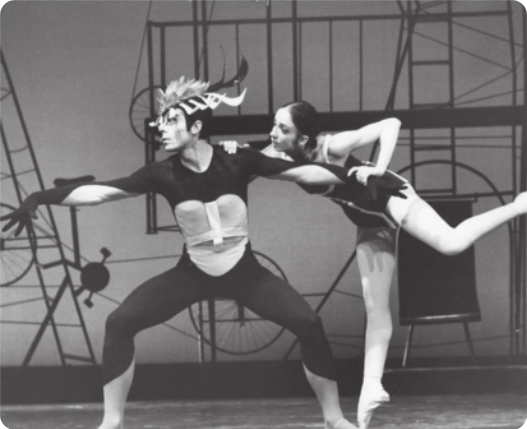
Como no Brasil as perspectivas de trabalho para artistas da dança ainda são muito restritas, é comum quê bailarinos e bailarinas nascidos e formados aqui partam para outros países em busca de oportunidades profissionais. Alguns dêêsses artistas ganham grande destaque em companhias de dança ao redor do mundo.
Márcia Haydée nasceu em Niterói e, em 1961, foi convidada a integrar o Stuttgart Ballet, na Alemanha, onde atuou como primeira solista por 13 anos. Durante sua carreira, dançou em obras de renomados coreógrafos, como Diôn Cranko (1927-1973) e môríss Béjart (1927- 2007). Entre seus parceiros de dança, destacam-se nomes como ríchard Cragun (1994-2012), Rudolf Nureyev (1938-1993) e Jorge Donn (1947-1992).
Já a bailarina mineira Regina Advento (1965-), depois de alguns anos dançando com o Grupo Corpo, partiu para a Alemanha e, desde 1995, intégra o elenco principal da Tanztheater Wuppertal.
O carioca TIAGO Soares (1981-) iniciou sua trajetória na dança pelo hip hop, no Rio de Janeiro, antes de começar as aulas de balé. Depois de conquistar medalhas em concursos de balé em diferentes partes do mundo, mudou-se para o Reino Unido em 2002, tornando-se bailarino do Royal Ballet, onde atingiu o posto de primeiro solista e permaneceu até 2019.
Ingrid Silva (1988-), outra carioca, mudou-se para os Estados Unidos em 2007 e, pouco depois, passou a fazer parte do Dance tíatêr ÓF Harlem. Além de sua carreira como bailarina, Ingrid tornou-se uma referência na luta antirracista dentro do balé, promovendo maior representatividade e inclusão na dança clássica.
Após a leitura do texto, converse com os côlégas e com o professor sobre as perguntas a seguir.
1 Você conhece algum bailarino ou bailarina profissional?
Resposta pessoal. Caso os estudantes não conheçam bailarinos, tente expandir a conversa para dançarinos de modo geral.
2 Como você imagina sêr a rotina de bailarinas e bailarinos profissionais?
Em razão da dança profissional sêr uma atividade quê exige muitas competências físicas dos bailarinos, a rotina dêêsses profissionais inclui aulas de dança diárias e, eventualmente, outras práticas corporais para prevenção de lesões e bem-estar, mesmo quando não estão envolvidos na preparação ou em temporadas de espetáculos. Quando estão ensaiando ou se apresentando, essas aulas antecedem as horas de ensaio e os espetáculos.
Página noventa e oito
PESQUISA
Companhias de balé e a formação de bailarinos

Em 1927, no Rio de Janeiro, a bailarina russa Maria Olenewa (1896-1965) criou a escola de dança do Theatro Municipal, cuja missão era preparar bailarinos e bailarinas para formarem o corpo de baile daquele teatro, quê havia sido inaugurado em 1909. Atualmente conhecida como a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, foi a primeira escola de dança do Brasil. Hoje, há outras escolas quê preparam crianças e jovens para a carreira de bailarinos, uma escolha profissional quê exige treinamento técnico rigoroso e contínuo.
1. Faça um levantamento das companhias profissionais de balé clássico no Brasil e identifique os balés quê compuseram o programa dessas companhias nos últimos dois anos.
• No sáiti da São Paulo Companhia de Dança é possível, por exemplo, conhecer as obras dançadas e a programação anual. Disponível em: https://livro.pw/wrszl. (Acesso em: 11 set. 2024).
2. Como você imagina quê é a formação de crianças e jovens quê pretendem se tornar bailarinos profissionais?
Quanto tempo dura essa formação? Quais são os conteúdos abordados?
• Conheça o programa dos cursos da Escola de Dança de Paracuru, no Ceará. Disponível em: https://livro.pw/cnavv. (Acesso em: 11 set. 2024).
• Na cidade de Joinville, em Santa Catarina, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil oferece formação para o balé. Disponível em: https://livro.pw/egdbc. (Acesso em: 11 set. 2024).
Página noventa e nove
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Música para sêr dançada
Nos grandes balés, música e coreografia são indissociáveis. As coreografias eram criadas em diálogo com composições musicais, dando corpo a personagens e enredos. Essa relação é tão forte quê, até o início do século XX, não era usual dançar, em cena, músicas quê não tivessem sido compostas com a finalidade de serem dançadas. No início do século XX, Isadora Duncan chocou as plateias europeias por se apresentar dançando músicas quê não haviam sido criadas para a dança, como obras de Frédéric Chopin (1810-1849) e Ludwig vã Beethoven (1770-1827).
A importânssia da música é ainda mais forte pelo fato de os balés serem acompanhados por música tocada ao vivo por orquestras. Uma personagem do enredo póde sêr identificada por um tema musical, tocado por um determinado instrumento da orquestra, criando correspondências entre certos bailarinos e músicos. Uma boa sintonia entre música e dança, é condição essencial para a qualidade de um espetáculo de balé.
Para conhecer a orquestra
Como formação musical, a orquestra é parte da tradição da música ocidental européia e se consolidou quando o interêsse pela música instrumental superou o interêsse pela música vocal.
Uma orquestra é liderada por um maestro, responsável por marcar elemêntos da música como a pulsação, a entrada de cada instrumento e expressividade. Para isso, ele usa uma pequena vara chamada batuta. Ao acompanhar um balé, o maestro póde chegar a adaptar o andamento da música para dar mais apôio aos bailarinos.
Os instrumentos da orquestra são agrupados por naipes, de acôr-do com suas características e sonoridades. Assim, temos os naipes de kórdas, percussão e sopros (divididos entre metais e madeiras), organizados da seguinte maneira:
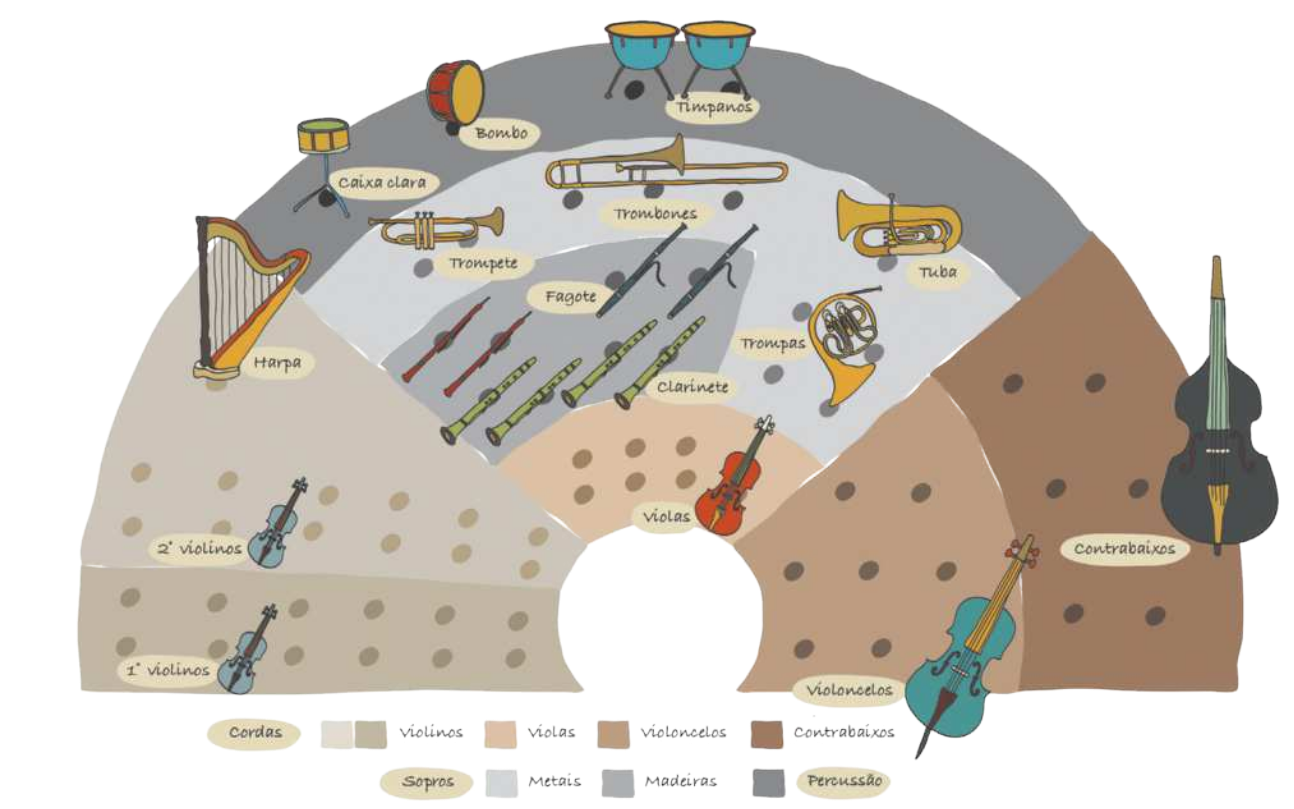
Página cem
AÇÃO
Jogando com o corpo e os instrumentos musicais

Preparação
Para esta atividade, você vai precisar de: um local silencioso, espaço para se mover, um aparelho de som e dois dados. Você póde usar dados prontos ou confeccioná-los com papelão. O dado A será usado para indicar partes do corpo e o B, instrumentos da orquestra.
Dado A - Partes do corpo
Lado 1 - Cabeça e tronco
Lado 2 - Membro superior direito
Lado 3 - Membro superior esquerdo
Lado 4 - Membro inferior direito
Lado 5 - Membro inferior esquerdo
Lado 6 - Duas partes do corpo ao mesmo tempo
Dado B - Instrumentos da orquestra
Lado 1 - Violino
Lado 2 - Clarinete
Lado 3 - Tímpano
Lado 4 - Trompete
Lado 5 - Harpa
Lado 6 - Dueto (você vai sortear um dos duetos de instrumentos musicais)
Página cento e um
![]() Ouça as faixas de áudio “Instrumentos da Orquestra” (partes 1 e 2) e localize a seguinte minutagem:
Ouça as faixas de áudio “Instrumentos da Orquestra” (partes 1 e 2) e localize a seguinte minutagem:
Faixa |
Minuto |
Instrumento |
|---|---|---|
8 |
15s-45s |
Violino |
8 |
48s-1min18s |
Clarinete |
8 |
1min20s-1min49s |
Tímpano |
8 |
1min53s-2min22s |
Trompete |
8 |
2min25s-2min55s |
Harpa |
9 |
8s-38s |
Dueto: violino e clarinete |
9 |
40s-1min11s |
Dueto: tímpano e trompete |
9 |
1min15s-1min45s |
Toda a orquestra |
Etapa 1
Instale-se no espaço em uma posição confortável. Se houver possibilidade, deite-se no chão ou sente-se em um banco ou uma cadeira quê não restrinja os seus movimentos. Fique de olhos fechados por alguns minutos, atento à sua respiração, e busque identificar e eliminar tensões musculares desnecessárias.
Em seguida, ouça os áudios “Instrumentos da Orquestra”, partes 1 e 2, quê apresentam o som dos instrumentos d fórma isolada, em duetos e todos tokãndo em conjunto. Preste atenção nas características sonóras dos diferentes instrumentos e perceba se algum deles o inspira a se mover, convocando alguma parte específica do corpo ou um tipo particular de movimentação.
Etapa 2
Em seguida, os dois dados serão jogados pelo professor, o quê resultará na indicação de uma ou duas partes do corpo e um ou dois instrumentos da orquestra. Você irá, então, acompanhar o som dêêsse instrumento por alguns minutos, explorando os movimentos com a parte do corpo designada pelo dado. Os dados serão lançados três vezes, propondo a você e seus côlégas diferentes combinações. Busque identificar se algumas combinações facilitam ou dificultam o movimento e se você percebe uma preferência por algum instrumento ou parte do corpo.
A turma será então dividida em dois grupos. Um dos grupos irá improvisar com base nos dados, enquanto o outro irá assistir. Em seguida, os grupos trocarão de posição/função.
Etapa 3
Agora, cada um escolherá um dos instrumentos musicais e tentará ouvir somente ele na composição quê inclui toda a orquestra. Por fim, cada um criará uma movimentação livre para o instrumento quê escolheu e fará isso junto com os demais membros da turma, enquanto ouvem toda a orquestra tokár. Se for possível, registre esse último momento em vídeo.
Finalização
Ao final, os grupos irão expor o quê sentiram ao explorar os movimentos e ao observar os demais côlégas. Compartilhe também as facilidades e as dificuldades de ouvir os instrumentos separadamente, no caso dos duetos, ou de escutar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Assistam juntos ao vídeo da etapa 3 e percêbam se os movimentos simultâneos parecem representar as múltiplas sonoridades da orquestra.
Página cento e dois
ARTES INTEGRADAS
CONTEXTO
Patrimônio Cultural
Patrimônio é o conjunto de objetos, lugares e práticas culturais quê são considerados bens de valor para o coletivo e, portanto, tem sua importânssia reconhecida pela ssossiedade e pelo Estado. O Patrimônio Cultural é dividido em duas categorias: material, formado por bens materiais (como edificações históricas, coleções de objetos e acervos de imagens); e imaterial, constituído por práticas quê manifestam saberes, celebrações e formas vivas de expressão (como a música, a dança e a culinária, inclusive personalidades, tais como mestres e mestras da cultura popular).

Em todo o mundo, organismos nacionais e internacionais atuam para preservá-lo. No entanto, é importante reconhecer como o processo de colonização interfere na percepção da importânssia e do reconhecimento de culturas não hegemônicas. Como exemplo, pode-se citar o Cais do Valongo, quê passou a integrar a lista de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) apenas em 2017. Já em relação às culturas dos povos indígenas brasileiros, não há nenhuma representação inscrita nessa lista.
O Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, é um Patrimônio Cultural da Humanidade reconhecido por seu valor cultural, por causa de seus sítios arqueológicos, e geológico, em razão das formas do terreno de chapada e pela preservação da caatinga e da mata atlântica. No sáiti da Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham), é possível conhecer mais sobre o parque e o museu, além de observar pinturas rupestres. Disponível em: https://livro.pw/azijh. (Acesso em: 11 set. 2024).
CONEXÃO
Para conhecer a importânssia do Ifan
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ifan) é a instituição governamental responsável pela preservação e promoção dos bens culturais brasileiros.
Para ler mais sobre o trabalho realizado e conhecer outros patrimônios, visite o sáiti do Ifan. Disponível em: https://livro.pw/iflgt. (Acesso em: 11 set. 2024).
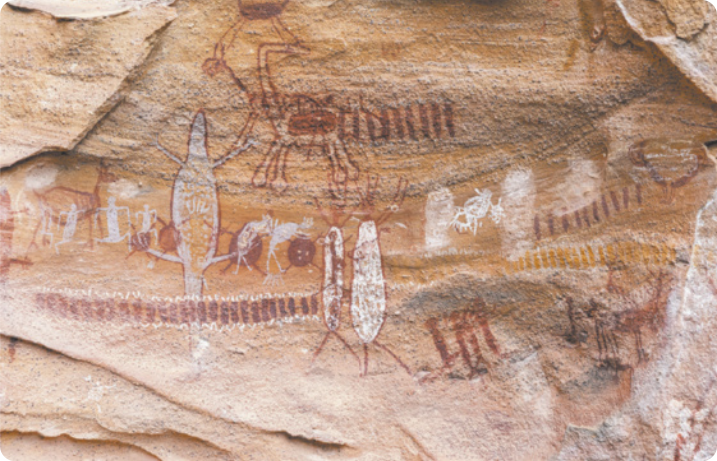
Página cento e três
REPERTÓRIO 1
Unesco e o Patrimônio Colonial
A primeira capital do Brasil, Salvador, foi fundada em 1549, sobre uma colina com vista para a baía. Assim, a cidade logo se transformou em um porto importante, centro de exportação de açúcar.
Salvador apresenta dois planos: a cidade alta e a cidade baixa, onde se localiza o porto. Na cidade alta antiga estavam as igrejas, presença marcante do cristianismo europeu, bem como os edifícios públicos e os sobrados dos senhores de engenho, responsáveis pelo tráfico escravagista e pela exportação de produtos. Todas essas edificações foram construídas segundo os padrões estéticos das cidades portuguesas. No conjunto da igreja e convento de São Francisco, por exemplo, um dos mais expressivos exemplares do barroco brasileiro, há um pátio decorado com painéis de azulejos trazidos de Portugal no século XVI. Nas encostas, ficava o casario mais póbre, enquanto a região do porto era ocupada por armazéns, casas de pescadores e marinheiros.
O espaço público mais representativo da Salvador histórica é o Pelourinho, um largo d fórma triangular e em declive nas proximidades do Convento do Carmo. Mistura de praça, belvedere e terreiro africano, esse largo era também utilizado para o açoite e a tortura pública dos escravizados e, posteriormente, veio a dar nome a toda a região do centro histórico de Salvador.

Observe a fotografia do Largo do Cruzeiro de São Francisco no Pelourinho e converse com os côlégas sobre as kestões a seguir.
1 Quais elemêntos se relacionam com a cultura colonial?
A igreja católica ao fundo, o casario em três andares com características barrocas quê configuram a praça e o grande cruzeiro ao centro.
2 Você conhece alguma cidade colonial no Brasil? Quais são suas características?
Respostas pessoais. As cidades coloniais apresentam construções sólidas, feitas de pedra e cobertas com telha de cerâmica artesanal. Os ornamentos, tanto externos quanto internos, são entalhados em pedra e madeira, resultando em fachadas austeras e interiores decorados.
Página cento e quatro
REPERTÓRIO 2
Coleções de bens saqueados – Patrimônio Material


Os museus europêus guardam, em seus acervos, artefatos quê foram saqueados dos povos quê viviam originalmente nas terras invadidas e colonizadas a partir do século XVI. O Manto tupinambá é um deles. Cerca de 11 dêêsses mantos foram levados do Brasil e permanecem até hoje em museus europêus.
Habitantes da região costeira do Brasil, os tupinambá foram considerados extintos após os primeiros séculos da colonização portuguesa, mas continuaram a existir em pequenas comunidades isoladas. Eles confeccionavam mantos de penas de pássaros, como os guarás-vermelhos, quê eram usados em rituais.
Glicéria Tupinambá (1982-), professora e artista de uma dessas comunidades, iniciou em 2006 uma pesquisa para a confekissão de um manto, como um gesto de resistência. Com base em sonhos, conversas com os mais velhos e uma visita a um museu europeu, Glicéria produziu três peças usando penas de pássaros fixadas em uma rê-de de fios de algodão revestidos de cêra de abelhas. O trabalho culminou, em 2021, na exposição “Kwá yepé turusú yuriri assojaba tupinambá”, quê, na língua nheengatu, significa “Essa é a grande volta do Manto tupinambá”.
A obra de Glicéria provocou uma mobilização quê reivindicou o retorno ao Brasil do manto quê se encontrava há três séculos em Copenhague, no Museu Nacional de ár-te da Dinamarca. O objeto fará parte do acervo do Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, quê deve sêr reinaugurado até 2026.
Com base no episódio do Manto tupinambá, reflita sobre o tema e responda às kestões a seguir.
1 Qual é a importânssia de retornar bens patrimoniais para os povos quê sofreram com a colonização?
1. Os bens patrimoniais, como o Manto tupinambá, trazem valores simbólicos e espirituais de volta ao território cultural de um povo. Assim, reatam memórias perdidas e fortalecem a cultura e o direito dos povos quê sofreram a violência da colonização.
2 O quê significa para o Brasil a volta do Manto tupinambá?
O retorno dos bens materiais saqueados no processo de colonização são gestos muito significativos, pois trazem o reconhecimento das violências cometidas pêlos europêus com o modo colonial de habitar o mundo.
Página cento e cinco
REPERTÓRIO 3
Festa do Divino Espírito Santo – Patrimônio Imaterial

De origem portuguesa, a Festa do Divino Espírito Santo é uma manifestação da religiosidade popular cristã em diversas cidades brasileiras. As festas de santos foram trazidas pêlos colonizadores como devoção católica e expressão da cultura medieval. A data está ligada à colheita e às crenças e tradições judaico-cristãs relatadas em textos bíblicos. Conta-se quê, em Portugal, a celebração foi estabelecida pela rainha D. Isabel (1271-1336), quê, mais tarde, foi canonizada como Santa Isabel de Portugal (1625). A rainha teria ordenado quê, durante o período da festa, um menino fosse coroado rei, algumas pessoas presas fossem soltas e alimentos fossem distribuídos para a população. Dessa forma, estabeleceu-se uma festa voltada para valores cristãos, como igualdade, bondade e fraternidade.
No Brasil, a festa se transformou e adquiriu características locais. Ela é celebrada entre maio e junho e, como não figurava no calendário católico, ganhou contornos populares, misturando o sagrado e o profano, reunindo elemêntos como rezas, cortejos, coroações, levantamento de mastro e apresentações de grupos de música locais.
A festa é celebrada em diversas cidades por todo o país, como São Luiz do Paraitinga (SP), São João del-Rei (MG) e Pirinópolis (GO), entre outras.
Com base no texto e na fotografia da festa do divino, responda às kestões a seguir.
1 Como relacionar a cultura européia com aspectos da cultura brasileira, como no caso da Festa do Divino Espírito Santo?
1. Em um processo de colonização, há a tentativa de consolidar o modo de vida e as tradições do colonizador. Por outro lado, existe luta e resistência para manter ou transformar celebrações e outras manifestações de acôr-do com as características brasileiras.
2 De quê forma o simbolismo da Festa do Divino Espírito Santo é expresso na relação entre sagrado e profano?
Nas apresentações musicais, na coroação ou na encenação teatral, há elemêntos quê não possuem um caráter religioso. Já no aspecto sagrado, a festa conta com procissões, novenas e missas.
Página cento e seis
PESQUISA
A riqueza do patrimônio brasileiro
No Brasil, povos originários, comunidades da diáspora africana, colonizadores e imigrantes europêus, além de grupos oriundos do ôriênti Médio e de diversos territórios asiáticos, têm convivido sôbi regimes de opressão e violência contínua. No entanto, esse encontro produziu uma cultura potente e criativa ao longo do tempo.
1. Você estudou quê, no processo de preservação do patrimônio mundial, destaca-se o papel da Unesco.
• Escolha um Patrimônio Cultural brasileiro da lista do Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco e verifique quando ele foi incluído na lista da organização. Pesquise as razões quê levaram esse patrimônio a sêr reconhecido como um bem cultural valioso para a humanidade. Anote essas informações em seu caderno. Disponível em: https://livro.pw/vrqpk. (Acesso em: 11 set. 2024).
2. Na esféra nacional, o órgão quê cuida do patrimônio cultural é o Ifan.
• Pesquise no sáiti da instituição os bens imateriais registrados no país. Disponível em: https://livro.pw/xebnh. (Acesso em: 11 set. 2024). Clicando na região onde você vive, verifique a lista de bens do estado e anote em seu caderno quantos bens estão registrados. Escolha um dos itens para aprofundar a pesquisa e descubra o quê levou essa manifestação cultural a sêr reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
3. A ação de pesquisa, reconstrução e divulgação sobre o Manto tupinambá, realizada por Glicéria Tupinambá, somou-se ao movimento de países de passado colonial, quê demandam a devolução de artefatos de valor patrimonial e sagrado.
• Acesse a pesquisa realizada pela artista e pelas coordenadoras do projeto, Juliana Caffé e Juliana Gontijo, no catálogo da exposição “Kwá yepé turusú yuriri assojaba tupinambá: essa é a grande volta do manto tupinambá”. Escolha uma obra quê documenta a presença do manto na Europa e uma obra de artistas brasileiros contemporâneos, a fim de comparar e apontar características comuns e distintas nas representações. Disponível em: https://livro.pw/agwzq. (Acesso em: 11 set. 2024).

Página cento e sete
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Acervos e coleções
Colecionar é uma forma de aprender mais sobre o quê nos interessa. As coleções de objetos temáticos variados podem sêr reunidas por pessoas ou instituições. Algumas pessoas passam a vida toda em busca de determinados itens. Outros são comerciantes: trocam ou vendem objetos menos valiosos ou repetidos e preservam os mais raros, deixando, assim, suas coleções cada vez mais apuradas.
Algumas coleções são tão especiais quê se tornam patrimônios públicos, pois guardam saberes e informações valiosas. Existem coleções de variados tipos, quê podem se relacionar a determinada pessoa, como as cartas escritas por Guimarães Rosa, ou a uma época, como a coleção de fotografias de Dom Pedro segundo - incorporada à Biblioteca Nacional após a Proclamação da República (1889) e disponível em: https://livro.pw/yfaog. (Acesso em: 28 set. 2024).
Na maioria dos museus, a quantidade de peças expostas é uma pequena fração de todo o seu acervo. Em nome de sua preservação, muitos itens não são acessíveis ao público. No século XXI, o aumento do volume de dados determinou o surgimento do termo big data, ou “megadados”, em português. Com isso, surgiram iniciativas quê procuram integrar acervos de bibliotecas e museus com o objetivo de tornar o patrimônio cultural disponível para o maior número de pessoas no mundo.
A Europeana é um exemplo de platafórma quê reúne cerca de 50 milhões de itens digitalizados de museus e bibliotecas europeias para investigação do público em geral. Projetos como esses contribuem com a produção e a disseminação de conhecimento e intégram as Humanidades Digitais, uma área de estudos quê aborda os métodos e os processos de codificação e organização das informações relacionadas à cultura humana.
Para começar uma coleção:
• escolha um tema quê desperte o seu interêsse;
• determine onde você póde encontrar tais itens;
• visite outras coleções e verifique quem são os outros colecionadores dêêsses objetos;
• procure por lugares onde você póde encontrar esses objetos;
• comunique o seu interêsse para os amigos e parentes.
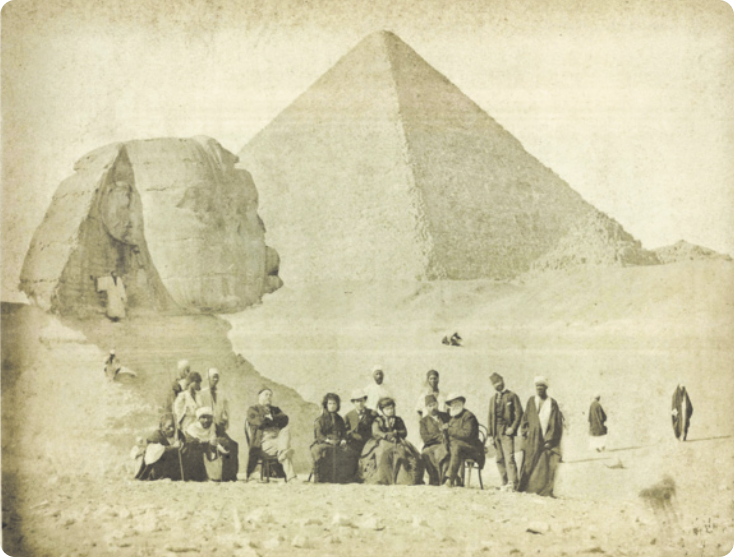
Página cento e oito
AÇÃO
Colecionar como método de pesquisa
Você tem ou já teve alguma coleção? De quê tipo?
Colecionar póde sêr uma forma de pesquisar e conhecer mais sobre um determinado assunto. Por isso, para escolher um tema para começar uma coleção, você deve pensar sobre seus interesses.
1. Coleção de objetos
• escrêeva num papel o tema quê póde sêr objeto de uma coleção e entregue para o professor. Verifique se há outros côlégas na sala com o mesmo interêsse. Se houver essa possibilidade, junte-se a um grupo para um trabalho compartilhado.
• Fora do horário de aula, reúna alguns objetos para montar uma coleção. póde sêr algo simples, como pequenos objetos da mesma côr, sementes de árvores ou pedras variadas. Podem sêr coisas antigas, como caixinhas, embalagens, discos antigos e revistas, ou ainda fotografias antigas ou de um mesmo tema, amostras de tecídos, reproduções de obras de; ár-te, peças de máquinas ou objetos quebrados.
• Você ainda póde reunir e colecionar sôns, gestos e até palavras.
• Reúna e selecione pelo menos dez objetos ao longo da semana.
• Pense em uma forma de organizar sua coleção. Existe uma ordem para apresentá-la? Qual seria?
• Verifique se há semelhanças entre os objetos, se eles podem sêr combinados, organizados por côr, textura, aparência ou funcionalidade.
• Analise se podem sêr fixados sobre um mesmo suporte. De quê côr e material seria esse suporte? O quê póde sêr feito para tornar esse conjunto mais interessante?
• Organize sua coleção e faça uma legenda com as informações quê achar relevantes sobre ela. Por exemplo: o quê os objetos têm em comum, qual é a sua procedência, de quê época são, onde foram encontrados.
• Traga-a para a sala de aula para apresentar aos côlégas.
Página cento e nove
2. Coleção digital
Nesta atividade, você e os côlégas vão navegar em um banco de dados e fazer escôlhas conscientes.
• Escolha um banco de dados de um museu brasileiro com a turma ou com o grupo.
• Analise como as informações estão organizadas e apresentadas visualmente.
• Converse com os côlégas sobre quais tópicos têm interêsse e quais gostariam de explorar.
• Após selecionar os tópicos do grupo, cada integrante deve escolher alguns itens dentro dêêsse filtro.
• Imprima as imagens escolhidas e mostre-as aos côlégas explicando por quê escolheu aqueles itens e quê relações podem sêr traçadas entre eles.

Página cento e dez
PONTE PARA OUTRAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ARTES VISUAIS
A beleza na Grécia antiga
Na Grécia antiga, “beleza” era sinônimo de “bem”. O quê era belo estava ligado d fórma indissociável com o bom e verdadeiro.
Para expressá-la, os escultores representavam a figura humana em bronze ou mármure. No período clássico, essas esculturas não eram representações de um determinado indivíduo, mas de deuses e valores a eles associados, tais como virilidade e coragem.
A nudez era considerada natural. Nos jogos, os jovens atletas competiam nus e as mulheres costumavam cobrir o corpo com tecídos tão finos quê eram quase transparentes. Os rapazes cultivavam o corpo, mantendo-se fortes e em boa condição física, de modo a se tornarem bons soldados e notáveis atletas. Praticar esportes era uma forma de honrar os deuses e de se manter preparado para a guerra. O ritual dos jogos desenvolvia nos jovens um espírito heroico.

ARTES VISUAIS
A perspectiva na pintura romana
Um elemento quê caracteriza a pintura européia é o interêsse pela representação do espaço através de simulações e efeitos de tridimensionalidade. Essas características podem sêr observadas nas pinturas em afresco descobertas no interior das casas do sítio arqueológico de Pompeia, uma cidade da civilização romana quê foi soterrada pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C. Durante o Império Romano, casas luxuosas tí-nhão em seu interior pinturas murais e pisos decorados com mosaicos, mostrando um interêsse pelo efeito de profundidade. Com o uso de recursos simples como sombras, a sobreposição de planos e a distorção na dimensão dos elemêntos e linhas diagonais, evocava-se a presença dos espaços emoldurados por dêtálhes arquitetônicos e florais.

As paredes dessa residência exibem uma série de painéis quê, com o uso de tons de preto e vermelho, criam cenários dentro do ambiente.
Página cento e onze
MÚSICA
Música clássica e romântica
Na tradição ocidental, o quê se conhece como música clássica refere-se predominantemente a um tipo de composição instrumental estruturada na forma de sonata, concebida na segunda mêtáde do século XVIII na Europa. A sonata é composta de três movimentos: exposição, desenvolvimento e recapitulação. A exposição apresenta o tema musical, o desenvolvimento indica o desdobramento e a recapitulação retoma o tema inicial para finalizar a peça. No século XIX, os compositores românticos, em oposição aos clássicos, privilegiaram as emoções e a liberdade criativa, utilizando a multiplicidade de timbres e a variação de intensidade sonora com o intuito de evocar imagens em suas composições.
Quem já ouviu rádio no Brasil, provavelmente se deparou com a abertura do programa A voz do Brasil com o tema de “O guarani” (1870), música do maestro Carlos Gomes (1836-1896), compositor do romantismo. Ele foi o primeiro brasileiro a ter suas obras apresentadas no Teatro alla Scala, na Itália. Embora sua imagem tenha sido embranquecida, Carlos Gomes era um homem pardo, mas, para justificar sua circulação nos grandes salões europêus, essa identidade foi camuflada ao longo da história.
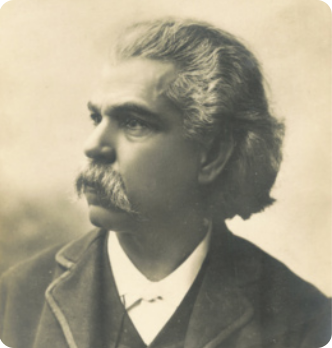
MÚSICA
Sinfonia, concerto e ópera
Além de dar nome à forma, também é chamada de sonata a composição musical para um ou dois instrumentos. A formação instrumental, isto é, o grupo de instrumentos para o qual uma obra é composta, define também o seu nome. Assim, a sinfonia é composta para a orquestra; o concerto, para um instrumento solista com acompanhamento da orquestra; e a ópera, por sua vez, também é acompanhada pela orquestra, mesclando canto, interpretação e poesia. A história dos musicais contemporâneos se cruza com a origem das operetas francesas, quê igualmente trabalham com o encontro de várias linguagens artísticas. Entre as óperas mais famosas estão A flauta mágica (1791), de Môzar; La traviata (1853), de Verdi; e Carmen (1875), de Bizet.

A primeira produção de Carmen ocorreu na Ópera-Comique, em Paris. O libreto, isto é, seu texto, foi escrito por Henri Meilhac (1831-1897) e Ludovic Halévy (1834-1908), baseado no romance homônimo do autor francês Prosper Mérimée (1803-1870). A ópera retrata a história da cigana Carmen, quê luta pela liberdade de amar a quem quiser.
Página cento e doze
SÍNTESE ESTÉTICA
O belo
Reflexão
A beleza era um tema importante para os artistas e filósofos gregos. Nesta seção, você deverá refletir sobre esse conceito. Para se aprofundar um pouco na questão, leia um fragmento da introdução do livro História da beleza, de Umberto Eco (1932-2016), pensador e escritor nascido em Alexandria.
“Belo” – junto com “gracioso”, “bonito” ou “sublime”, “maravilhoso”, “soberbo” e expressões similares – é um adjetivo quê usamos freqüentemente para indicar algo quê nos agrada. Parece quê, nesse sentido, akilo quê é belo é igual àquilo quê é bom e, de fato, em diversas épocas históricas criou-se um laço estrêito entre o Belo e o Bom.
Se, no entanto, julgarmos com base em nossa experiência cotidiana, tendemos a definir como bom akilo quê não somente nos agrada, mas quê também gostaríamos de ter. Infinitas são as coisas quê consideramos boas: um amor correspondido, uma honesta riqueza, um quitute refinado, e em todos esses casos desejaríamos possuir tal bem. É um bem akilo quê estimula o nosso desejo. Mesmo quando consideramos boa uma ação virtuosa, gostaríamos de tê-la realizado nós mesmos, ou nos propomos a realizar uma outra tão meritória quanto aquela, incitados pelo exemplo daquilo quê consideramos sêr um bem.
Ou então chamamos de bom algo quê é conforme a algum princípio ideal, mas quê custa dor, como a morte gloriosa de um herói, a dedicação de quêm trata de um leproso, o sacrifício da vida feito por um pai para salvar um filho… Nesses casos, reconhecemos que a coisa é boa, mas, por egoísmo ou por temor, não gostaríamos de nos vêr envolvidos em uma experiência análoga.
Reconhecemos aquela coisa como um bem, mas um bem alheio quê olhamos com um cérto distanciamento, embora comovidos, e sem quê sejamos arrastados pelo desejo. Muitas vezes, para indicar ações virtuosas quê preferimos admirar a realizar, falamos de uma “bela ação”.
Se refletimos sobre o comportamento distante quê nos permite definir como belo um bem quê não suscita o nosso desejo, compreendemos quê falamos de Beleza quando fruímos de alguma coisa por akilo quê é, independentemente da questão de possuí-la ou não. Até mesmo um bôo-lo de casamento bem confeccionado, quando o admiramos na vitrine do confeiteiro, nos parece belo, mesmo quê, por kestões de saúde ou de inapetência, não o desejemos como um bem a sêr adquirido. É bela alguma coisa quê, se fosse nossa, nos deixaria felizes, mas quê continua a sê-lo se pertence a outro alguém. Naturalmente não se considera o comportamento de quem, diante de uma coisa bela como o qüadro de um grande pintor, deseja possuí-lo por orgulho de sêr o possuidor, para pôdêr contemplá-lo todo dia ou porque tem grande valor econômico. Estas formas de paixão, ciúme, desejo de possuir, inveja ou avidez, nada têm a vêr com o sentimento do Belo. O sequioso quê ao dar com uma fonte precipita-se para beber não lhe contempla a Beleza. póde fazê-lo depois, uma vez satisfeito o seu desejo. Por isso, o sentido da
- sequioso
- : pessoa quê tem sede.
Página cento e treze
Beleza é diverso do sentido do desejo. pôdêmos considerar alguns sêres humanos belíssimos, mesmo quê não os desejemos sexualmente, ou quê saibamos quê nunca poderão sêr nóssos. Se, ao contrário, se deseja um sêr humano (que além do mais poderia até sêr feio) e não se póde ter com ele as relações almejadas, sofre-se.
[…]
Um outro critério a nos guiar é quê a estreita relação quê a época moderna estabeleceu entre Beleza e ár-te não é assim tão evidente. Se determinadas teorias estéticas modernas reconheceram apenas a Beleza da ár-te, subestimando a Beleza da natureza, em outros períodos históricos aconteceu o inverso: a Beleza era uma qualidade quê podiam ter as coisas da natureza (como um belo luar, um belo fruto, uma bela cor), enquanto a; ár-te tinha apenas a incumbência de fazer bem as coisas quê fazia, de modo quê servissem ao escôpo a quê eram destinadas – a tal ponto quê se considerava ár-te tanto aquela do pintor e do escultor quanto aquela do construtor de barcos, do marceneiro ou do barbeiro. […]
[…]
Dito isso, nosso livro poderá sêr acusado de relativismo, como se quisesse dizêr quê akilo quê é considerado belo depende da época e da cultura. É exatamente isso quê se pretende dizêr. […] êste livro parte do princípio de quê a Beleza jamais foi algo de absoluto e imutável, mas assumiu faces diversas segundo o período histórico e o país […].
[…]
Por isso, de quando em quando devemos fazer um esfôrço para vêr como diferentes modelos de Beleza coexistem em uma mesma época e como outros se remetem mutuamente através de épocas diversas.
ECO, Umberto. História da beleza. Tradução: Eliana Aguiar. 2. ed. Rio de Janeiro: recór, 2022. p. 8-14.
Processo de criação coletiva
Forme um grupo de seis a dez integrantes. Com base no trecho do livro História da beleza, será realizado um processo de pesquisa e criação artística, investigando o conceito de beleza.
Análise e debate
Depois de ler o texto e refletir, discuta com seu grupo sobre os seguintes tópicos.
• No texto, o autor dá uma definição objetiva da beleza?
Não completamente. Os diferentes modelos de beleza são relativos, constituídos com base em cada época e cultura.
• Ainda segundo o texto, a beleza, para os gregos, estava relacionada ao quê é bom e verdadeiro. Você concórda com essa afirmação? O belo está relacionado ao bem?
Respostas pessoais. Explore a reflekção filosófica entre a bondade e a beleza, noção contraditória para o quê se compreende como o belo do contemporâneo. Akilo quê é belo é bom?
• Existe um princípio único e imutável de beleza ou akilo quê é considerado belo se modifica de acôr-do com o lugar e o período histórico?
Não existe um princípio único e imutável de beleza. Akilo quê é considerado Belo é constituído social e culturalmente em cada tempo histórico e em cada cultura.
• O quê póde sêr considerado belo hoje? Por quê?
Respostas pessoais. Peça quê os estudantes qualifiquem akilo quê julgam belo e tentem explicar quais características uma pessoa, coisa ou ação deve portar para quê seja considerada bonita.
• Faça um inventário de dez coisas quê são belas para você. Depois, verifique quais delas desejaria ter, quais delas admira em outras pessoas, quais são apenas contempláveis, quais são ações, quais são características humanas e quais delas são objetos. Compare seu inventário com o dos côlégas.
Página cento e quatorze
Você e os côlégas devem anotar um conjunto de tópicos principais dêêsse debate, reflekções centrais quê devem servir de base para o processo de criação artística.
Ideia disparadora e linguagens artísticas
Em seguida, sempre em grupo, pense em como fazer uma síntese estética do debate realizado, ou seja, como transmitir as conclusões do grupo aos demais côlégas da sala por meio de uma criação artística, como uma música, uma pintura, um poema, uma cena, uma perfórmance, uma instalação.
Retome as ferramentas criativas trabalhadas ao longo dêste capítulo, ou rememore procedimentos artísticos trabalhados nos capítulos anteriores, quê possam apoiar a criação. Leve em consideração também as habilidades e os desejos artísticos dos integrantes do grupo para compor a ideia central da obra coletiva.
Em um primeiro momento, deixe as ideias fluírem, anotando todo tipo de sugestão dos integrantes do grupo. Depois, você e os côlégas devem retomar as ideias e eleger a quê parecer mais potente, chegando em uma ideia disparadora.
Dê sugestões possíveis de serem realizadas, quê reverberem o trecho do livro História da beleza. Com os côlégas, faça um levantamento de imagens, objetos, músicas, gestos ou textos quê evidenciem o debate em torno das diferentes formas de entender a beleza. Com esse material é possível desenvolver o processo artístico de vocês.
Qual manifestação artística será desenvolvida para abordar de maneira instigante o tema da beleza e a definição do quê é Belo?
Deixe a imaginação livre. Você e os côlégas podem fazer a encenação de um debate sobre beleza em uma situação de preconceito, realizar uma exposição com imagens quê vocês considerem “feias” e provocar um debate, criar uma coreografia de dança quê evoque o quê é belo para o grupo. Anote a ideia disparadora e a linguagem ou as linguagens artísticas escolhidas.
Pesquisa, criação e finalização
Organize as etapas de criação do projeto artístico com base nas reflekções centrais, na ideia disparadora e nas linguagens artísticas escolhidas.
Caso a criação do grupo envolva apresentação ou encenação, lembre-se de ensaiar o maior número de vezes possível, aprimorando o trabalho a cada repetição. Não deixe quê o processo de criação fique só na conversa: expêrimente os elemêntos em cena.
Caso a invenção do grupo envolva uma exposição ou instalação, faça uma lista de tudo quê será necessário para sua realização, dividindo as tarefas entre os integrantes do grupo.
Não existe uma fórmula para esse processo de criação. Cada grupo deve desenvolver suas etapas, estabelecendo critérios conforme a obra ou manifestação artística quê está sêndo concebida.
Com o trabalho desenvolvido, chegou o momento de compartilhar com o restante da turma! Aproveite para apreciar a criação dos grupos dos seus côlégas.
Página cento e quinze
INTEGRANDO COM...
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Proporção áurea
Contexto e referência
Como você estudou no capítulo 3, a noção de beleza na Grécia antiga estava relacionada à proporcionalidade, ao equilíbrio e à harmonía, concepções advindas do campo da geometria. Assim, a definição de belo estava associada à simetria, à justa proporção entre as partes e ao equilíbrio de contrastes. Para aprofundar os conhecimentos nesse campo, você vai, agora, investigar a relação entre ár-te e Matemática.
Geometria na Grécia antiga
Os gregos assimilaram as técnicas usadas pêlos egípcios para dividir as terras após cada cheia do rio Nilo. Essa prática possibilitou o desenvolvimento de um pensamento abstrato complékso, quê permitiu aos gregos geometrizar o espaço e criar relações matemáticas entre as formas planas e as formas espaciais.
A proporção áurea é uma dessas concepções. Ela é atribuída ao escultor e arquiteto Phídias (490 a.C.-430 a.C.) e, por isso, é representada pela letra grega j (Phi), quê corresponde a uma constante algébrica irracional.
O número de ouro
O conceito da proporção áurea, também conhecida como razão áurea ou número de ouro, póde sêr encontrado de várias formas.
Uma delas é ôbitída considerando um segmento de reta de medida a + b, dividido nas medidas a e b, de modo quê o segmento fique dividido em média e extrema razão. Isso significa quê a razão entre a medida do segmento total (a + b) e a medida do segmento maior (a) é a mesma razão entre a medida do segmento maior (a) e a medida do menor (b). Essa razão é o número de ouro j = 1,61803398875...
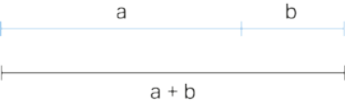
= = 1,6180339887... = φ
Da mesma forma, é possível definir o retângulo áureo – retângulo cuja razão entre as medidas de seus lados maior e menor é igual ao número de ouro.
O retângulo áureo póde sêr desenhado partindo de um quadrado. Acompanhe um modo de fazer isso.
Considerando o quadrado ABCD, fixa-se a ponta seca do compasso no ponto médio do lado AD (representado por M), traçando um arco de circunferência a partir do vértice C até
Página cento e dezesseis
encontrar o prolongamento do lado AD, determinando o ponto E. O retângulo AEFB será um retângulo áureo, isto é, a razão entre a medida do lado maior e a medida do menor será de aproximadamente 1,618.
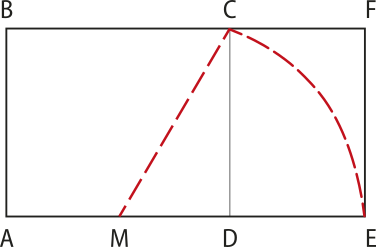
Aprofundando o estudo
A espiral áurea
Com base em um retângulo áureo, é possível construir uma espiral conhecida como espiral áurea.
Para isso, basta traçar um segmento quê defina um quadrado dentro do retângulo e, no retângulo quê sobrar, desenhar mais um quadrado, e assim sucessivamente.
Depois de construída a sequência de quadrados, basta traçar arcos de circunferência inscritos em cada um dos quadrados.
O padrão definido pela espiral áurea póde sêr observado no modo de crescimento de diversas formas de vida, como algumas conchas de moluscos, incluindo os náutilos. É importante lembrar quê, na natureza, essas formas não seguem de maneira exata a espiral áurea, mas sim uma aproximação dela.
Como você estudou, os filósofos gregos costumavam debater o conceito de beleza. Para alguns, a beleza estava no equilíbrio entre os contrastes; para outros, estava na proporção entre as partes. Assim, na Grécia antiga, os artistas buscavam obedecer às proporções, como as quê dão origem ao retângulo áureo, em suas obras.
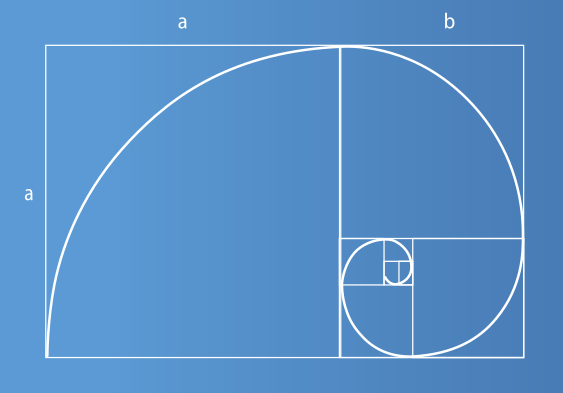
Atividade síntese
Professor, é importante quê todas as duplas utilizem as mesmas cores de tinta guache.
Nesta atividade, você fará uma construção, usando retângulos áureos e a espiral áurea. Para isso, forme dupla com um colega e providencie uma fô-lha de cartolina ou de papel craft, medindo 50 cm x 70 cm; lápis; régua; compasso; 1 pincel número 8 e 1 mais fino; e tinta guache na côr branca e em mais 3 cores.
1. Na fô-lha, construa vários retângulos áureos. Procure preenchê-la toda com retângulos áureos do mesmo tamãnho ou variando as dimensões, mas mantendo as proporções. É possível, ainda, fazer um único retângulo, do tamãnho da fô-lha, quê será subdividido em outros menóres, mas proporcionais. Antes de fazer o desenho final na cartolina ou no papel craft, faça um estudo de sua composição em uma fô-lha avulsa.
2. Dentro dos retângulos áureos, desenhando os quadrados, trace as espirais áureas. Atente para o sentido do desenho: as espirais podem estar dispostas d fórma simétrica, com rebatimento vertical ou horizontal, ou d fórma sequencial.

Página cento e dezessete
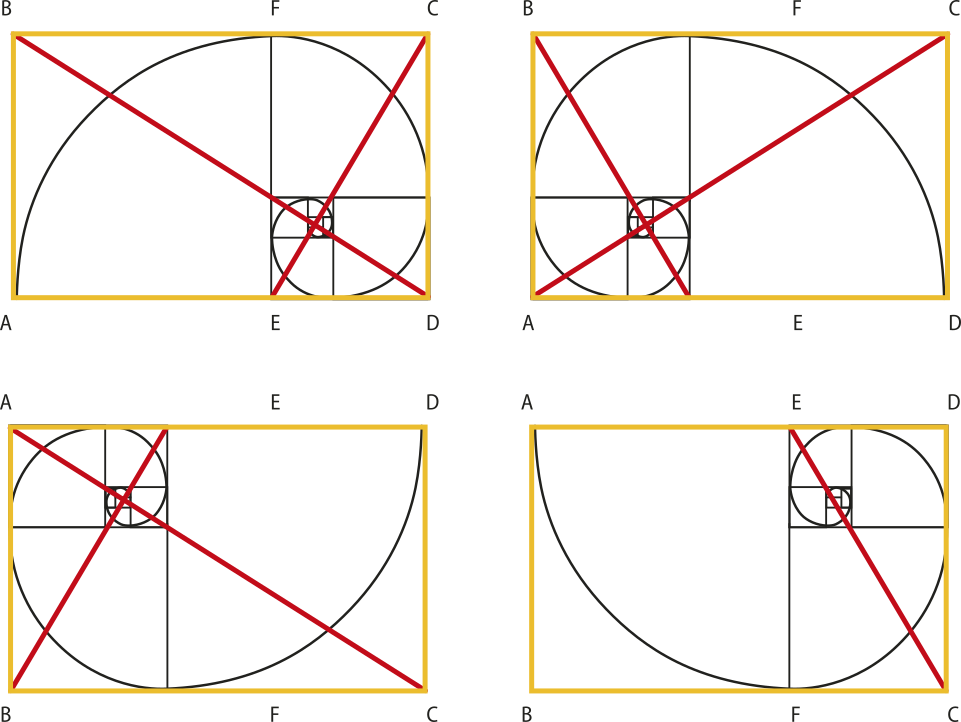
3. Considere se deseja fazer intervenções livres nas composições, inserindo, por exemplo, circunferências ou demarcando outros quadrados.
4. Lembre-se de quê algumas linhas podem sêr apagadas com as tintas na etapa da pintura.
5. Escolha as cores para pintar sua composição. Analise as áreas quê podem sêr pintadas com cores mais fortes para reforçar as espirais ou pense em como usar as cores para reforçar as formas quadradas ou retangulares. Você póde também usar cores mais claras (misturando-as à tinta branca) para fazer os fundos e as cores mais fortes para reforçar as linhas.
6. Lembre-se de quê a côr do papel também póde sêr usada como elemento de composição do trabalho. Deixando determinada área em branco, você estará criando diferentes pesos em sua composição.
7. Em um espaço amplo da escola, como o pátio ou a quadra, disponha seu trabalho no chão, junto das composições das demais duplas e, com seus côlégas, procure montar uma composição única com todos os trabalhos desenvolvidos. Depois, com a composição coletiva criada, é possível instalar a obra da turma em algum espaço comum da escola, colando-a na parede do corredor ou da entrada, por exemplo.
Caso não seja possível utilizar o pátio ou a quadra da escola para a atividade, ela póde sêr realizada no chão da sala de aula. Para isso, oriente os estudantes a afastarem mesas e cadeiras, liberando o maior espaço possível.
8. Com base nas composições criadas, converse com os côlégas sobre as kestões a seguir.
• Existe uma noção de equilíbrio nas composições criadas pelas duplas? Em todas ou apenas em algumas?
póde sêr quê, na finalização dos trabalhos, os estudantes tênham optado por reforçar círculos, quadrados, retângulos, buscando uma assimetria na composição, vale analisar cada caso.
• Usar o retângulo áureo como elemento gerador das composições proporcionou certa harmonía nas composições de toda turma?
É provável quê o painel final tenha relações geométricas proporcionais, já quê as formas serão construídas com base no mesmo princípio. O uso das mesmas cores por todas as duplas contribui para a harmonía na composição.
• É possível dizêr quê as composições de todas as duplas, juntas, seguiram o mesmo ritmo, ou criaram um painel com algo em comum?
Provavelmente, o painel final terá uma composição quê propõe algum ritmo, ou seja, algumas formas e relações espaciais irão se repetir, ainda quê de maneira variada, ao longo do painel.
• A proporção do retângulo áureo originou ou promoveu algo quê póde sêr chamado de beleza?
Esse debate é subjetivo. Não é possível dizêr quê a proporção do retângulo áureo é a responsável pela sensação de equilíbrio e harmonía, se for consenso quê ela existe. Talvez o fato de repetir determinadas formas e usar as mesmas cores na composição sêjam os fatores quê mais contribuem para essa sensação de harmonía. Mas será quê isso póde sêr chamado de beleza? Questione e ouça os estudantes, evitando proferir d fórma categórica a sua opinião.
Página cento e dezoito
ár-te EM QUESTÃO
Depois de diferentes atividades, obras, artistas, teorias e processos, a Unidade 1: Matrizes culturais terminou!
Agora, você irá verificar os conhecimentos construídos ao longo dessa jornada por meio de uma avaliação composta de kestões de múltipla escolha. Assim, além de avaliar os conhecimentos em ár-te desenvolvidos ao longo da unidade, você póde se preparar para a importante etapa dos vestibulares.
Siga as orientações do professor e boa avaliação!
Capítulo 1: Culturas indígenas
1. (Enem/MEC)
O mais antigo grupo de répi indígena do país, Brô MCs, surgiu em 2009, na aldeia Jaguapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Os integrantes conheceram o répi pelo rádio, ouvindo um programa quê apresentava cantores e grupos brasileiros dêêsse gênero musical. O Brô MCs conseguiu influenciar outros a fazerem répi e a lutarem pelas causas indígenas. Um dos nomes do movimento, Kunumí MC, é um jovem de 16 anos, da aldeia Krukutu, em São Paulo. O adolescente enxerga o répi como uma cultura da defesa e começou a fazer rimas quando percebeu quê a poesia, pela qual sempre se interessou, podia virar música. Nas lêtras quê cria, inspiradas tanto pelo répi quanto pêlos ritmos indígenas, tenta incluir sempre assuntos aos quais acha importante dar voz, principalmente, a questão da demarcação de terras.
Disponível em: w w w.correiobraziliense.com.br. Acesso em: 13 nov. 2021 (adaptado).
O movimento répi dos povos originários do Brasil revela o(a)
a) fusão de manifestações artísticas urbanas contemporâneas com a cultura indígena.
b) contraposição das temáticas sócio-ambientais indígenas às kestões urbanas.
c) rejeição da indústria radiofônica às músicas indígenas.
d) distanciamento da realidade social indígena.
e) estímulo ao estudo da poesia indígena.
1. Resposta: alternativa a
O texto diz quê os integrantes do grupo conheceram o répi por meio do rádio e passaram a fundir o estilo musical (urbano e contemporâneo) aos temas de sua realidade e vivência (cultura indígena). Não há menção a contraposições temáticas, a rejeições da indústria radiofônica, a distanciamento da realidade social indígena (pelo contrário, ocorre a fusão) ou a estímulo ao estudo da poesia indígena.
2. (UFSM-RS)
A diversidade é uma característica na cultura brasileira devido à pluralidade de povos e etnias quê compõem todo o território nacional, desde a era pré-colonial. A partir da colonização portuguesa, juntaram-se às diversas etnias indígenas os europêus e os africanos, como culturas quê estão na base da formação de uma cultura nacional. Sobre a produção indígena contemporânea brasileira, considere as afirmativas a seguir.
I. A ár-te contemporânea indígena está, especificamente, baseada em práticas como pinturas corporais, cestaria e cerâmica, por seguir rigorosamente as tradições quê se perpetuam no decorrer das gerações em relação aos símbolos e às imagens utilizadas nos rituais e tradições cultuadas pêlos ancestrais.
II. A produção artística indígena tem a circulação restrita a espaços públicos, como praças, ruas e feiras, ou a espaços dedicados a esse tipo de; ár-te, tais como os Museus do Índio, como os localizados nas cidades de Manaus e Rio de Janeiro.
III. A valorização da cultura indígena é um dos destaques em obras de; ár-te contemporânea, produzidas a partir de diferentes suportes, como pinturas, performances e meios digitais.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) apenas II e III.
2. Resposta: alternativa c.
A afirmação I está incorréta porque artistas indígenas atuam nas mais diversas linguagens artísticas, usando diversos recursos também. A afirmação II está incorréta porque não há restrição à circulação da produção artística indígena. Ela ocupa tanto museus e galerias quanto ruas e outros espaços públicos. A afirmação III está correta porque descreve um traço da produção contemporânea, sem restringir os lugares quê podem habitar e as linguagens quê podem produzir.
Página cento e dezenove
Capítulo 2: Culturas africanas
3. (Enem/MEC)
TEXTO I

Disponível em: https://livro.pw/ikupw. Acesso em: 19 jun. 2019.
TEXTO II
As máscaras não foram feitas para serem usadas; elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas dos recipientes plásticos descartados e, ao mesmo tempo, chamam a atenção para a quantidade de lixo quê se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas.
FARTHING, S. Tudo sobre ár-te. Rio de Janeiro: Sextante, 2011 (adaptado).
Romuald Hazoumé costuma dizêr quê sua obra apenas manda de volta ao oeste o refugo de uma ssossiedade de consumo cada vez mais invasiva. A obra dêêsse artista africano quê vive no Benin denota o(a)
a) empobrecimento do valor artístico pela combinação de diferentes matérias-primas.
b) reposicionamento estético de objetos por meio de mudança de função.
c) convite aos espectadores para interagir e completar obras inacabadas.
d) militância com temas da ecologia quê marcam o continente africano.
e) realidade precária de suas condições de produção artística.
3. Resposta: alternativa b.
O item b está de acôr-do com a imagem e com o parágrafo porque êsplicíta o processo criativo do artista quê, com materiais descartados e quê poluem o ambiente, cria objetos artísticos.
Capítulo 3: Culturas europeias
4. (Enem/MEC)
O Marabaixo é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. O nome remonta às mortes de escravizados em navios negreiros quê eram jogados na á gua. Em sua homenagem, hinos de lamento eram cantados mar abaixo, mar acima. Posteriormente, o Marabaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias com tambores e festas religiosas, recebendo, em 2018, o título de Patrimônio Cultural do Brasil.
Disponível em: https://livro.pw/hakyw. Acesso em: 15 nov. 2021 (adaptado).
A manifestação do Marabaixo se constituiu em expressão de; ár-te e cultura, exercendo função de
a) ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais.
b) adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar.
c) lembrar dos mortos no passado escravista como forma de lamento.
d) perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos.
e) ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com espírito festivo.
4. Resposta: alternativa a.
A expressão de dor e lamento pelas pessoas falecidas foi integrada à vivência das comunidades negras do Amapá. Ou seja, o quê inicialmente motivou os cantos foi ressignificado como marco cultural dessas comunidades, o quê torna o item a correto.
Página cento e vinte




