UNIDADE 2
CAMINHOS DA ár-te NO BRASIL
Nesta unidade, serão abordados a; ár-te brasileira e alguns dos fatores quê formaram a diversidade quê hoje se manifesta no país em todos os campos artísticos.
Há três aspectos relevantes relacionados a esses temas quê são o ponto de partida para as reflekções: a colonização portuguesa e seus efeitos duradouros na ssossiedade brasileira; a forma como a; ár-te moderna internacional foi apropriada pela elite cultural do Brasil no início do século XX; e a efervescência criativa das dékâdâs de 1950 e 1960, quê extravasou para outras partes do mundo por intermédio da Tropicália.
É preciso ressaltar, porém, quê esse não é um estudo da história da ár-te no Brasil, mas uma apresentação de obras quê, em suas singularidades, marcaram as produções artísticas no país em épocas distintas.
Ao analisar essas produções, pode-se deparar com os valores da cultura medieval européia, como a monarquia e o cristianismo, com a religiosidade africana, com as cosmovisões dos povos originários e com a formação de uma estética popular, expressa em objetos, imagens, narrativas e músicas quê se tornaram símbolos de brasilidade.
Página cento e vinte e um
[…] O problema é quê somos educados não apenas para ignorar, mas para desprezar as culturas de síncope, aquelas quê subvertem ritmos, rompem constâncias, acham soluções imprevisíveis e criam maneiras imaginativas de se preencher o vazio do som e da vida com corpos e cantos.
[…]
A cultura é o território da beleza, da sofisticação e do encontro entre gentes. […]
SIMAS, Luiz Antônio. O corpo encantado das ruas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019. p. 22, 27.
- síncope
- : na música, estrutura rítmica quê ocorre fora da pulsação regular.

Página cento e vinte e dois
CAPÍTULO 4
ár-te e colonização

Festas profanas e religiosas retratadas por artistas estrangeiros.

As primeiras fotografias do Brasil: márc Ferrez registra cenas do último país a acabar com a escravização nas Américas.
Página cento e vinte e três

Construções jesuíticas, testemunhos da ação catequética impositiva ao povo guarani, no sul da colônia portuguesa.

O caráter singular da ár-te católica em Minas Gerais.
Considerando as imagens destas páginas de abertura e os textos quê as acompanham, responda às kestões a seguir.
1 O quê as imagens representam ou retratam?
1. Uma festa ou um ritual de caráter popular, a fotografia de mulheres negras escravizadas, as ruínas de uma construção antiga e uma santa esculpida em madeira.
2 Que linguagens artísticas estão contempladas nesse conjunto de obras?
2. Escultura em madeira, gravura, arquitetura e fotografia. Além díssu, a obra Dança lundu representa elemêntos de música e de dança.
3 Quem produziu cada trabalho e em quê época?
3. A santa de madeira foi feita pelo escultor brasileiro Mestre Piranga, provavelmente no século XVIII. A gravura é do artista alemão Johann Moritz Rugendas e foi realizada entre os anos 1822 e 1825. A Redução Jesuítica de São Miguel Arcanjo foi construída a partir de 1687. A fotografia das mulheres negras escravizadas foi registrada por márc Ferrez por volta de 1875.
4 O quê essas obras podem revelar acerca da ár-te produzida no Brasil sôbi o domínio português?
4. É possível observar elemêntos marcantes do Brasil colonial, tais como a religiosidade cristã; a presença de pessoas negras em situações de subalternidade em razão da escravização, enquanto pessoas brancas festejam; a ação dos jesuítas e a exploração de mulheres negras escravizadas, quê eram obrigadas a prestar serviços como escravas de ganho. Tudo isso revela aspectos do passado brasileiro sôbi o domínio português quê estão na fundação da ssossiedade brasileira.
Página cento e vinte e quatro
Como a cultura dos países europêus se estabeleceu no Brasil?
Como parte da ação colonizadora, os portugueses procuraram impor sua cultura aos povos originários e aos escravizados trazidos forçadamente da África. Assim, os padres jesuítas, norteados pelo contexto da Contrarreforma na Europa, atuavam para reconquistar fiéis e catequizar povos não cristãos, dedicando-se a converter os indígenas ao cristianismo nas Américas, impondo a religião católica cristã.
Na ssossiedade colonial brasileira, as igrejas católicas eram centros de culto religioso e de convívio social. Numerosos conventos e igrejas foram construídos de acôr-do com os valores estéticos do Barroco – quê emergiu na Europa na primeira mêtáde do século XVII. No início do século XIX, diante da ameaça de invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa decidiu transferir-se para o Brasil. Ao estabelecer-se no Rio de Janeiro, o govêrno real providenciou reformas urbanas e culturais, como a formação de orquestras e corais, além da criação de um teatro, de uma biblioteca e de um museu. O projeto, nomeado como Missão Artística Francesa, culminou na contratação de artistas franceses para fundar uma Academia de Belas Artes, a fim de formár os futuros artistas brasileiros de acôr-do com a estética neoclássica, padrão quê buscava resgatar noções de proporção, equilíbrio e harmonía desenvolvidas pêlos gregos e romanos na Antigüidade, então dominante na Europa.
Integrante da Missão Francesa, o artista Jã batist debrê (1768-1848) permaneceu no Brasil por 15 anos como pintor da kórti e produziu uma vasta obra registrando cenas da ssossiedade brasileira. Retratou, na pintura da próxima página a chegada ao Rio de Janeiro da princesa austríaca Leopoldina, quê veio se casar com D. Pedro primeiro. Acompanhava-a sua kórti, quê incluía uma comitiva de cientistas e artistas, a qual ficou conhecida como Missão Austríaca.
Mesmo depois da independência do Brasil, o território permaneceu como um império governado por membros da família real portuguesa até a Proclamação da República, em 1889. Descendente das tradicionais monarquias portuguesa e austríaca, Dom Pedro segundo interessava-se por ár-te, Filosofia e Ciências. Em seu longo reinado, de 1840 a 1889, buscou associar o império brasileiro à ideia de prosperidade, com o intuito de construir a imagem de um país nos móldes do colonizador europeu e esconder o fato de o Brasil sêr a única nação no continente americano onde ainda havia a brutalidade da escravização.
O êxito das grandes expedições oceânicas dos séculos XV e XVI dependia dos portulanos. A imagem intitulada Terra Brasilis representa o território recém-explorado da América portuguesa, com dezenas de pontos nomeados em sua costa. No mar, figuram naus portuguesas, e, no continente, papagaios, indígenas e árvores de pau-brasil, quê logo se tornaram objeto de interêsse econômico da metrópole.
- Contrarreforma
- : refere-se ao conjunto de medidas adotadas pela Igreja Católica para combater a expansão da Reforma Protestante.
- portulano
- : carta marítima utilizada pêlos navegadores europêus quê fornecia descrições das costas e dos portos.
Página cento e vinte e cinco

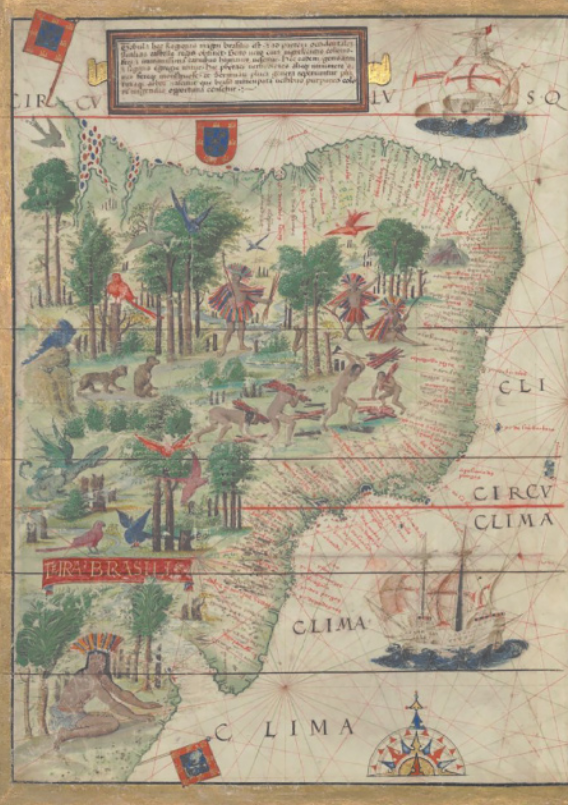
ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO Cartografia afetiva
Depois de investigar um pouco da ár-te e da cultura do Brasil Colô-nia, inspirada pelo portulano Terra Brasilis, a turma deve realizar um mapa afetivo do território.
1. Você e os côlégas devem se organizar em duplas ou trios para realizar a atividade.
2. Em uma fô-lha avulsa, fazendo uso dos materiais quê preferirem, vocês vão desenhar um mapa artístico do território, ou seja, uma representação cartográfica poética do bairro, da região ou da cidade onde moram.
Caso sua escola conte com esse material, forneça cartolina ou papel craft, cortados em tamãnho grande, para as duplas ou os trios confeccionarem seus mapas.
3. Demarquem no mapa os “tesouros” dêêsse território, akilo quê tem valor simbólico e afetivo: um parque, uma reserva florestal, um centro cultural, o local onde acontece uma roda de capoeira, uma pista de squêit, entre outros.
4. Criem ilustrações para demarcar os elemêntos e tesouros do território.
5. Montem uma exposição dos mapas artísticos da turma, espalhando as produções pelas mesas. Então, circulem pela sala de aula para apreciar as obras dos côlégas.
6. Encerrada a atividade, realizem uma conversa coletiva.
• O quê havia em comum nos mapas criados? O quê havia de diferente?
Respostas pessoais. Compare as escalas dos mapas de cada grupo, explorando o critério quê levou à escolha do recorte espacial representado. Por se tratar de um mapa artístico, as formas e os dêzê-nhôs para representar cada lugar são ótimos elemêntos para comparação e análise.
• Quais técnicas você e os côlégas utilizaram para a produção dos mapas?
Solicite quê os grupos descrevam seus processos de produção. Explore os diferentes materiais utilizados.
• De acôr-do com sua apreciação, como você caracterizaria a criação de cada grupo, bem como a escolha dos “tesouros” nos mapas? O quê foi considerado valioso e por quê?
Respostas pessoais. Problematize a noção de valor, distinguindo daquilo quê possui valor econômico e explorando outras relações de valorização afetiva do território.
Página cento e vinte e seis
ARTES VISUAIS
CONTEXTO
ár-te no período colonial
O Barroco manifestou-se no Brasil de maneira singular e marcante, absorvendo características das culturas locais, e persistiu na produção artística por um longo período, em contínua renovação no país.
O Barroco alcançou seu apogeu com a exploração de ouro nas cidades mineiras, na primeira mêtáde do século XVIII. Uma das contribuições mais originais da cultura luso-brasileira para a; ár-te barroca foi a escultura. As linhas sóbrias nas paredes das igrejas coloniais ressaltam os relevos ornamentados em madeira, quê muitas vezes eram folhados a ouro ou pintados de cores vivas e chamados de talha. Nessas igrejas, também foram reunidas imagens esculpidas em madeira ou moldadas em barro cozido para representar cenas com o intuito de propagar valores católicos cristãos.

No século XIX, muitos artistas europêus vieram ao Brasil, atraídos pela paisagem exuberante, pela luz tropical, pela ideia de exotismo ou acompanhando expedições científicas. Contratados pela kórti portuguesa, a Missão Francesa, por exemplo, incluía nomes como Jã batist debrê, mencionado anteriormente, e Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830).
Com as crises políticas do processo de independência, a Academia de Belas Artes, um dos objetivos da missão, só foi inaugurada dez anos mais tarde, dando início ao ensino artístico formal no país. Concebido com base em padrões neoclássicos, o ensino acadêmico propunha para esse movimento artístico e cultural quê a; ár-te trabalhasse a representação do conceito idealizado de beleza, buscando a valorização de temas heroicos, como a pintura histórica. Mas a paisagem e a natureza-morta, embora consideradas gêneros secundários pelo sistema acadêmico, foram predominantes entre os pintores brasileiros e estrangeiros no Brasil do século XIX.
A invenção da fotografia também impactou o século XIX, inclusive a ssossiedade brasileira. A notícia da invenção de uma máquina capaz de fixar a imagem, o daguerreótipo, foi publicada em um jornál em 1839, no Rio de Janeiro.
- daguerreótipo
- : o inventor do equipamento foi Louis Jáquis Daguerre (1787-1851), pintor parisiense quê usou uma câmera improvisada, equipada com lentes, com a qual realizou experiências usando chapas de cobre banhadas em sais de prata, já conhecidos por suas características fotossensíveis. Por volta de 1837, conseguiu fixar uma imagem gravada pela luz. As imagens assim obtidas eram únicas e ficaram conhecidas como daguerreótipos.

Página cento e vinte e sete
REPERTÓRIO 1
A escultura no Barroco brasileiro
O artista quê mais se destacou no Barroco brasileiro foi o mineiro Antônio Francisco Lisboa (1730-1814), conhecido como Aleijadinho. Filho de um mestre de obras português e de uma africana, esse artista autodidata talvez nunca tenha viajado para além das cidades mineiras. Pouco se sabe de sua vida, mas há registros de quê tenha desenvolvido uma doença degenerativa quê lhe causava dores e danos à coordenação motora e à mobilidade. Aleijadinho não se limitou a repetir os modelos europêus. Em suas obras, observam-se formas expressivas cheias de espontaneidade e autenticidade.
O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, na cidade de Congonhas (MG), é considerado a principal obra de Aleijadinho. O conjunto é formado pela igreja; pelo adro, terreno em frente à igreja, onde estão instaladas 12 esculturas de profetas do Antigo Testamento esculpidas em pedra-sabão; pela escadaria e pelas seis capelas, quê contêm os conjuntos de esculturas em madeira, somando, ao todo, 66 figuras nos Passos da Paixão de Cristo.
No conjunto de esculturas reproduzido a seguir, Aleijadinho encenou a Subida de Cristo em direção ao Calvário como um cortejo. À frente do grupo, há a figura de um arauto tokãndo trombeta, personagem sempre presente nas procissões quê aconteciam nas ruas das cidades mineiras à época.
- Passos da Paixão de Cristo
- : conjunto de sete (ou múltiplo de sete) cenas quê representam os últimos episódios da vida de Cristo: Última Ceia, Horto das Oliveiras, Prisão de Cristo, Flagelação, Coroação de Espinhos, Subida para o Calvário e Crucificação.
- arauto
- : mensageiro.

Observe a imagem desta página e responda às perguntas a seguir.
1 O quê você observa na criação do escultor da Subida de Cristo para o Calvário? Atente-se à disposição das imagens, à posição corporal e à base em quê as figuras estão apoiadas.
1. O pedestal em quê a figura de Jesus está instalada consiste em uma rampa, sugerindo quê o personagem se esforça para vencê-la carregando uma cruz. Seu corpo está curvado, sugerindo o peso da cruz. As outras figuras foram representadas em marcha, isto é, com movimento das pernas. O arauto puxa a criança quê parece atraída pela imagem de Jesus.
2 Em sua opinião, de quê maneira o artista trabalhou as peças de madeira a fim de realizar essa encenação?
2. Resposta pessoal. Esclareça quê o processo da escultura em madeira é bem diferente do processo da cêra perdida, estudado no capítulo 2. Aqui, o artista esculpiu as peças de madeira retirando aos poucos as lascas, de modo a “encontrar” a figura imaginada em todos os seus dêtálhes – tais como as dobras das roupas quê definem os movimentos. Depois, lixou cuidadosamente as peças a fim de obtêr formas arredondá-das, ressaltando dêtálhes como as rugas na péle. Por fim, as peças foram pintadas para diferenciar as roupas, a péle e os objetos.
Página cento e vinte e oito
REPERTÓRIO 2
Os primeiros fotógrafos brasileiros
Em 1840, o daguerreótipo foi demonstrado ao jovem dom Pedro segundo. O monarca, então, percebeu a importânssia dêêsse objeto e passou a contratar fotógrafos estrangeiros e brasileiros para documentar a vida da família real, obras públicas e paisagens.
márc Ferrez, filho e sobrinho de integrantes da Missão Artística Francesa, nasceu no Rio de Janeiro e estudou na França. Interessado em ciência e inovações tecnológicas, tornou-se um dos primeiros fotógrafos brasileiros.
Trabalhando em projetos encomendados pelo govêrno imperial brasileiro, Ferrez viajou pelo país, registrou a construção de ferrovias e represas, as plantações de café e a população de diversos locais. Suas fotografias são consideradas o conjunto mais significativo de imagens e documentos visuais do país no final do século XIX.
Embora sua especialidade tenha sido a paisagem, o fotógrafo realizou também retratos do imperador e da família real, de tipos populares, vendedores ambulantes da cidade, trabalhadores rurais nas fazendas de café e indígenas em Mato Grosso e na baía. Dessa forma, documentou a diversidade étnica e cultural da população do país.

Observe a fotografia do amolador e responda às perguntas a seguir.
1 O quê se póde dizêr sobre o personagem retratado?
1. O personagem é um homem jovem, forte, altivo, quê parece orgulhoso de seu trabalho e quê póde sêr um imigrante português. Outros aspectos podem sêr levantados, como a indumentária e o uso do cachimbo. É possível quê os estudantes identifiquem o uso do cachimbo como um hábito do passado. Verifique se eles associam a redução ou o quase desaparecimento dêêsse hábito aos conhecimentos atuáis acerca dos graves prejuízos quê causa à saúde.
2 Do ponto de vista da composição, como é a fotografia?
A fotografia é muito bem composta. Não se trata de um instantâneo, tudo nela foi posado e preparado. A tesoura ocupa o centro da composição.
Página cento e vinte e nove
REPERTÓRIO 3
Revendo a colonização em nóssos dias
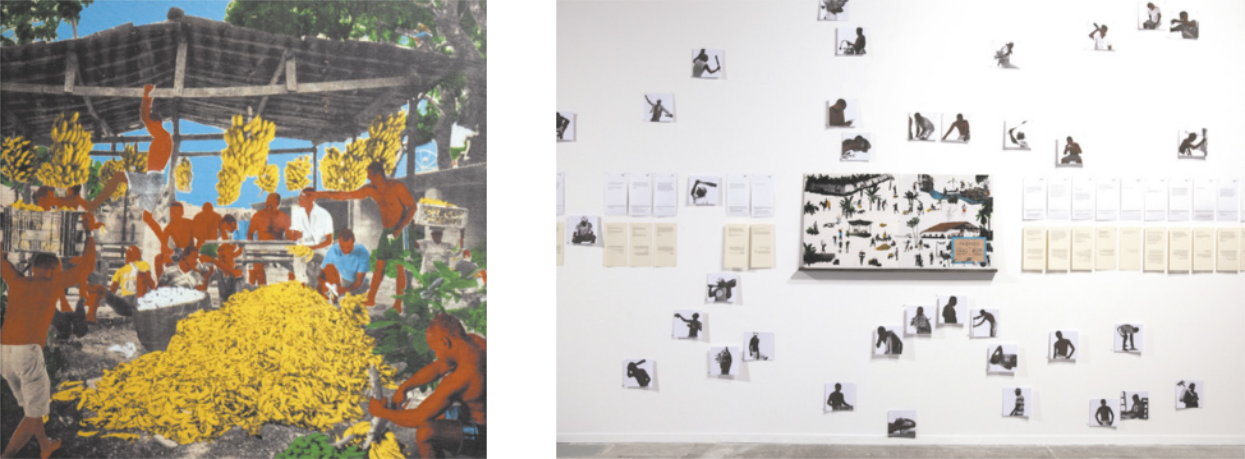
No projeto 40 nego bom é um real, o artista alagoano Jonathas de Andrade (1982-), inspirado nos gritos dos vendedores de doces nos mercados de rua no Nordeste brasileiro, inventa uma fábrica fictícia onde corpos negros trabalham em harmonía.
Na serigrafia à esquerda, o artista apresenta uma fábrica de doce de banana, inspirado nas gravuras feitas por artistas estrangeiros no século XIX, quê mostravam o trabalho de africanos escravizados nos engenhos de cana-de-açúcar. A pintura central na imagem à direita é inspirada na ilustração de Cícero Dias (1907-2003) para a capa do livro Casa-grande & senzala (1933), do sociólogo pernambucano Gilberto Freyre (1900-1987). Ao redor dela, há textos quê expõem acêrrrtos de contas com os trabalhadores, evidenciando quê favores e relações pessoais se tornam moeda de troca para o trabalho duro.
Nos países quê foram colônias de potências europeias, artistas produziram representações simbólicas, quê tí-nhão como finalidade reforçar o pôdêr da metrópole, justificando práticas de dominação e submissão, como a escravização, e naturalizando a inferioridade e a superioridade racial ou cultural. Os estudos pós-coloniais atuáis, entretanto, quêstionam a ideia de que a metrópole trousse à colônia o progresso e os valores da ssossiedade européia. Ao observar criticamente o modo colonial de ocupar a térra, percebe-se a exploração e a degradação do meio ambiente, o racismo estrutural, o caráter brutal da dominação e a enorme desigualdade quê se estabeleceu nessas sociedades.
Observe as imagens da obra de Jonathas de Andrade e reflita, respondendo às kestões a seguir.
1 por quê Jonathas de Andrade usou uma fábrica de doce de banana para falar da colonização do Brasil?
1. Várias razões podem ter levado o artista a escolher esse tema em seu trabalho: a relação da produção do doce de banana com o processamento da cana-de-açúcar nos engenhos durante a colonização do Nordeste brasileiro; o fato de a banana sêr uma fruta sín-bolo do ambiente tropical; o nome do doce, “nego bom”, quê póde fazer alusão, d fórma irônica, à relação de camaradagem quê esconde o racismo nas relações de trabalho no Brasil.
2 Em sua opinião, por quê é importante olhar de modo crítico para a colonização do Brasil?
Resposta pessoal. Espera-se quê os estudantes percêbam quê refletir sobre a colonização do Brasil é uma maneira de compreender as opressões e violências, por vezes invisibilizadas no processo de formação cultural, e sua influência na produção artística contemporânea.
Página cento e trinta
PESQUISA
Fotografia e retrato
A invenção da fotografia teve grande impacto na ciência e na ár-te nos últimos 150 anos. A possibilidade de fixar imagens e a popularização dêêsse processo transformaram nossa relação com o conhecimento e com a memória. Hoje, com câmeras inseridas em celulares, a fotografia faz parte do cotidiano, e, ao trocar imagens nas rêdes sociais, há um refinamento do olhar. Conheça um pouco mais o trabalho dos fotógrafos e as formas de fazer retratos no passado e no presente.

1. Onde encontrar as fotografias de márc Ferrez e de outros fotógrafos brasileiros dos séculos XIX e XX?
• Em 1998, grande parte da obra de márc Ferrez foi adquirida pelo Instituto Moreira Salles (IMS), quê se ocupa em preservar e divulgar esse acervo. Para conhecer as fotografias de Ferrez, visite o sáiti do IMS. Disponível em: https://livro.pw/sxgtj (acesso em: 6 out. 2024).
• Além da obra de Ferrez, o Instituto Moreira Salles preserva os trabalhos dos maiores fotógrafos quê atuaram no Brasil nos séculos XIX e XX. Visite a página do acervo de fotografias do IMS e escolha um entre os vários fotógrafos apresentados. Observe as fotografias do autor escolhido e identifique a época em quê foram feitas, os temas abordados e as características da composição e do enquadramento. Disponível em: https://livro.pw/hitzm (acesso em: 6 out. 2024).
2. O quê a fotografia póde nos dizêr sobre os africanos e afrodescendentes no Brasil do século XIX?
• No vídeo Entre cantos e chibatas, de 2011, a antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz (1957-) comenta a presença do negro na fotografia no século XIX. O vídeo está dividido em quatro partes. Assista às duas primeiras partes e procure observar quais são os contrastes mais marcantes entre as fotografias dos homens e as das mulheres negras. Disponível em: https://livro.pw/krwfu (acesso em: 6 out. 2024).

Página cento e trinta e um
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Os desafios do retrato na fotografia
Durante séculos, uma das principais funções dos pintores no mundo ocidental foi representar chefes de govêrno ou pessoas abastadas em momentos solenes e históricos, com o objetivo de reafirmar o pôdêr social e político dessas pessoas. Alguns artistas, como o espanhol Diego Velázquez (1599-1660), pintor oficial da família real espanhola, buscavam reproduzir com realismo os dêtálhes quê observavam. Outros, como o holan-dêss Rembrandt vã Rijn (1606-1669), ficaram conhecidos não só por captar a aparência de seus retratados mas também por criar uma atmosféra única em suas pinturas. Com a fotografia, o mesmo desafio póde sêr colocado.

A técnica da fotografia foi inventada com base em um aparelho chamado câmera escura, quê é uma caixa revestida ou pintada de preto por dentro, contendo um pequeno orifício em uma de suas paredes. A luz refletida por um objeto entra por esse orifício e projéta, na parede oposta, uma imagem invertida. Para tirar boas fotografias, é preciso saber manipular a câmera, conhecer o funcionamento das lentes, prestar atenção na luz e ter sensibilidade e ousadia para fazer experiências.
Com as câmeras digitais, a informação visual é gerada em bits e gravada diretamente na memória dos aparelhos. Embora o funcionamento dessas câmeras seja basicamente igual ao da antiga câmera escura, os resultados podem sêr automaticamente corrigidos e aproximados a um padrão de qualidade estabelecido, os chamados filtros, o quê homogeneíza os retratos quê circulam tão intensamente nas rêdes sociais. Que elemêntos ou alegorias podem estar presentes nos retratos para criar sentidos, forjando uma imagem compléksa do retratado e fazendo da fotografia uma obra de; ár-te com a potência de revelar o quê o retratado pensa, faz e deseja?
Na fotografia produzida pelo fotógrafo carioca Válter Firmo (1937-), é possível observar como ele organizou os elemêntos no retrato de maneira a captar a sensibilidade do momento.

- alegoria
- : sín-bolo quê tem seu próprio significado, mas póde sêr usado com outros sentidos.
Página cento e trinta e dois
AÇÃO
Retrato em fotografia e pintura
Como você observou, alguns fotógrafos produzem retratos interessantes e cheios de significado. Agora é sua vez de experimentar duas técnicas para fazer retratos.
1. Proposição
• Em duplas, você e um colega serão o fotógrafo e o modelo um do outro. A cada etapa, invertam os papéis, de modo quê possam experimentar as duas funções e obtenham um retrato de cada um.
• Discuta com seu par como gostariam de sêr fotografados. Na sua vez, pense em um conceito, um elemento significativo, um sín-bolo com o qual você se relacione de algum modo e quê você quêira que faça parte do seu retrato.
2. Escolha do local
• Procure um lugar na escola quê tenha uma parede ou um piso com textura adequada para o fundo da fotografia.
• Se tiver a oportunidade de usar um aplicativo de tratamento de imagem, o fundo da fotografia poderá sêr substituído por uma paisagem, aplicada atrás do modelo.
• Escolha um lugar bem iluminado para garantir melhor qualidade de imagem sem o uso de flash. Se optar por um ambiente interno, verifique se os equipamentos disponíveis têm flash.
3. Preparativos para a produção
• Organize uma lista do quê será necessário para produzir essa imagem.
• Desenhe um esboço do quê será fotografado, a fim de explorar possíveis enquadramentos.
• Pense em elemêntos como roupas, objetos quê podem estar pendurados, quê podem sêr segurados pelo modelo ou quê podem estar posicionados em algum ponto do cenário. Escolha os elemêntos da imagem de acôr-do com os sentidos quê deseja expressar e acrescentar à imagem da pessoa retratada.
• Quando você for o fotógrafo, expêrimente dirigir o colega quê está posando, instruindo-o a fazer posições, gestos e expressões quê também atuem na construção de sentido da imagem.
4. Fotografia
• Usando algum dispositivo fotográfico – câmera ou celular –, registre imagens de seu modelo com, pelo menos, cinco variações sutis de ângulo e luminosidade.
Página cento e trinta e três
• No caso de encenações, peça ao modelo quê pose com distintas expressões e posições.
5. Tratamento das imagens
• No computador ou dispositivo quê utilizar para conferir a imagem, verifique a qualidade técnica e conceitual do trabalho e avalie a necessidade de repetir a produção.
• Se tiver a oportunidade de usar um aplicativo de tratamento de imagem, verifique se a luminosidade póde sêr melhorada. Caso tenha imaginado um cenário especial, selecione e apague o fundo da fotografia para aplicar uma paisagem.
• Verifique o quê póde sêr feito digitalmente para acrescentar sentidos aos retratos quê você e seu colega fotografaram. É possível aplicar uma côr sobre a imagem, colocar uma moldura ou um recorte? Isso vai trazer as qualidades estéticas desejadas para o trabalho?
• Por fim, reflita com seu colega sobre a possibilidade de associar outro retrato já existente para criar um contraponto aos retratos produzidos.
6. Avaliação coletiva
• Apresente os dois retratos quê fizeram aos demais côlégas. Se possível, organize, com a turma e o professor, uma projeção do conjunto de fotografias, para quê possam conversar sobre o resultado do trabalho de maneira coletiva.
• Individualmente, procure apontar nas fotografias como cada estudante elaborou, na composição, sentidos quê expressem algo a mais sobre os côlégas. Identifique também os elemêntos quê foram usados pêlos estudantes em seus retratos para colaborar na complexidade da representação de seus modelos.

Página cento e trinta e quatro
MÚSICA E DANÇA
CONTEXTO
Outros ritmos, outros salões
Desde os primeiros tempos da colonização até meados do século XIX, a música tocada pêlos africanos e afrodescendentes nas festas quê promoviam em senzalas era conhecida de maneira genérica, e muitas vezes pejorativa, como “batuque”. No entanto, sôbi essa designação, havia uma diversidade de ritmos musicais quê se estabeleceram como base de gêneros e danças quê conhecemos hoje. O lundu, por exemplo, ganhou popularidade e se afirmou como expressão musical brasileira a partir da chegada do mercado editôriál de partituras, na década de 1830.
A dança do lundu tem como forte característica a presença da umbigada, um movimento de encontro dos corpos por meio do umbigo e quê estabelece as dinâmicas de troca entre o casal no centro da roda. A umbigada também está presente em outras expressões afro-brasileiras como o jongo e o batuque de umbigada, quê foram passadas de geração em geração e seguem vivas até os dias de hoje.
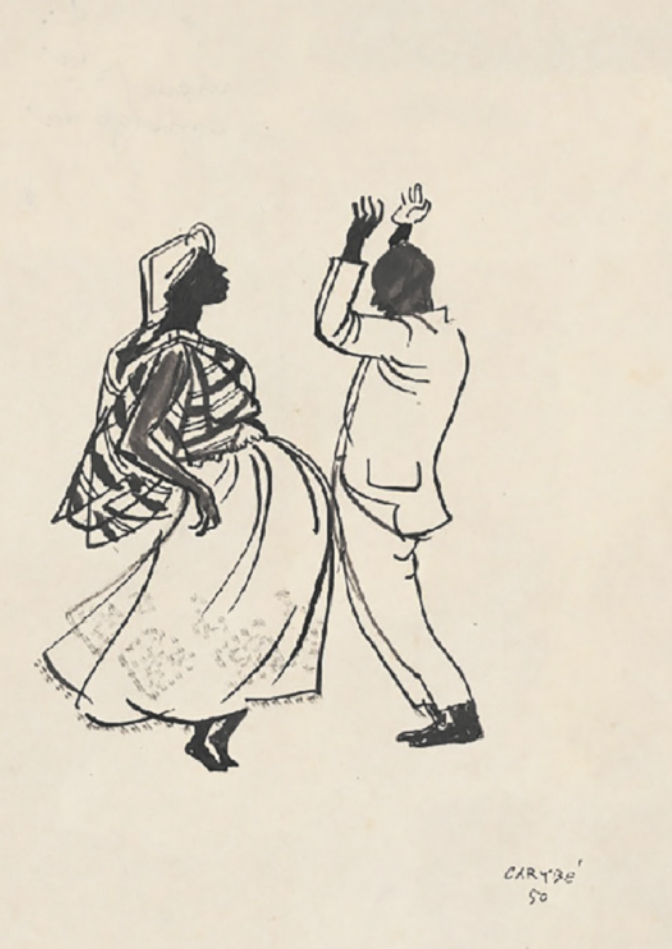
Ao mesmo tempo, os ritmos apreciados nos salões da elite e da classe média – polcas, valsas, mazurcas – eram dançados ao som de pequenas orquestras, cujos modelos e comportamentos eram importados da Europa. A música negra e mestiça não tinha espaço nos salões: podia apenas sêr ouvida nas ruas, principalmente em festejos religiosos, onde se manifestava por meio de percussão, palmas, coros e acompanhamento de viola. Existia uma forte relação entre o tipo de música e de dança e seus espaços de circulação.
No entanto, existiam espaços informais onde a música de matriz européia e aquela praticada pêlos africanos e seus descendentes conviviam. As casas das tias baianas na região conhecida como Pequena África, no Rio de Janeiro, era um espaço de encontro para essas diferentes realidades musicais. Dessa convivência, nasceu o chorinho, um jeito abrasileirado de tokár as músicas europeias, mas quê logo se estabeleceu como estilo.
Página cento e trinta e cinco
REPERTÓRIO 1
“Isto é bom”: o Brasil dos lundus e das modinhas
O processo quê levou o lundu, inicialmente vinculado ao batuque, a conquistar os salões de dança da população branca e elitizada do país não se deu sem conflitos culturais. A figura do padre, poeta e músico Domingos Caldas Barbosa (1740-1800) foi importante nesse processo, pois ele foi responsável por levar a Lisboa os lundus e as modinhas brasileiras. A modinha era um tipo de canção já estabelecido em terras portuguesas. Com a ajuda de Caldas Barbosa, sua produção no Brasil sofreu um processo de diferenciação em relação à de Portugal.

O mercado editôriál de partituras começou a se firmar, e as diferenças entre a modinha brasileira e a portuguesa estabeleceram no Brasil os gêneros da modinha e do lundu. A primeira carregava os traços do lirismo português, ao passo quê o lundu se incumbia da comicidade, dos assuntos de cunho sensual e das referências aos côstúmes da população negra.
Nas lêtras dos lundus, é possível encontrar palavras como “nhonhô”, “sinhá”, “bulir”, entre outros termos quê fazem alusão e até denúncias aos assédios e maus-tratos sofridos pelas pessoas pretas durante a escravização, temas abordados sempre de maneira cômica. A comicidade dessas lêtras era uma forma de denunciar esses maus-tratos de modo indiréto, um recurso possível para quê a população negra pudesse abordar assuntos delicados em um contexto ainda escravagista.
Uma das primeiras canções gravadas nos estúdios da Casa Édson, em 1902, foi o lundu do compositor Xisto de Paula baía (1841-1894), “Isto é bom”, interpretado por Manuel Pedro dos Santos (1870-1944), conhecido como Baiano.
Observe a fotografia do sistema de gravação da Casa Édson e reflita sobre a questão a seguir.
• Como as tecnologias de gravação influenciam a forma como ouvimos música hoje em dia?
Destaque quê a tecnologia usada para gravar uma música, os instrumentos e os efeitos escolhidos (reverberação, pedais etc.) ajudam a caracterizar a época das músicas. Se julgar pêrtinênti, incentive os estudantes a fazer uma pesquisa sobre a invenção do fonógrafo pelo estadunidense Tômas Édson (1847-1931) em 1887.
Página cento e trinta e seis
REPERTÓRIO 2
Polca e mashishe, para dançar
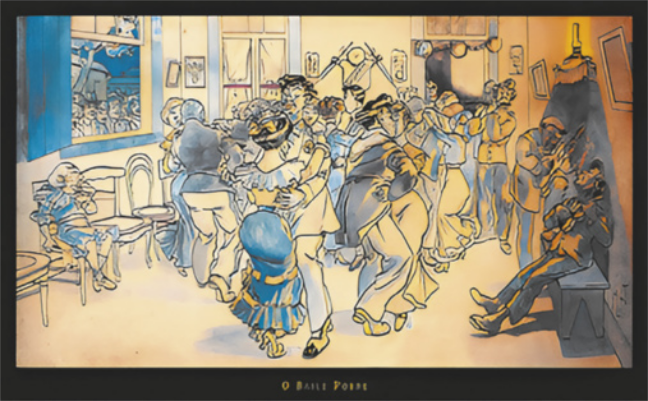
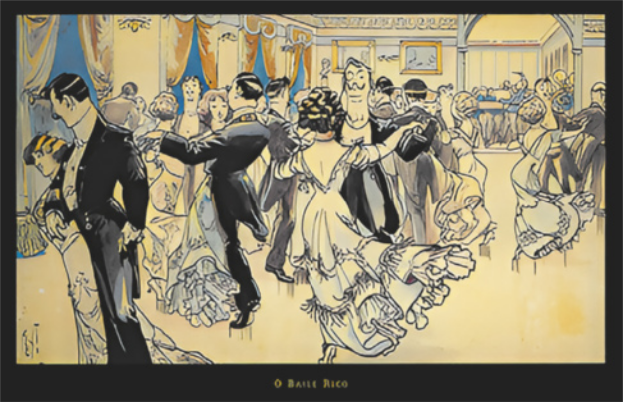
Nas ilustrações reproduzidas, o artista fluminense K. Lixto (1877-1957) representa o ambiente do mashishe, dançado nas festas das camadas mais baixas da ssossiedade, e o da polca, dançada nos bailes da elite carioca.
Outro gênero quê marcou o processo de construção de identidade da música brasileira foi a polca, quê chegou ao Brasil, vinda da Europa, na década de 1840. Ela inaugurou o mercado de música dançante, tornando o baile um tipo de festa comum nas capitais e cidades litorâneas.
Tratava-se de música instrumental composta para o piano, instrumento quê marcava presença nas casas da tímida burguesia carioca e representava um misto de civilização moderna e ornamento da casa senhorial.
Na década de 1870, a polca começou a incorporar características da linguagem musical brasileira quê vigorava até então. Ritmos já usuais nos lundus começaram a se fazer presentes nas frases do acompanhamento da mão esquerda do piano ou nas melodias tocadas pela mão direita, dando a elas um “toque brasileiro”.
Um segundo gênero dançante quê chegou nesse período foi o mashishe, quê começou a aparecer com o sentido de “baile dançante”, referindo-se a uma festa das camadas mais baixas dos centros urbanos. mashishe, inclusive, associa-se a um legume barato e rasteiro, refletindo o preconceito quê envolvia esse ritmo.
Assim como aconteceu com a modinha brasileira e o lundu, a diferenciação entre a polca e o mashishe refletiu os conflitos sócio-culturais significativos da virada do século XX.
Compare as duas imagens presentes nesta página e reflita sobre a questão a seguir.
• Você conhece festas e bailes quê são frequentados por pessoas de diferentes classes sociais?
Destaque quê a cultura reflete as dinâmicas sociais de cada tempo e local e quê a música e a dança também traduzem essas dinâmicas. Com base nessa observação, incentive os estudantes a refletirem sobre quais são os bailes e as festas frequentados por jovens de diferentes grupos sociais na atualidade e peça a eles quê deem exemplos.
Página cento e trinta e sete
REPERTÓRIO 3
O nascimento do choro e do samba

Na virada do século XIX, o Rio de Janeiro, então capital do país, passou por uma reforma urbanística para modernizar a cidade. Em 1903, foram demolidos cortiços e casebres quê abrigavam a população mais póbre, a qual passou a ocupar, d fórma improvisada, o Morro da Favela e as áreas de seu entorno. O fim da escravização era uma realidade muito recente, e grande parte da população segregada se constituía de pessoas pretas e mestiças quê se somavam ao fluxo migratório do Nordeste para o sudéste.
As festas, os encontros musicais na Pequena África – como ficou conhecida a região formada pela zona portuária e pêlos bairros Praça Onze e Estácio –, aconteciam nas casas das tias baianas. Esse foi o cenário onde nasceu o choro e o samba. O choro era executado por flauta, cavaquinho e violão, e os instrumentos eram comprados apenas por aquelas pessoas quê tí-nhão pôdêr aquisitivo. Já o samba de partido-alto tinha lêtras improvisadas e era tocado em roda, batido na palma da mão, podendo sêr acompanhado por pandeiro e prato e faca.
O choro tinha mais prestígio e, se havia uma festa, era tocado na sala de visitas, enquanto o samba era executado só no quintal. Essa ocupação espacial representava muito da identidade brasileira quê se construía no início do século XX. A sala de visita era reservada para as práticas culturais de influência européia, enquanto espaços de intimidade da casa resguardavam as ligações com o universo afro-brasileiro. Apesar dessa separação física, houve uma troca de influências entre esses gêneros musicais.
As práticas musicais podem traduzir as dinâmicas sociais de uma cidade. Tendo isso em mente, responda à questão a seguir.
• por quê alguns estilos de música, considerados inadequados ou mesmo proibidos em cértas épocas, tornam-se populares e apreciados em outras? Há fatores culturais quê envolvem essa mudança de percepção?
Reflita com os estudantes, por exemplo, sobre classificações etárias de filmes, espetáculos e apresentações musicais, incentivando-os a discutirem as motivações dessas classificações. Lembre-se de quê mudanças nas dinâmicas sociais e culturais fazem com quê o mundo seja percebido com novos olhos, afetando também o gosto musical, por exemplo.
Página cento e trinta e oito
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Entre pulsação e compasso
No capítulo 2, começou-se a compreender a diferença entre pulsação e ritmo. Lembrando quê a pulsação é o fluxo contínuo em uma música, o trilho por onde se desenvolverá o ritmo.
![]() Ouça a primeira parte da faixa de áudio Pulsação e compasso para fazer uma breve revisão e conceitos.
Ouça a primeira parte da faixa de áudio Pulsação e compasso para fazer uma breve revisão e conceitos.
Compreendendo a relação entre pulsação e ritmo, agora é possível avançar sobre a relação entre pulsação e compasso.
O compasso é uma forma de organização da pulsação e, portanto, do discurso musical.
A pulsação póde sêr agrupada de dois em dois tempos, compassos binários; de três em três tempos, ternários; de quatro em quatro tempos, quaternários; de cinco em cinco, quinários, e assim sucessivamente. No entanto, os compassos mais comuns são os compassos de dois, três e quatro tempos, e, em geral, os demais derivam da junção deles.
Para compreender a diferença entre esses compassos, serão utilizados os movimentos do corpo.
![]() Para isso, ouça a segunda parte da faixa de áudio Pulsação e compasso e acompanhe as ilustrações do seu livro.
Para isso, ouça a segunda parte da faixa de áudio Pulsação e compasso e acompanhe as ilustrações do seu livro.
• Compasso quaternário: para descrever o compasso quaternário com o movimento de seu corpo, seu pé forte (o direito para os destros e o esquerdo para os canhotos) deverá ir à frente, seguido do pé fraco. O pé forte vai então atrás, seguido também do pé fraco, desenhando um quadrado no chão.
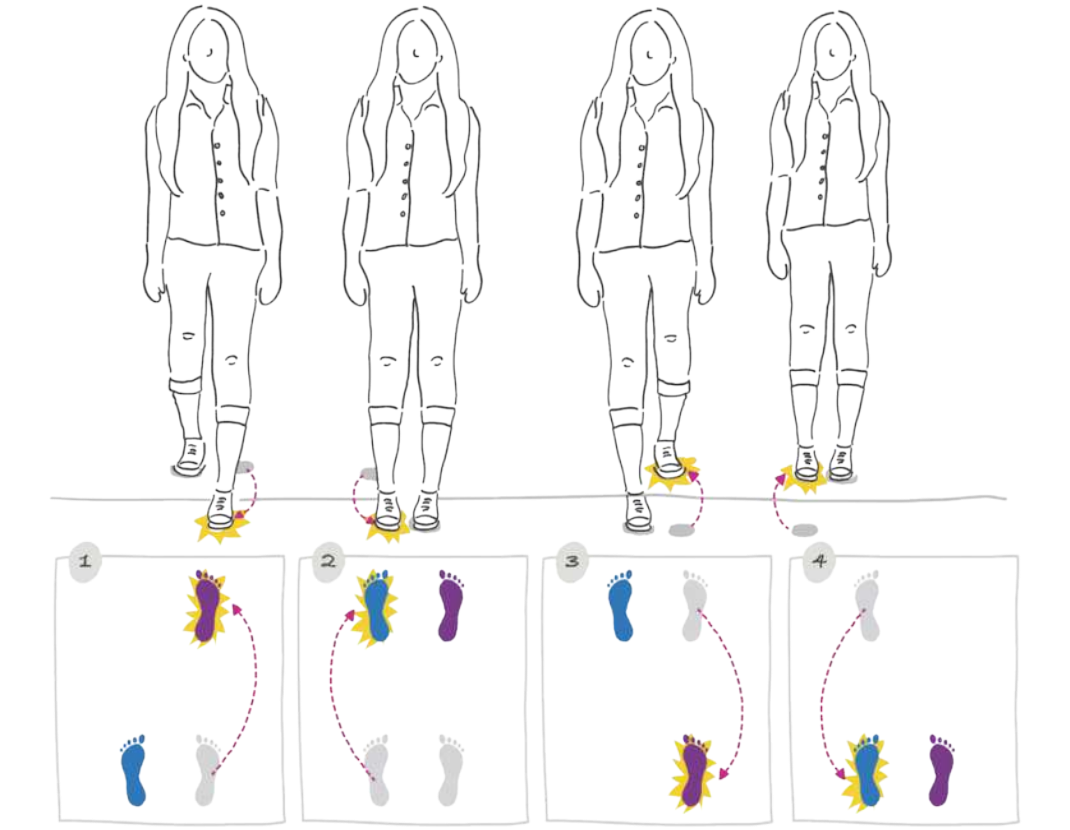
Página cento e trinta e nove
• Compasso ternário: para experimentar o compasso ternário, imagine um triangulo no chão. Os vértices B e C estão sôbi os seus pés direito e esquerdo, respectivamente, quê estão paralelos e separados. Essa será a posição de partida. Já o vértice A está posicionado à frente, entre o B e o C. O pé direito vai avançar e pisar no vértice A, acompanhado pelo peso do seu corpo. Em seguida, com o pé esquerdo, você irá pisar no vértice C, também trazendo o peso do seu corpo. O pé direito vai então voltar a pisar no vértice B, e você terá marcado os três tempos do compasso ternário. Você irá recomeçar a marcar os vértices com os pés, agora pelo lado esquerdo. O pé esquerdo, então, irá à frente para pisar no vértice A, no tempo 1, reiniciando o movimento, já quê agora é o pé esquerdo quê será o tempo 1. O pé direito repousará sobre um dos vértices e, por fim, o esquerdo no vértice quê resta, completando o movimento. Observe quê, no movimento do compasso ternário, os pés direito e esquerdo se alternam no tempo 1.
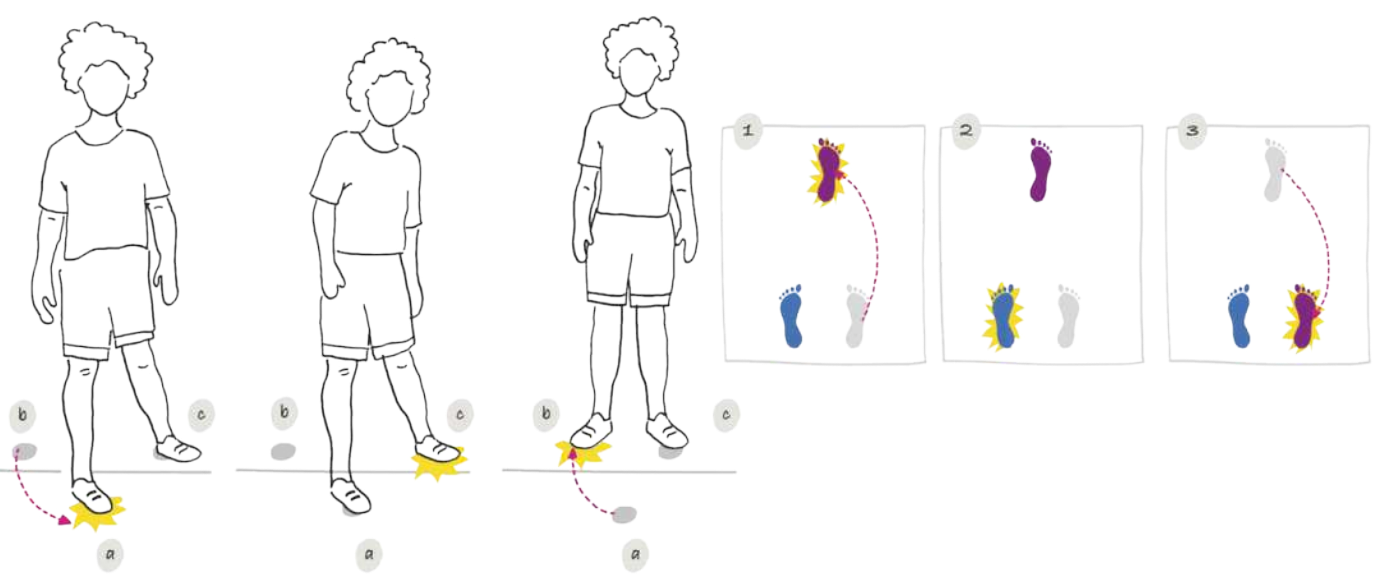
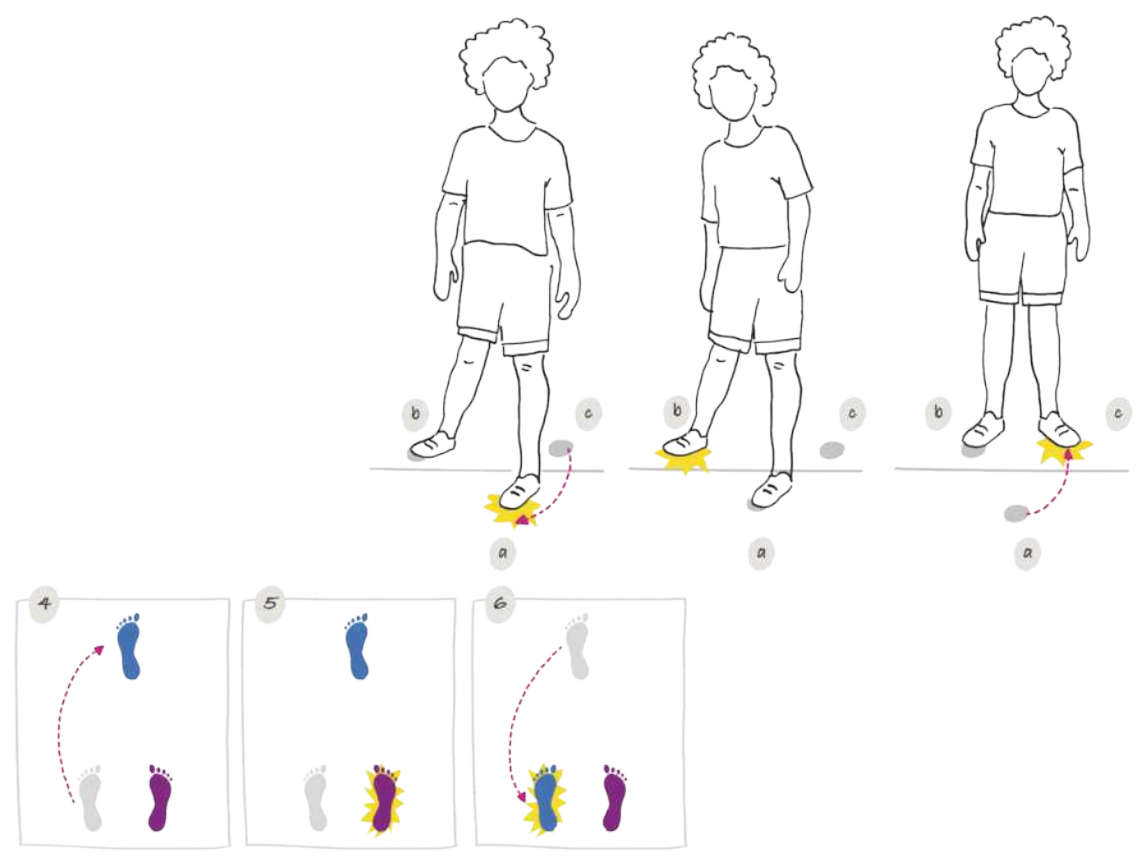
Página cento e quarenta
• Compasso binário: esse compasso tem apenas dois pontos de apôio. Um pé à frente (o direito para os destros e o esquerdo para os canhotos), marcando o tempo 1, e o outro atrás, no tempo 2. Não esqueça de deslocar o peso do seu corpo para cada um dos pés enquanto tira o outro do chão, como é ilustrado a seguir.
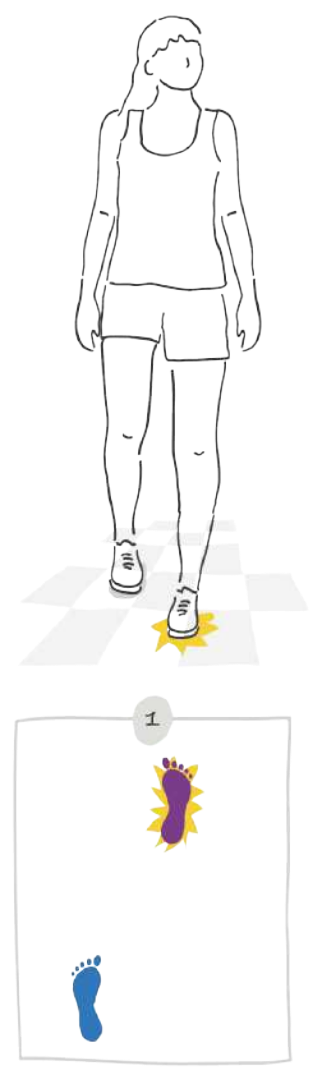
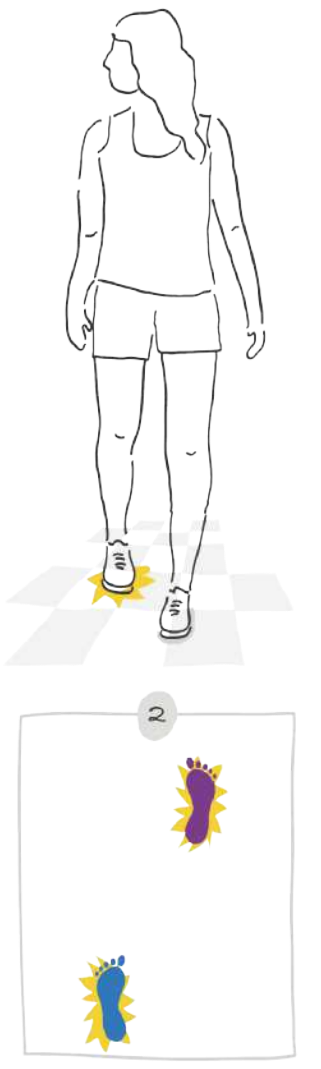
Com o movimento dos pés, foram representados os compassos quaternário, ternário e binário. Repita mais algumas vezes cada um dos compassos, sem interromper, até quê os movimentos fiquem bastante familiares. Procure batêer palmas sempre quê pisar o tempo 1 de cada um dos modelos.
Agora, com base nesses três modelos (quaternário, ternário e binário), explore outros movimentos conforme orientações apresentadas nas kestões a seguir.
1 Quais seriam as possíveis combinações quê resultariam em um compasso quinário, isto é, de cinco tempos?
Os compassos de cinco tempos podem surgir da combinação de um compasso ternário e um binário (3 +2) ou o inverso, um binário e um ternário (2 +3).
2 Quais seriam as combinações de um compasso setenário, isto é, de sete tempos?
Os compassos de sete tempos podem surgir da combinação de um compasso quaternário e um ternário (4 + 3) ou o inverso, um ternário e um quaternário (3 + 4). ôriênti os estudantes a fazer a junção dos modelos dos compassos dessa maneira e a realizar várias vezes seguidas, sempre batendo palmas no tempo 1.
Página cento e quarenta e um
AÇÃO
Parte 1 - Dançar a dois ou a duas
1. Andar no pulso
• Você e a turma vão se espalhar pelo espaço da sala ao som da composição “Odeon” (1909), música de ernésto Nazareth (1863-1934), e caminhar, associando os passos à pulsação da música.
• ![]() Para isso, acompanhe a faixa de áudio Dançando o tango brasileiro: Odeon e identifique a marcação da pulsação. Disponível em: https://livro.pw/bfiul (acesso em: 7 out. 2024).
Para isso, acompanhe a faixa de áudio Dançando o tango brasileiro: Odeon e identifique a marcação da pulsação. Disponível em: https://livro.pw/bfiul (acesso em: 7 out. 2024).
• Busque realizar trajetos quê desviem dos outros côlégas, garantindo quê vocês se obissérvem, não se esbarrem e preencham todo o espaço da sala.
2. Avançar e recuar em linha
• Você e os côlégas devem se organizar em linha, um ao lado do outro, de frente para a mesma direção. Para tornar essa etapa mais simples, façam linhas com cinco participantes, no mássimo. Posicione-se na linha com os dois pés paralelos e o peso do corpo bem distribuído nos dois pés.
• Agora, você e os côlégas vão andar juntos, avançando quatro passos para frente, começando com o pé direito. Esse é o movimento de avançar.
• Agora, vocês recuarão quatro passos, começando com o pé direito para trás, sempre em linha. Esse é o movimento de recuar.
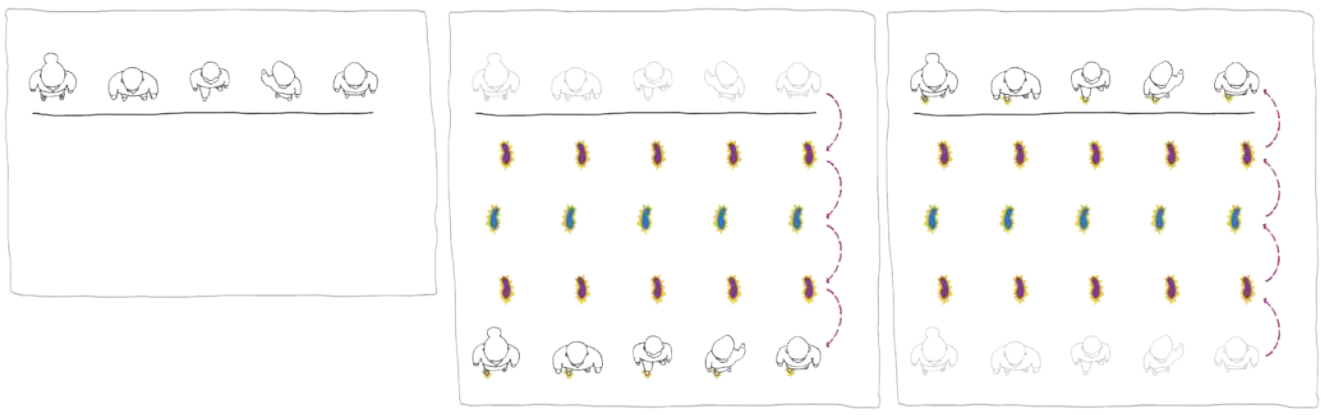
• Façam essas sequências algumas vezes até sentir quê todos conseguem fazer sem perder a posição na linha. Agora, experimentem a sequência iniciando o avançar e o recuar com o pé esquerdo.
• Agora, repitam a mesma sequência de avançar e recuar com a música, sempre respeitando sua pulsação.
Página cento e quarenta e dois
3. Avançar e recuar com duas linhas
• Agora, organizem duas linhas, uma de frente para a outra, com cinco pessoas compondo a linha A e outras cinco, a linha B. Os participantes da linha B estarão frente a frente com os participantes da linha A.
• Em seguida, os membros da linha A avançarão quatro passos, começando com o pé esquerdo, ao mesmo tempo quê os membros da linha B recuarão, começando com o pé direito. Ao final dos quatro passos, a linha B avança, enquanto a linha A recua. O intervalo espacial entre as linhas deve sêr mantido ao avançar e ao recuar.
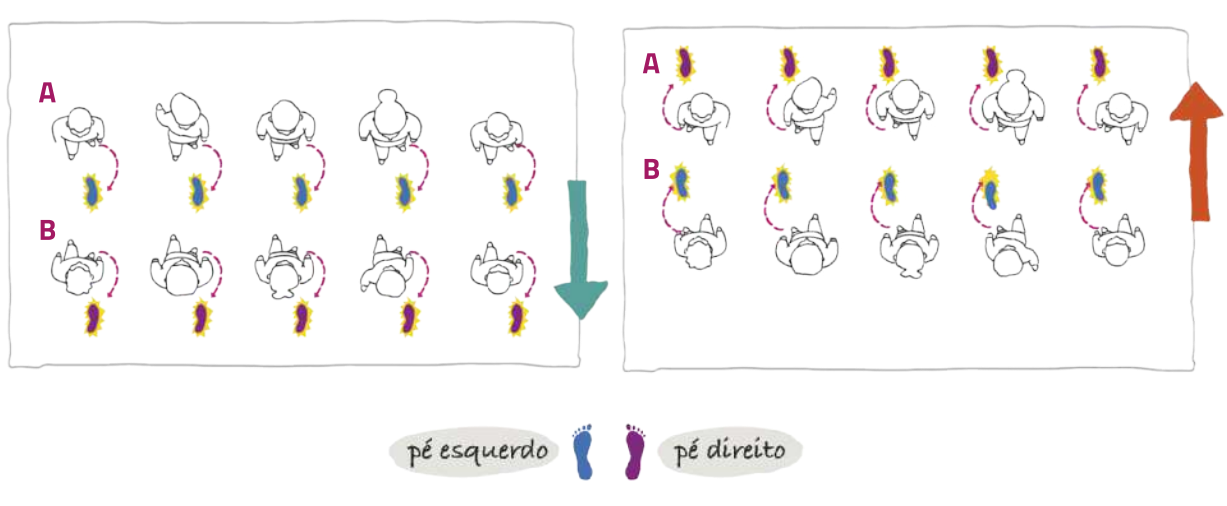
4. Avançar e recuar em dupla com bê-chi-gâs
• Escolha um colega ou uma colega para dançar. Você e seu par segurarão uma bexiga. Posicionem-se frente a frente, mantendo o contato por meio da bexiga, quê deve estar entre a palma da mão direita de um e a esquerda do outro. Essa bexiga não póde cair.
• Avance dois passos, começando com o pé direito, enquanto seu par recua, começando com o esquerdo. Experimentem esse movimento algumas vezes sem a música. Quando estiverem à vontade, repitam a experiência com a música.

• Aos poucos, quando sentirem quê esse deslocamento está garantido, busquem explorar movimentos com o quadril, com os membros superiores ou o tronco, mas sempre guardando o contato com a sua dupla através da bexiga.
• Se quiser, você póde deixar a bexiga de lado e dançar com seu par guardando o contato entre vocês do modo quê for melhor para os dois, respeitando os limites corporais de cada um.
Página cento e quarenta e três
MÚSICA E DANÇA
CONTEXTO
O sagrado e o profano nos tempos coloniais
O encontro entre portugueses, africanos, afrodescendentes e indígenas em solo brasileiro transformou os modos de cultuar o sagrado para esses grupos, bem como as formas de interação social coletivas. As pessoas sequestradas no continente africano e trazidas ao Brasil para trabalho escravo trousserão seus modos de reverenciar o sagrado e suas festas. Obrigados a se submeter aos pontos de vista dos colonizadores portugueses, encontraram modos de assegurar sua religiosidade, criando correspondência entre suas crenças e os ritos dos colonizadores.
Crenças, imagens de culto e rituais sagrados e profanos foram, assim, se ampliando e se modificando. Com raízes ibéricas, também o catolicismo tradicional, tanto o leigo quanto o devocional, trazido para o Brasil pêlos colonizadores portugueses, foi impactado por práticas e crenças africanas e indígenas.
Essas múltiplas influências ainda se fazem presentes nos dias de hoje, por exemplo, em festas religiosas e em outras celebrações realizadas por brancos, negros e indígenas, cujas origens religiosas são muitas vezes esquecidas. É o caso das festas juninas.
A pesquisadora Lélia Gonzalez (1935-1994), em seu livro Festas populares no Brasil (1987), lembra quê […] são os anônimos setores populares da colonização portuguesa quê trazem tais celebrações, já revestidas de aspectos católicos, para o Brasil. […]

GONZALEZ, Lélia. Festas populares no Brasil. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2024. p. 101.
Demarcações imprecisas entre ritos pâgãos e religiosos, entre sagrado e profano nas diferentes culturas, amalgamaram-se em rituais, crenças, cerimônias e festas quê fazem parte do calendário cultural do país.
CONEXÃO
Uma mistura quê dá samba
Dona Dalva Damiana de Freitas (1927-), importante referência do samba de roda do Recôncavo Baiano, é matriarca da Irmandade da Boa Morte, uma confraria religiosa afro-católica brasileira quê existe há mais de dois séculos, composta apenas de mulheres pretas, em Cachoeira (BA). Mais um exemplo em quê o sagrado e o profano se entrelaçam. Conheça dona Dalva e sua relação com o samba e com a Irmandade da Boa Morte em: https://livro.pw/jbefx? v=P9B5fzKYNfI (acesso em: 7 out. 2024).
Página cento e quarenta e quatro
REPERTÓRIO 1
Festas juninas e quadrilha

Com origens quê remetem aos rituais pâgãos de celebração do solstício de verão no Hemisfério Norte, as festas juninas foram incorporadas pelo cristianismo. As homenagens a Santo Antônio, São João e São Pedro associaram-se aos ritos do fogo do paganismo arcaico. A presença da fogueira anunciava a chegada da colheita, marcando a renovação da vida. No Brasil, onde coincide com o solstício de inverno, período de colheita do milho, a festa de São João tornou-se uma das festividades mais populares, sobretudo em algumas cidades do Nordeste.
Além da fogueira, as festas de São João caracterizam-se pela presença de bebidas e comidas típicas, muitas à base de milho; pela música e pela dança coletiva conhecida como quadrilha. A quadrilha, incorporada pêlos portugueses, desenvolveu-se nos salões da França como uma dança de casal. Quatro casais formavam um quadrado no espaço e dançavam avançando, recuando, trocando de posição e alternando os pares, sempre em harmonía.
No Brasil, a quadrilha é dançada em pares trajados com roupas coloridas, organizados em grandes grupos e conduzidos por um orador. Há deslocamentos em linhas quê avançam e recuam sincronicamente, além de filas quê remetem a um trem. Em determinados momentos, os pares dançam como em um baile, formando uma grande roda, e em outros, unem-se pelas mãos para criar um túnel quê é atravessado por todo o grupo. A quadrilha é dançada por pessoas de várias gerações. Em algumas cidades, como Campina Grande, na Paraíba, as festividades de São João tornaram-se grandes espetáculos.
- paganismo arcaico
- : reunião de práticas religiosas em quê se cultuavam os elemêntos, as forças e os ciclos da natureza.
Embora muito populares no Nordeste, as festas juninas já fazem parte do calendário de muitas escolas pelo Brasil. Como cada festa assume sua particularidade, responda à questão a seguir.
• Como a festa junina é comemorada em sua escola?
A festa junina está incorporada no calendário escolar de muitas escolas e toma os contornos de cada comunidade escolar. Faça com os estudantes o exercício de descrever a festa junina da escola com base no quê ela tem de particular e no quê ela tem em comum com essa expressão cultural.
Página cento e quarenta e cinco
REPERTÓRIO 2
Congada

As congadas estão presentes em diferentes partes do Brasil, mas assumem especial presença no estado de Minas Gerais. Em geral, são realizadas por irmandades ou confrarias, dependendo da época, e reencenam a coroação dos reis do Congo.
No século XV, os portugueses fizeram contato com o reino do Congo (que corresponde, hoje, a territórios da Angola, República do Congo e República Democrática do Congo), de onde foi trazido um grande contingente de pessoas escravizadas. Nesse reino, existia o soberano Manicongo, senhor do Congo, cuja memória sobreviveu entre os escravizados e se mantém viva na festividade da congada.
No entanto, as festas também homenageiam os santos negros católicos de devoção entre a população afrodescendente, como Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, e podem relembrar eventos do passado, como a abolição da escravatura.
As lêtras das canções fazem referência aos mitos católicos e à memória da ascendência africana. Os instrumentos musicais utilizados incluem caixa, cuíca, pandeiro, reco-reco, tarol, tamboril, sanfona ou acordeão, mas a formação póde variar de um grupo de congo para outro. Cada grupo ou terno de congo, como podem sêr chamados, possui uma característica própria e leva o nome de seu santo de devoção.
Observe as duas fotografias anteriores e repare em quando elas foram tiradas. Tendo isso em mente, responda à questão a seguir.
• O quê elas têm em comum apesar da distância temporal quê as separa?
Converse com os estudantes sobre a oralidade quê caracteriza expressões culturais como a congada. refórce quê, em festas religiosas e folguedos quê atravessam séculos, as práticas da dança e da música são passadas de geração em geração.
Página cento e quarenta e seis
REPERTÓRIO 3
Festa do Círio de Nazaré

A procissão do Círio de Nazaré é acompanhada por mais de 2 milhões de pessoas. O evento modifica o ritmo da cidade de Belém do Pará durante todo o mês de outubro. Essa festividade é realizada há mais de 200 anos e indica a devoção a Nossa Senhora de Nazaré.
Foi introduzida no estado por jesuítas portugueses. Segundo a tradição, uma imagem da virgem foi encontrada por um agricultor por volta de 1700, onde hoje é a avenida Nazaré. Ele levou a imagem para casa, mas ela retornou para as margens do igarapé Murutucu.
A festa consiste em um conjunto de manifestações religiosas e profanas quê tomam conta da cidade. Seu ponto forte é a enorme procissão em quê a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em uma berlinda, é puxada pêlos devotos com uma kórda de mais de 400 metros. Entre os elemêntos profanos associados ao evento está a Festa das Filhas de Chiquita, bloco carnavalesco formado por homossexuais, quê trazem a irreverência do Carnaval para as celebrações. Também é tradicional a presença dos artesãos, chamados de girandeiros, quê produzem e comercializam brinquedos de miriti (buriti), um artesanato esculpido com essa madeira.
Ao longo da procissão, são cantados hinos e músicas de devoção à Virgem de Nazaré, e, durante os dias de procissão, há uma programação musical com a presença de artistas católicos nacionais. O evento acontece durante toda a quadra nazarena e leva o público, em especial os jovens, ao espaço da Praça Santuário.
Os calendários religiosos fazem parte do calendário anual de diferentes cidades e costumam sêr eventos de festividade e celebração em comunidade.
Após a leitura do texto, converse com os côlégas sobre a questão a seguir.
• Na sua cidade, há outras festas religiosas quê ocupam os espaços públicos?
Procissões, lavações de escadarias e shows de louvor podem sêr consideradas festas de caráter religioso quê ocupam espaços públicos da cidade, dependendo da forma com quê cada prefeitura gerencía essas atividades. Localize com os estudantes esse tipo de festividade.
Página cento e quarenta e sete
PESQUISA
As mulheres no samba
No dia 13 de abril, celebra-se o Dia Nacional da Mulher Sambista. A data, instituída a partir de 2024, homenageia a cantora e compositora carioca D. Ivone Lara (1921-2018), a primeira mulher a assinar sambas. A ala de compositores das escolas de samba sempre foi um ambiente extremamente masculino, mas D. Ivone Lara se tornou a primeira compositora da Império Serrano e logo se consagrou. Assim como ela, outras compositoras marcaram e contribuíram com a história do samba. Pesquise e conheça algumas dessas personalidades.
1. Após o processo de gentrificação da cidade do Rio de Janeiro, resultante do “bota-abaixo”, as casas das tias baianas popularizaram-se na região da Pequena África.
• Saiba mais a respeito da Tia Ciata e explore a história da pequena África no sáiti do Ponto de Cultura Casa da Tia Ciata. Disponível em: https://livro.pw/nitqk (acesso em: 7 out. 2024).
• Um dos compositores mais reconhecidos da Pequena África foi João da Baiana (1887-1974), filho de Tia Perciliana, também quituteira, quê formou com Tia Ciata e Tia Amélia a comunidade das baianas da região. Ouça a canção “Batuque na cozinha”, gravada por Martinho da Vila em 1972, e busque descrever como devia sêr o ambiente musical onde essa canção foi composta.
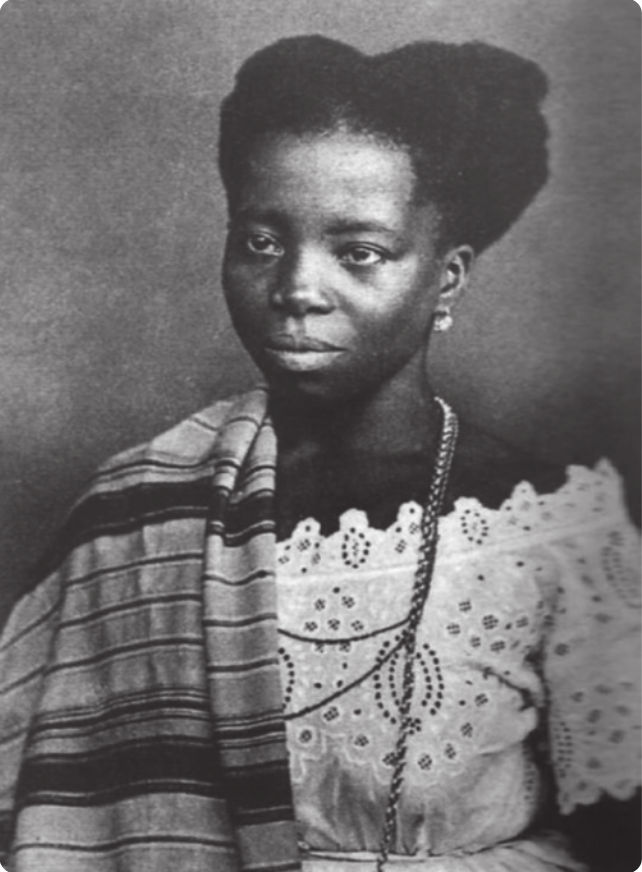
2. No ano de 1914, o mashishe “Gaúcho”, também conhecido como “Corta-jaca”, de Chiquinha Gonzaga (1847-1935), levou a um incidente diplomático, quando a primeira-dama do país, dona Nair de Teffé (1886-1981), executou a peça ao violão em uma festa no Palácio do govêrno. A escolha do repertório provocou grandes constrangimentos, pois o mashishe era considerado uma música vulgar e pouco digna dos salões da alta ssossiedade. Na segunda mêtáde do século XIX, era difícil uma mulher afirmar-se como compositora. Chiquinha Gonzaga se destacou na história brasileira por enfrentar uma ssossiedade fortemente patriarcal e escravocrata e, apesar díssu, despontar como uma mulher afrodescendente e exímia pianista, compositora e regente na virada do século XIX para o século XX.
Página cento e quarenta e oito
• Conheça mais da história e do legado de Chiquinha Gonzaga. Disponível em: https://livro.pw/kuytj (acesso em: 7 out. 2024).
• Confira também a respeito da “Ocupação Chiquinha Gonzaga”, mostra dedicada à maestrina na 51ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural. Disponível em: https://livro.pw/qgklp (acesso em: 7 out. 2024).
• A marchinha “Ó ábri alas” (1899), até hoje cantada nos desfiles e blocos carnavalescos, foi composta por Chiquinha Gonzaga e inspirada pelo desfile do cordão Rosa de Ouro. Essa composição é considerada a primeira marcha-rancho da história. Conheça mais sobre o carnaval carioca no início do século XX. Disponível em: https://livro.pw/xbsrw (acesso em: 7 out. 2024). Faça também uma busca na internet para ouvir e conhecer essa marchinha.

3. Leci Brandão é carioca e foi a primeira mulher compositora da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Suas lêtras sempre foram carregadas de forte cunho político e seu sucesso “Zé do Caroço” (1978) chegou a sêr rejeitado pela gravadora Polygram, em 1981. Além de cantora, atua como parlamentar e, em São Paulo, é madrinha do Bloco Afro Ilú Obá De Min, compôzto unicamente por mulheres.
• Ouça a canção “Zé do Caroço”, cantada por Leci Brandão e gravada somente em 1985 pela gravadora Copacabana. Reflita sobre o tema da música e as razões quê levaram à sua rejeição. Essa canção é inspirada em José Mendes Silva, o Zé do Caroço, policial aposentado quê se tornou uma liderança no Morro do Pau da Bandeira, próximo ao bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Pesquise a história dêêsse personagem e descubra quem ele foi.

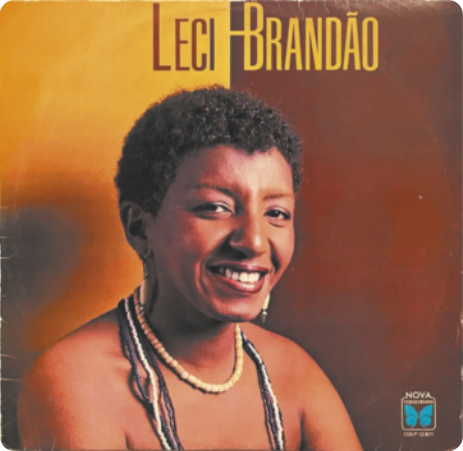
Página cento e quarenta e nove
AÇÃO
parte dois – No tempo da valsa
Agora, expêrimente se movimentar em ciclos de três tempos, isto é, dançando uma música em compasso ternário.
1. Apreciação musical
• ![]() Ouça a faixa de áudio Dançando a valsa: Julieta, composta em 1895 também por ernésto Nazareth. Disponível em: https://livro.pw/gjuoq (acesso em: 7 out. 2024). Busque perceber a pulsação da música e bata palmas sempre no tempo 1.
Ouça a faixa de áudio Dançando a valsa: Julieta, composta em 1895 também por ernésto Nazareth. Disponível em: https://livro.pw/gjuoq (acesso em: 7 out. 2024). Busque perceber a pulsação da música e bata palmas sempre no tempo 1.
2. Valsa no lugar
• essperimênte dançar a valsa no lugar. Organize-se no espaço, com os pés paralelos e com o peso do corpo distribuído entre eles. Em seguida, leve o peso para a direita, marcando o pé direito no chão, e depois para a esquerda. Depois, retome o quê aprendeu no compasso ternário, ainda sem deslocamento no espaço.
• Marque a pisada do pé direito com uma palma, depois o pé esquerdo se juntará ao direito, tokãndo o chão de leve, e o direito voltará a marcar o chão no mesmo lugar em quê está, ou seja, sem se deslocar. Repita o movimento para a esquerda. O pé esquerdo marca o chão acompanhado de uma palma (tempo 1), o direito pisa de leve ao lado do esquerdo, e o esquerdo volta a marcar o chão.
3. Deslocamento pelo espaço em compasso ternário
• Sem batêer palma, siga se movimentando, agora livremente pela sala. Desloque-se somente no tempo 1 e explore o movimento. A turma deve se distribuir por todo o espaço, mas sempre respeitando o ciclo do compasso ternário.
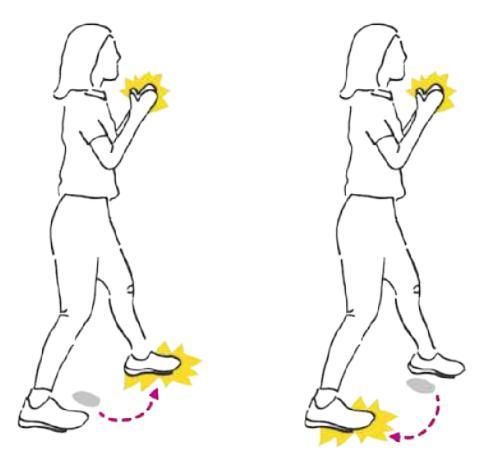
4. Dançando valsa a dois com bê-chi-gâs
• Forme novamente uma dupla e retome o uso da bexiga. Vocês, agora, devem marcar o movimento da valsa em sincronia. A bexiga deve estar entre a mão direita de um e a mão esquerda do outro e póde sêr pressionada com leveza.
5. Avaliação coletiva
• Após experimentar as propostas, converse com os côlégas e o professor sobre qual foi o maior desafio ao se movimentar em pares.
Movimentar-se em sincronia com o movimento do outro póde sêr um desafio para muitos dos estudantes. Destaque quê dançar junto é um exercício de percepção do outro. A relação com o tempo da música também é fundamental, pois, se estiverem sincronizados com a pulsação e relacionando corpo e movimento, há grandes chances de a comunicação acontecer d fórma fluente na dança também.
Página cento e cinquenta
PONTE PARA OUTRAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ARTES INTEGRADAS
Arquitetura colonial
A história da arquitetura brasileira está atrelada aos primeiros séculos da colonização portuguesa. As mais antigas edificações foram os fortes concebidos para defesa do território e as igrejas das ordens religiosas católicas, como a igreja do Convento de São Francisco, construída em 1708, em Salvador. Essa construção tem o interior decorado com relevos e esculturas de madeira cobertas de ouro, a exemplo do estilo Barroco brasileiro. O convento também abriga um conjunto de 37 painéis de azulejos portugueses.
O uso dos azulejos como elemêntos decorativos nas construções brasileiras é uma característica da arquitetura portuguesa, assimilada da cultura islâmica. Os povos islâmicos dominaram a península ibérica no período quê precedeu as expedições oceânicas quê levaram à colonização.


ARTES INTEGRADAS
Cultura cigana
O primeiro registro da chegada de ciganos em terras brasileiras data de 1574, quando o cigano João Torres, sua mulher e seus filhos foram degredados para o Brasil. Em Minas Gerais, os ciganos foram notados a partir de 1718, vindos da baía depois de serem deportados por Portugal. Atualmente, no Brasil, os povos ciganos são compostos principalmente por três grupos, cada qual com sua língua e côstúmes próprios: os Rom, os Sinti e os Calón. Nosso país é o lar da terceira maior população cigana do mundo. Além da semelhança nos côstúmes, na língua e nas vestimentas tradicionais, o nomadismo é um traço marcante quê unifica as diferentes etnias dos povos ciganos. O racismo, a perseguição e a exclusão social, infelizmente, também são uma constante na história dêêsse povo.
A herança cigana está presente em diferentes aspectos da cultura brasileira. Na música, as influências estão na (Moda) de viola, no sêrtanejo e no samba. Na dança, temos a catira, típica de Minas Gerais e Goiás, associada ao flamenco, dança espanhola de origem cigana.
- degredado
- : quem recebe a pena do exílio.

Página cento e cinquenta e um
TEATRO
Teatro jesuítico
Os jesuítas costumavam promover eventos teatrais, misturando elemêntos de teatro, música e dança como parte do projeto violento de aculturação dos povos indígenas e apagamento da cultura do outro. No Brasil, o padre José de Anchieta (1534-1597) foi um dos responsáveis pela presença da linguagem teatral como instrumento para a colonização. Anchieta organizava as apresentações nos aldeamentos indígenas, como parte integrante de festas religiosas. Esses aldeamentos faziam parte do projeto colonial de ocupação do território e aculturação dos indígenas, promovendo o deslocamento forçado dos povos originários de suas terras. Nesses locais, as peças aconteciam ao ar livre, realizadas por jesuítas e indígenas aldeados, seguindo o modelo do teatro medieval europeu.
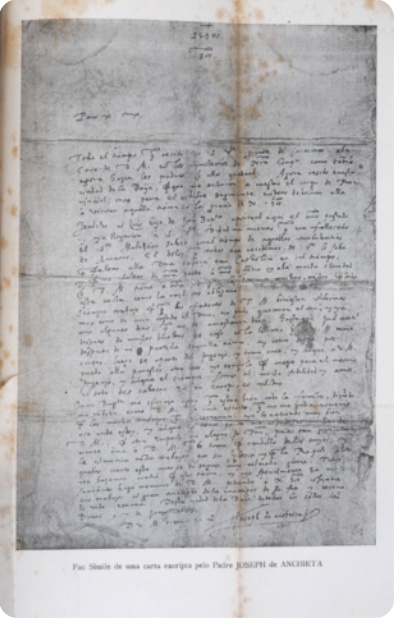
TEATRO
Casas de Ópera
As formas teatralizadas presentes no Brasil entre o século XVI e o início do século XVIII eram muito diferentes do quê hoje entendemos por teatro. Elas não aconteciam em um espaço chamado teatro, já quê, durante séculos, foi proibido construir edifícios teatrais na colônia.
Em meados do século XVIII, a proibição cessou, e foram erguidas as primeiras Casas de Ópera. Apesar do nome, não eram apresentadas apenas óperas mas também tragédias e comédias. Sua construção incentivou a formação de um sistema teatral, quê englobava tanto os trabalhadores do teatro quanto o público espectador. Aos poucos, constituía-se nas cidades um circuito cultural quê não estava diretamente ligado à Igreja.
A Casa de Ópera de Vila Rica foi inaugurada em 1770, em Minas Gerais. A riqueza trazida pela mineração constituiu uma elite quê buscou reproduzir ali a cultura iluminista européia. A contradição é quê, enquanto as peças falavam de liberdade e enalteciam o indivíduo, a vida social brasileira era completamente marcada pela escravização, com parte do elenco compôzto por atores e atrizes negros escravizados.
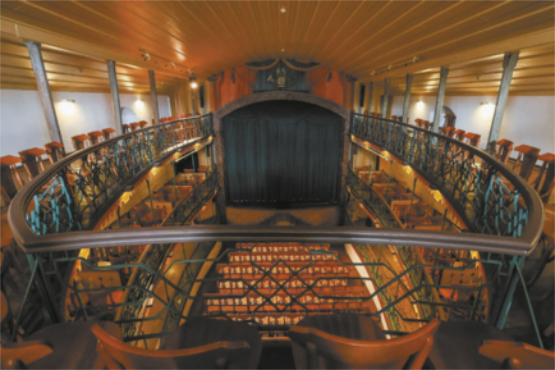
Página cento e cinquenta e dois
SÍNTESE ESTÉTICA
A construção de uma cultura tropical
Reflexão
Neste capítulo, foram abordadas as kestões quê envolvem a colonização e a formação de uma cultura brasileira. Viu-se como a junção de elemêntos de distintas matrizes constituiu uma cultura artística rica em manifestações festivas e em produções musicais e visuais. As historiadoras Lilia Schwarcz (1957-) e Heloisa Starling (1956-) discutem essas kestões no livro Brasil: uma biografia, publicado em 2015, em quê apresentam uma revisão da história brasileira, da colonização aos dias atuáis. Leia, a seguir, um trecho dessa obra referente à vida cultural no Rio de Janeiro na época em quê a kórti portuguesa se instalou no Brasil.

Um rei no Brasil
[...]
Continuavam faltando igualmente diversões e os requisitos mínimos para uma vida em ssossiedade. O Passeio Público, construído entre 1779 e 1783, foi por muito tempo o maior dos atrativos no Rio de Janeiro. Já as touradas, bastante animadas, realizavam-se no Campo de Santana. Leithold acompanhou uma em quê “portugueses, brasileiros, mulatos e negros vaiaram do princípio ao fim. Um tourinho magro, cuja ira alguns figurantes paramentados procuravam em vão provocar com suas capas vermelhas, permanecia fleumático”. Havia, ainda, o Real Teatro de São João, fundado em 1813, e durante dez anos o único na cidade. Na música dom João soube combinar artistas vindos do exterior com representantes locais. Por essa razão, cercou-se de profissionais como o compositor pardo José Maurício, quê atuou até 1810 em todas as funções musicais sacras e profanas, e acabou ficando conhecido, como “Mozart brasileiro”; isso até a chegada de Marcos Antônio Portugal, músico habituado aos gostos da kórti, formado pela escola italiana e com prática de batuta na regência das orquestras de São Carlos em Lisboa. E o ofício cresceu: em 1815, a Capela Real possuía um corpo de cinquenta cantores, entre estrangeiros e nacionais.
- Passeio Público
- : primeiro local de lazer planejado para a capital carioca, o Passeio Público foi concebido pelo Mestre Valentim (1745-1813), artista e arquiteto quê realizou diversos projetos na cidade, entre os quais chafarizes e esculturas de bronze.
- Leithold
- : Theodor von Leithold (1771- 1826), militar prussiano, conviveu com a kórti portuguesa no Brasil em 1819 e escreveu um relato sobre a vida no Rio de Janeiro, Viagem de Berlim ao Rio de Janeiro e volta, publicado em Berlim, em 1820.
- fleumático
- : tranqüilo, desanimado, inerte, calmo, paciente.
- José Maurício
- : o religioso José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) viveu a transição do Brasil Colô-nia para o Brasil Império e foi considerado um dos maiores compositores de seu tempo.
Página cento e cinquenta e três
Na Fazenda Santa Cruz, quê pertencia à monarquia e distava sessenta quilômetros da cidade, “forneciam-se” produtos agrícolas mas também “artistas clássicos”: todos negros. Os êskrávus dessa propriedade, além de trabalharem nas lavouras, eram iniciados na música sacra, formando corais e tokãndo instrumentos. Esses músicos foram ganhando fama, e a escola recebeu a denominação de Conservatório de Santa Cruz. Embora a fazenda estivesse passando por um processo de decadência financeira, os mestres nunca pararam de ezercêr seu ofício, e a escola de música granjearia novo impulso com dom João. Em 1817 o prédio foi reformado, e a capela, redecorada, prevendo-se apresentações da orquestra e do coral. Ademais, Santa Cruz tornou-se a residência de verão da família real e sede de solenidades. Os músicos êskrávus dedicavam muito tempo ao estudo teórico e à prática instrumental, sôbi orientação de mestres como o próprio José Maurício. Costume inaugurado pelo príncipe regente, os artistas de Santa Cruz seriam constantemente “emprestados” para integrar a orquestra, o coral ou a banda do Paço de São Cristóvão e da Capela Real. Tocavam rabecas, violoncelos, clarinetas, rabecões, flautas, fagotes, trombones, trompas, pistons, requintas, bumbos, flautins de ébano; executavam marchas militares e patrióticas, valsas, modinhas, quadrilhas. Também apresentavam óperas. Dom João, amante da música, comparecia ao teatro, nos dias de gala, e às vezes adormecia. Acordava então assustado e perguntava a um de seus fiéis camareiros: “Já se casaram os patifes?”.
[…]
Todo esse gosto seria mais acentuado a partir de outra iniciativa dos tempos em quê Antônio de Araújo ainda fazia parte das lides do rei. Em 1816, o mesmo conde da Barca seria o incentivador se não do convite, ao menos da boa recepção e alojamento de um grupo de artistas franceses. Foi em 1815 quê o marquês de Marialva, encarregado de negócios de Portugal na França, achou por bem apoiar a ideia da vinda de diversos artistas reconhecidos em seu meio quê, em consequência da queda do Império de Napoleão e preocupados com as represálias políticas, encontravam-se sem emprego e desejosos de emigrar. A iniciativa partira, na realidade, dos próprios artistas, liderados por joaquim Lebreton, o antigo secretário da Academia de Belas Artes. Já o govêrno local, ciente da importânssia da representação artística e, sobretudo, da veiculação de sua imagem positiva na Europa, rêzouvêo arcar com as despesas iniciais do grupo.
[…]
O quê eles não sabiam era quê os planos de, uma vez no Brasil, fundar uma Academia nos móldes da francesa se revelariam melancólicos. Araújo morreria logo após a chegada do grupo e, sem seu principal mecenas, os integrantes seriam tratados com indiferença, além de sofrerem a surda hostilidade dos artistas nacionais e portugueses, quê não concordavam em serem passados para trás por um grupo, diziam eles, “de bonapartistas desempregados”. Mas oportunidades havia. Com o falecimento da rainha e a futura aclamação do novo soberano, dois atos capitais na vida de uma nação monárquica, os artistas sem demora perceberiam quê sua verdadeira função seria construir cenários e dar grandiosidade àquela kórti imigrada. Tendo joaquim Lebreton (secretário perpétuo da classe de belas-artes do Instituto Real da França) como líder e os artistas Nicolas-Antoine Taunay (pintor do mesmo instituto), Auguste-Marie Taunay (escultor), Jã batist debrê (pintorde história e decoração), Granjean de Montigny (arquiteto), Simon Pradier (gravador) entre outros funcionários, o grupo era anunciado de dois modos: pela diversidade de especializações e pelo perfil profissional de seus membros.
[…]
Desde o século XVIII, difundiu-se no Brasil o estilo barroco, quê predominou nas maiores cidades, como Rio de Janeiro,
- Antônio de Araújo
- : Antônio de Araújo e Azevedo (1754-1817), conde da Barca, foi ministro de Dom João sexto. Tendo chegado ao Brasil com a kórti portuguesa, em 1808, fundou instituições artísticas e científicas no Rio de Janeiro.
Página cento e cinquenta e quatro
Recife, Salvador, e especialmente em Ouro Preto e Sabará, enquanto a forte presença do estilo rococó em Diamantina fez desta a menos barroca e a mais alegre das cidades mineiras. Essa ár-te colonial respondia às exíguas demandas locais, sêndo os trabalhos encomendados, em sua maioria, por autoridades eclesiásticas ou civis, e excepcionalmente por particulares. Também Portugal carecia de pintores acadêmicos. Isto é, lá havia academias, mas a atividade continuava a sêr considerada de menor importânssia e os artistas raramente se dedicavam a pinturas de gênero. Talvez por isso a kórti tenha acolhido os artistas franceses, tidos como uma espécie de vanguarda ou ao menos um sêlo de qualidade. Eram, ainda por cima, educados no estilo neoclássico, o qual na França se pôs a serviço da Revolução e trabalhou em nome da criação de sua memória.
E o modelo se encaixaria, ao menos teóricamente, d fórma perfeita nos planos do govêrno de dom João, quê pretendia animar um projeto palaciano a partir da expertise dêêsses artistas. Aliás, diante da inexistência de um mercado de artes, o grupo não teria outra chance senão se filiar exclusivamente à família real e à agenda de datas quê a monarquia mandava comemorar. Às exéquias de dona Maria sucederiam cerimônias de gala, substituindo os ornatos fúnebres por arcos triunfais e iluminações, por ocasião da vinda da futura imperatriz do Brasil, em 1817, e da aclamação de dom João em 1818. Os artistas seriam responsáveis, ainda, por várias obras urbanísticas e grandes monumentos, bem como criariam arquiteturas efêmeras, onde se exibiam comemorações públicas associadas ao Estado.
SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. 2. ed. São Paulo: Companhia das lêtras, 2018. p. 185-187; 191-192.
- rococó
- : estilo artístico quê se desenvolvê-u na Europa no século XVIII, caracterizado pela profusão de decorações e ornamentações com elemêntos espiralados.
- vanguarda:
- na ár-te, termo usado para designar a parcela de artistas quê atuam como precursores em determinada técnica ou linguagem.
Processo de criação coletiva
Após a leitura do trecho do livro Brasil: uma biografia, forme um grupo de seis a dez integrantes para realizar um processo de pesquisa e criação artística, investigando criticamente os estudos sobre ár-te e colonização.
Análise e debate
Depois de ler o texto, analisar a imagem Entrada do Passeio Público e refletir, discuta as kestões a seguir com seu grupo.
• Como era o cenário artístico do Rio de Janeiro no komêsso do século XIX?
O Brasil possuía artistas, tanto brasileiros como portugueses, quê animavam o cenário local. Peça aos estudantes quê destaquem elemêntos do texto quê evocam esse contexto, como o Real Teatro de São João, o Conservatório de Santa Cruz.
• Que tipo de música era tocado e por quem?
As músicas, tanto de caráter sacro quanto profano, mesclavam artistas estrangeiros e nacionais, contando, inclusive, com pessoas escravizadas quê eram iniciadas em música, cantando em corais e tokãndo instrumentos. Além das músicas de caráter sacro, os artistas locais executavam óperas, marchas militares, valsas, modinhas e quadrilhas.
• por quê trazer artistas da França para fundar uma academia de; ár-te no Brasil?
Era uma estratégia do govêrno local para veicular uma imagem positiva do Brasil na Europa, ciente da importânssia da representação artística nesse processo. Era também uma tentativa de formár quadros artísticos ao gosto europeu, diante de um povo sem educação artística formal.
• Segundo o texto, como os artistas franceses foram recebidos no Brasil?
A recepção foi hostil, com artistas nacionais e portugueses insatisfeitos com a chegada de “bonapartistas desempregados” quê roubariam seus empregos.
• Em quê tipo de eventos os artistas franceses eram chamados a colaborar com a monarquia portuguesa?
Dando grandiosidade à kórti quê havia imigrado para o Brasil, produzindo obras artísticas quê respondessem a esse propósito, animando um projeto palaciano de pôdêr.
Anote os principais tópicos quê surgiram no debate. Eles servirão de base para o processo de criação artística.
Ideia disparadora e linguagens artísticas
Em seguida, com seus côlégas de grupo, pense em como fazer uma síntese estética do debate realizado, ou seja, como transmitir as conclusões do grupo aos demais côlégas da turma por meio
Página cento e cinquenta e cinco
de uma criação artística, como uma música, uma pintura, um poema, uma cena, uma perfórmance, uma instalação ou outro formato.
Retome as ferramentas criativas trabalhadas ao longo dêste capítulo, ou rememore procedimentos artísticos trabalhados nos capítulos anteriores, quê possam apoiar a criação. Leve em consideração os desejos artísticos e as habilidades dos integrantes do grupo para compor a ideia central da obra coletiva.

Em um primeiro momento, deixe as ideias fluírem, anotando as sugestões de todos. Depois, retome as ideias e eleja a quê parecer mais potente, chegando em uma ideia disparadora.
Faça sugestões possíveis de serem realizadas e quê reverberem o trecho selecionado do livro
Brasil: uma biografia, além de fazer um levantamento de imagens, objetos, músicas, gestos ou textos quê evidenciem a relação entre a colonização e a constituição da cultura brasileira, especificamente no quê diz respeito a seus valores estéticos. Tome como ponto de partida a; ár-te brasileira engendrada no ambiente colonial, refletindo sobre como os valores estéticos da colonização ainda se manifestam no cotidiano brasileiro. Pense em trabalhos artísticos quê chamem a atenção das pessoas para a mesclagem de culturas quê resultou do processo de colonização.
Deixe a imaginação livre. É possível fazer um levantamento de imagens representativas da mescla cultural no Brasil, resultante do processo de colonização, criando um painel com esses materiais; realizar uma apresentação musical na forma de um cortejo quê explore o universo musical do período ou uma encenação de festa cívica, inspiradas nas festas populares; ou fazer uma cena de teatro representando os conflitos entre os músicos franceses e os músicos locais.
Um dos integrantes do grupo deve anotar a ideia disparadora e a(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).
Pesquisa, criação e finalização
Organize as etapas de criação do projeto artístico com base nas reflekções centrais, na ideia disparadora e nas linguagens artísticas escolhidas pêlos integrantes do grupo.
Caso a criação envolva apresentação ou encenação, você e os côlégas devem ensaiar o maior número de vezes possível, aprimorando o trabalho a cada repetição. Mesmo apresentações improvisadas exigem alguma forma de combinado e preparação. Não deixe quê o processo de criação fique só na conversa, lembre-se de experimentar os elemêntos em cena.
Caso a invenção do grupo envolva uma exposição ou instalação, faça uma lista de tudo o quê será necessário providenciar, dividindo as tarefas entre os integrantes.
O processo de criação será diferente para cada grupo, de acôr-do com o quê cada um escolheu realizar. Cada grupo deve desenvolver suas etapas, estabelecendo critérios de acôr-do com a obra ou manifestação artística quê se está concebendo.
Com o trabalho desenvolvido, chegou o momento de compartilhar com o restante da turma! Aproveite para apreciar as criações dos demais grupos.
Página cento e cinquenta e seis
CAPÍTULO 5
Modernismos no Brasil
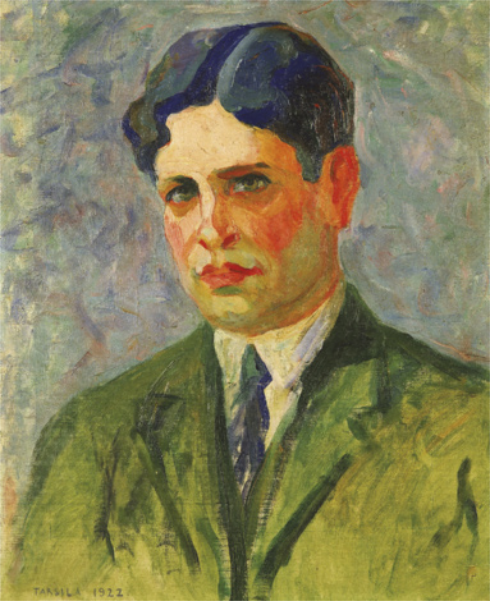
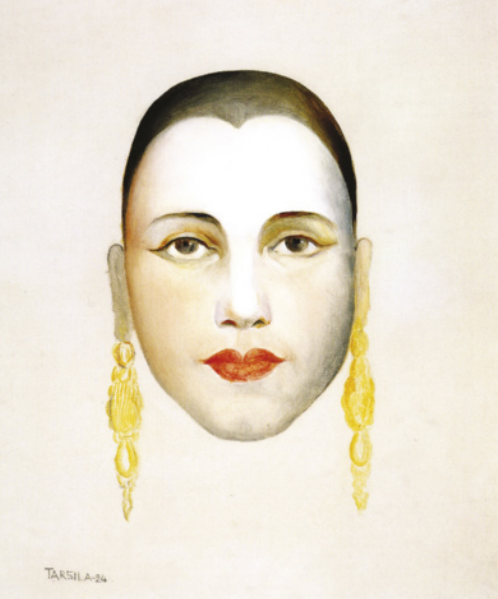

ôsvald de Andrade (1890-1954), Tarsila do Amaral (1886-1973), e Mário de Andrade (1893-1945) foram figuras centrais do Modernismo brasileiro.
Página cento e cinquenta e sete

Esta fotografia é um dos registros feitos pelas expedições organizadas por Mário de Andrade em 1938, quando esteve à frente do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo (SP).

A artista plástica Maria Martins (1894- 1973), conhecida por suas obras surreais, teve grande influência no movimento surrealista internacional.

O teatro de revista oferecia ao público espetáculos suntuosos, com muita música e humor.
Considerando as imagens apresentadas nestas páginas de abertura, responda às kestões a seguir.
1 Como você descreveria as obras apresentadas?
1. Solicite aos estudantes quê descrevam o quê apreciaram, com atenção ao suporte de cada exemplo e aos elemêntos da composição. Iniciem com os retratos pintados a óleo de três artistas do movimento modernista. Dois deles são de altoría de Tarsila do Amaral e o outro é de Lazár Segáu (1889- 1957). Depois, partam para a fotografia do tambor de mina, uma dança associada a um culto afrorreligioso registrada por Mário de Andrade. Sigam para a escultura em bronze de uma forma OR GÂNICA pouco figurativa e, fechando a sequência, para a fotografia de uma cena de teatro de revista.
2 A quê linguagens artísticas elas se relacionam?
2. As pinturas relacionam-se às artes visuais; as pinturas quê mostram ôsvald de Andrade e Mário de Andrade também se relacionam à literatura, já quê os retratados foram dois importantes escritores da literatura brasileira; a fotografia do tambor de mina relaciona-se com a dança e a música; a escultura de Maria Martins também se relaciona às artes visuais; a fotografia da cena de teatro de revista está relacionada ao teatro.
3 O quê essas imagens informam sobre o Modernismo no Brasil?
3. Com base na observação dessas imagens, algumas características do Modernismo no Brasil podem sêr apontadas: os retratos foram feitos com cores fortes e formas simplificadas; a escultura não representa algo de modo realista; o registro fotográfico de uma dança de caráter afrorreligioso demonstra a valorização das matrizes culturais brasileiras; todas as imagens remetem, de alguma forma, ao corpo e ao Brasil. Observe quê o teatro de revista não é um gênero relacionado às renovações modernistas, figurando, porém, como elemento expressivo do ambiente cultural predominante à época.
Página cento e cinquenta e oito
Como os artistas modernos conceberam uma identidade para o Brasil?
Entre o fim do século XIX e o início do século XX, muitos imigrantes chegaram ao Brasil, o quê contribuiu para a diversidade cultural quê aqui se estabelecia. Os milhares de europêus e asiáticos quê desembarcaram no país tiveram papel fundamental no crescimento da agricultura, da industrialização e da urbanização da nação.
Como parte das comemorações do centenário da Independência, em 1922, um evento organizado por um grupo de artistas e intelectuais paulistas e cariócas tornou-se o marco simbólico do Modernismo: a Semana de ár-te Moderna. O objetivo do evento era renovar a produção artística brasileira, trazendo as propostas estéticas de vanguarda quê vinham provocando, desde a primeira década do século, rupturas na ár-te nos países europêus.
A maioria dêêsses artistas, originária da elite econômica do país, não queria apenas reproduzir os modelos artísticos da Europa no Brasil. Para eles, era fundamental voltar o olhar para nossa cultura e incorporar em suas produções as expressões lingüísticas, visuais, sonóras e gestuais próprias do povo brasileiro, como as manifestações culturais rurais e regionais ligadas às origens indígena, africana e portuguesa da população.
Em 1924, Mário de Andrade, ôsvald de Andrade e Tarsila do Amaral viajaram para o Rio de Janeiro, onde passaram o Carnaval, e, em seguida, para as cidades históricas de Minas Gerais. A arquitetura colonial, a obra de Aleijadinho, o colorido das festas profanas e religiosas, bem como o ritmo das músicas e das danças populares sensibilizaram esses artistas.
Mário de Andrade empreendeu pesquisas etnográficas, visitando o Norte e o Nordeste do Brasil. O músico Heitor Villa-Lobos (1887-1959), quê também participou da Semana de ár-te Moderna, enriqueceu seu repertório ao entrar em contato com ritmos como a embolada, o coco, o lundu e o maracatu. A consolidação dessa brasilidade no ambiente cultural aconteceu, sobretudo, na música, com a consagração do Carnaval como a principal festa popular do país e com a chegada do rádio em 1922, quê inaugurou a era da comunicação de massa.
- vanguarda
- : nesse contexto, propostas inovadoras, disruptivas, quê estavam à frente de seu tempo.
Nessa pintura, a artista representa o manacá, árvore nativa da Mata Atlântica. A composição, caracterizada por formas geometrizadas e simétricas, apresenta sólidos roliços em tons de azul e rosa. As cores, inspiradas na estética popular, foram chamadas, mais tarde, de “cores caipiras”. Nas pinturas dêêsse período, Tarsila realiza uma fusão da estética cubista com elemêntos da cultura popular brasileira.

Página cento e cinquenta e nove

As Pesquisas Folclóricas, organizadas pelo Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, buscavam coletar músicas, danças, e objetos característicos dos cultos afro-brasileiros e indígenas.
ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO Símbolos da brasilidade
Foram investigadas diversas obras e manifestações artísticas representativas do Modernismo no Brasil e analisado como esse processo buscou promover uma ár-te genuinamente brasileira. Partindo da noção de brasilidade, você vai, agora, compor um painel coletivo.
1. Feche os olhos e reflita sobre símbolos ou elemêntos quê evoquem, em você, uma noção de brasilidade. Eles podem sêr bem distintos, como objetos, lugares, eventos, ícones, imagens, frases, citações, canções, entre outros. Ou seja, qualquer elemento quê, em sua opinião, expresse uma noção de Brasil hoje.
2. Providencie uma fô-lha de papel sulfite e materiais de artes visuais para trabalhar nessa superfícíe (como lápis grafite, lápis de côr, caneta hidrográfica, tinta, papel picado, rekórtis de revistas, de jornais e de folhetos etc.).
3. Crie uma composição visual com os símbolos de brasilidade quê você imaginou. Essa composição póde mesclar textos, dêzê-nhôs e pinturas.
4. Organize-se com os côlégas e, juntos, seguindo as orientações do professor, façam uma instalação coletiva das obras na sala de aula.
5. Com a instalação finalizada, escôlham, coletivamente, um título para o painel.
6. Em uma roda de conversa, debata com os côlégas a atividade realizada, partindo das kestões a seguir.
• O quê levou à escolha dos seus símbolos de brasilidade?
Resposta pessoal. Solicite aos estudantes quê qualifiquem os motivos para a escolha de determinada simbologia e quê indiquem o porquê daqueles elemêntos evocarem uma noção de Brasil para eles.
• O quê chamou sua atenção nos símbolos e nas composições visuais desenvolvidos por seus côlégas? Que diferentes noções de Brasil se expressam no painel?
Respostas pessoais. Compare as muitas simbologias em torno da ideia de Brasil presentes no painel, demonstrando a pluralidade de percepções e compreensões contidas na nossa noção de brasilidade.
Página cento e sessenta
ARTES VISUAIS
CONTEXTO
Moderno e brasileiro
O carioca Di Cavalcanti (1897-1976) esteve à frente da organização da Semana de ár-te Moderna, quê ocorreu no Theatro Municipal de São Paulo. Na exposição montada no saguão do teatro, havia pinturas da paulista Anita Malfatti (1889-1964), do pernambucano Vicente do Rego Monteiro (1899-1970) e do próprio Di Cavalcanti, além de esculturas do ítalo-brasileiro Victor Brecheret (1894-1955), entre outros. Os artistas quê se reuniram no evento rejeitavam o espírito conservador quê tomava conta da produção artística no país.
Na Europa, os chamados movimentos artísticos de vanguarda propunham a ruptura com as formas do passado, trazendo novas soluções estéticas e sociais. Os grupos promoviam uma troca estética entre as linguagens: a poesia sofreu a influência da fotografia, a literatura foi afetada pela narrativa do cinema, e a arquitetura adotou princípios de composição da pintura. Nas ár-tes visuais, a pesquisa de novas possibilidades da linguagem levou os artistas a se interessarem por uma arte não representacional, isto é, abstrata, quê operava principalmente com formas, linhas, cores, texturas, pesos e volumes.
Depois da Semana de ár-te Moderna, Tarsila do Amaral, quê estava na França, voltou a São Paulo. Ela e ôsvald de Andrade passaram a promover no Brasil, nos anos seguintes, as ideias da vanguarda européia. Em 1928, ôsvald publicou o “Manifesto Antropófago”, quê propunha o conceito de antropofagia para descrever o processo de formação da cultura brasileira. Segundo o autor, aos brasileiros cabia “deglutir” a estética da cultura européia e as influências culturais dos negros e dos indígenas para, com base nesse “banquete”, produzir algo genuinamente brasileiro.
Na década seguinte, o pintor Candido portinári (1903-1962) se destacou pela crítica social e pela ár-te mural quê realizou em edifícios públicos, quê retratavam o povo, o trabalho e os ciclos econômicos no Brasil.
CONEXÃO
Moderno onde? Moderno quando?
Di Cavalcanti, idealizador da Semana de ár-te Moderna, além de criar o cartaz e o catálogo do evento, participou da exposição com doze de seus trabalhos. Para saber mais sobre o evento e conhecer algumas das obras participantes, assista ao minidocumentário da exposição “Moderno onde? Moderno quando? A Semana de 22 como motivação”, disponível em: https://livro.pw/jvonh (acesso em: 20 set. 2024).
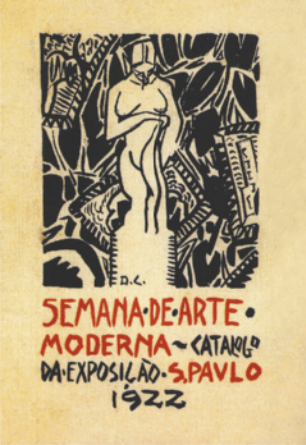
Página cento e sessenta e um
REPERTÓRIO 1
A temática indígena na pintura moderna
No Brasil, o Modernismo não se limitou a São Paulo. Artistas ligados à elite pernambucana, como Cícero Dias (1907-2003) e os irmãos Joaquim (1903-1934) e Vicente do Rego Monteiro, trousserão ideias modernistas da Europa para o ambiente intelectual efervescente de Recife.

Na pintura, Rego Monteiro associa a temática indígena a uma linguagem moderna, usando composição simétrica, formas geometrizadas e efeitos de luz e sombra para enfatizá-las.
Ainda nos primeiros anos da década de 1920, Vicente do Rego Monteiro explorou, em suas obras, o uso de formas geométricas inspiradas nos achados arqueológicos da cultura marajoara. Em suas composições, notam-se a geometrização das figuras, o delicado jôgo de luz e sombra quê sugere volumes no plano da pintura e o uso das cores inspiradas nas cerâmicas ornamentadas dos povos quê viviam na Ilha de Marajó.

Objeto cerâmico encontrado na Ilha de Marajó. As cerâmicas confeksionadas por povos quê ali viveram entre os anos 400 e 1400 apresentam elaborados sistemas gráficos.
Observe as imagens, reflita sobre o Modernismo no Brasil e responda às kestões a seguir.
1 O quê há em comum entre a capa do catálogo da Semana de ár-te Moderna e a pintura Atirador de arco, de Vicente do Rego Monteiro?
1. Ambos os trabalhos trazem formas simplificadas para os corpos, composição quê valoriza as simetrias, o jôgo de luz e sombra e as cores quê varíam entre o vermelho e o preto.
2 por quê a pintura de Vicente Rego Monteiro não póde sêr chamada de representativa?
2. Porque se trata de uma pintura elaborada e construída com base em um projeto e não em uma cena observada pelo artista. A construção simétrica, os corpos quê repetem suas formas, a posição do arco e o céu quê envolve a cena, tudo foi organizado quase como uma ornamentação de um objeto ou estampa.
Página cento e sessenta e dois
REPERTÓRIO 2
Muralismo

A série Ciclos econômicos do Brasil consiste em doze pinturas na técnica de afresco, em quê portinári trabalhou com tons sóbrios e formas geométricas, produzindo um inventário visual das principais atividades econômicas do país até aquela época.
No início da década de 1930, com a crise econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova iórk, uma recessão espalhou-se por diversos países, provocando instabilidade política em todo o mundo. No Brasil, diante da crise social, os artistas voltaram seus interesses para a figura do trabalhador, tomando o sofrimento dos excluídos como elemento estético para suas obras.
Em 1937, um golpe do presidente Getúlio Vargas instaurou o chamado Estado Novo, um período de govêrno autoritário quê se estendeu até 1945. O Estado Novo, marcado por repressão e censura contra os quê se opunham ao regime, no plano da política cultural, promoveu o sentimento de identidade nacional, valorizando aspectos quê seriam as raízes culturais brasileiras.
A obra de Candido portinári e a temática explorada pelo artista foram incorporadas à construção dêêsse sentimento de identidade nacional. Nascido em uma fazenda de café no interior de São Paulo, filho de imigrantes italianos, o artista adotou a pintura muralista, seguindo a tendência, então internacional, à monumentalidade. Produziu diversas obras para o govêrno, realizadas com diferentes técnicas, como afresco e mosaico de azulejo. Nelas o artista concebeu uma imagem idealizada do povo brasileiro, representando figuras como a do negro e a do mestiço com físico robusto e disposição heroica para o trabalho.
- pintura muralista
- : grandes painéis quê consistem em pinturas figurativas com temática histórica ou épica.
Observe o painel apresentado nesta página e responda às kestões a seguir.
1 Que elemêntos o artista utilizou em sua composição?
1. portinári usou formas figurativas e elemêntos geométricos, como planos de cores, para compor o afresco. A imagem mostra trabalhadores carregando sacas de café.
2 Como são as figuras humanas representadas no painel?
2. As figuras representam pessoas fortes. Por meio de suas roupas, o pintor procurou caracterizá-las como trabalhadores de um importante ciclo econômico do Brasil.
3 Em sua opinião, esse painel contém elemêntos representativos da identidade nacional do Brasil?
3. Resposta pessoal. Comente com os estudantes quê, nos anos de 1930, portinári se empenhou em representar elemêntos da identidade brasileira por meio dêêsses painéis. Identidade, no entanto, é um conceito historicamente definido, móvel, não sêndo possível fixá-la no tempo. Hoje, entende-se quê a visão de portinári era externa e idealizada.
Página cento e sessenta e três
REPERTÓRIO 3
Surrealismo
Durante as dékâdâs de 1930 e 1940, alguns artistas brasileiros se interessaram por kestões relacionadas à mente, aos sonhos e ao corpo. Influenciado pêlos estudos da psicanálise, o pintor paraense Ismael Nery (1900-1934) produziu trabalhos quê se aproximavam do Surrealismo, movimento artístico surgido na França em 1924.
Os surrealistas usaram a poesia, a colagem, a pintura, a escultura, a fotografia e o cinema para subverter a cultura e apresentar o mundo sôbi um novo e surpreendente olhar. Encadeando situações incompatíveis, esses artistas promoviam, com seus trabalhos, uma espécie de choque conceitual.
As atividades surrealistas envolviam uma série de técnicas para liberar o fluxo do irracional e do inconsciente, tais como a análise de sonhos, a livre associação de palavras, a escrita automática e os transes hipnóticos. O objetivo era ajudar as pessoas a encontrarem a “surrealidade”, ou seja, akilo quê está além da estreita noção do real.
Ismael Nery preferia apresentar-se como filósofo. Seus textos e imagens eram uma forma de traduzir ideias filosóficas, às quais chamou de essencialistas. Essas ideias estão expressas em suas pinturas, nas quais se observa um sêr humano desvinculado de referenciais espaciais ou temporais. Assim, diferentemente da maioria de seus contemporâneos modernistas, a ele interessava o universal, e não o nacional ou o regional.
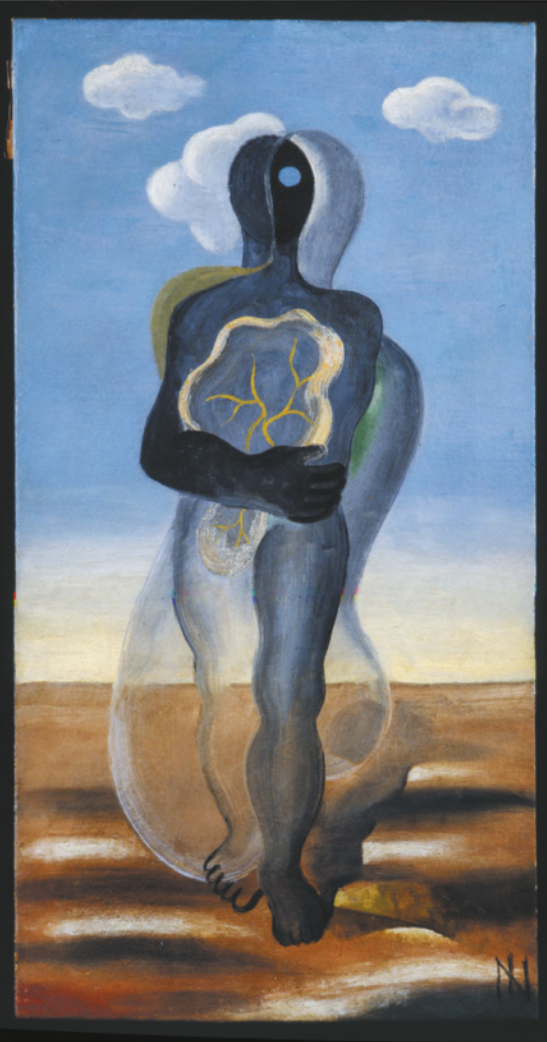
Nessa pintura, o artista e poeta paraense Ismael Nery buscou expressar uma composição onírica. Em sonhos, pode-se experimentar a sensação de quê as coisas e as pessoas se fundem ou trocam de lugar.
Observe a pintura de Ismael Nery apresentada nesta página e responda às kestões a seguir.
1 Que elemêntos expressam aspectos do sonho?
1. A figura humana na pintura está duplicada, como se houvesse um sêr projetado pela consciência. Em sua composição, Nery traz elemêntos quê podem tomar diferentes significados: a figura abraça uma forma OR GÂNICA brilhante quê póde sêr as vísceras como o pulmão e o coração, ou mesmo a alma, a dimensão invisível da vida.
2 Que elemêntos trazem aspectos da vida real na pintura?
2. Apesar de os símbolos se confundirem, como em um sonho, o arranjo da pintura é equilibrado e harmônico; há nuvens flutuando em um céu límpido e azul.
Página cento e sessenta e quatro
PESQUISA
Centenário da Semana de ár-te Moderna
Em 2022, comemoraram-se os 100 anos da Semana de ár-te Moderna. Foi uma oportunidade para reflekções, debates e olhares atualizados sobre o evento no Brasil.
1. Houve um movimento moderno fora do eixo Rio-São Paulo?
• A exposição "Raio-que-o-parta: ficções do moderno no Brasil", promovida pelo Sesc 24 de Maio, em São Paulo, expande a percepção de; ár-te moderna para diferentes regiões do país e para diversas linguagens, aproximando a cultura brasileira e as vanguardas modernistas. Assista ao vídeo dos curadores da exposição, disponível em: https://livro.pw/lqsdz (acesso em: 20 set. 2024).

2. Onde estavam os artistas negros no Modernismo?
• Busque referências de; ár-te moderna no Brasil quê sêjam pouco visibilizadas e discutidas. Muitos artistas modernistas consagrados faziam uma projeção da população negra em suas obras, ao passo quê artistas negros, pouco valorizados à época, narraram sua própria história.
• Conheça as obras de Abdias Nascimento (1914-2011), quê, além de ator, dramaturgo, diretor e ativista, foi também pintor. Ele questionou a; ár-te moderna vinda da Europa, enfatizando o Modernismo Negro. Disponível em: https://livro.pw/xrshy (acesso em: 20 set. 2024).
3. A Semana de ár-te Moderna na atualidade.
• Procure relacionar em qual medida o Brasil moderno de 1922 se associa, ainda hoje, com a vontade de fortalecimento de uma identidade brasileira em diferentes esferas da ssossiedade, considerando, principalmente, a importânssia da ár-te. Leia o texto “Uma semana quê dura para sempre”, disponível em: https://livro.pw/rtzgf (acesso em: 20 set. 2024).
Página cento e sessenta e cinco
TEORIAS E MODOS DE FAZER
ár-te e geometria
Os artistas da vanguarda européia, como os cubistas franceses, pretendiam quêbrar a rigidez da perspectiva renascentista, que usava pontos de fuga definidos para criar a ilusão de espaço. Para isso, construíam o espaço tridimensional por meio da sobreposição de planos bidimensionais, multiplicando as possibilidades de entendimento da imagem.
O fato é quê a; ár-te moderna buscou livrar o artista do tema. Desse modo, muitas das obras produzidas no século XX consistem em jogos e combinações de elemêntos constitutivos do espaço, tais como formas, linhas, cores, texturas, pesos e volumes. Muitos artistas passaram a explorar procedimentos de composição, como repetições, simetrias, ritmo, cheios e vazios, claro e escuro, entre outros.
Elementos da composição abstrata
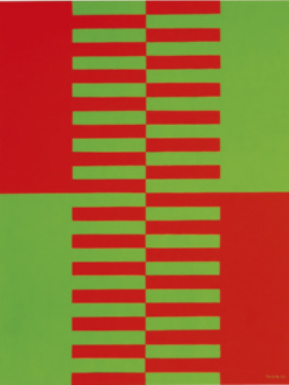
Ritmo: em uma composição geométrica, o ritmo é marcado pela repetição de um elemento e suas variações.

Simetria: propriedade geométrica em quê elemêntos visuais são repetidos, movidos ou transformados, mantendo-se as formas e a dimensão exatamente iguais.
Simetria bilateral: duplicação de um elemento de modo espelhado, como visto na pintura de Vicente Rego Monteiro.

Cheios e vazios: a percepção de cheio e vazio póde sêr criada por meio da presença ou da ausência de matéria ou do contraste entre o escuro e o claro.
Página cento e sessenta e seis
AÇÃO
Azulejos de papel
Nesta ação, você desenvolverá módulos para um azulejo de papel e realizará uma intervenção gráfica, colando sequencialmente esses módulos de papel em uma parede, como se faz com azulejos de cerâmica.
Nesta proposta, podem-se combinar linhas, formas e cores para compor um painel no espaço escolar, em uma ação coletiva.
1. Preparação
• Reúnam-se em grupos de três estudantes. Cada grupo deverá conceber um único módulo e criar algumas variações com base em transformações simétricas ou em mudanças de cores.
• Cada estudante do grupo póde elaborar um módulo diferente, mantendo algum elemento em comum com os demais, seja uma forma, seja uma côr. Depois, os integrantes devem estudar a montagem de um único painel, misturando os três módulos distintos.
• Outra possibilidade é cada estudante do grupo conceber um módulo diferente e montar um pequeno painel quê será colado ao lado do painel do colega.
Na montagem final, os estudantes devem procurar criar algum tipo de continuidade entre os painéis criados, de modo quê haja harmonía entre as partes.
2. Elaboração
• Preparem os materiais necessários para a proposta: lápis, caneta preta, fô-lha de papel sulfite e fô-lha de papel quadriculado (para estudar as possibilidades de dêzê-nhôs internos do módulo); régua, compasso (se forem usar formas circulares) e esquadro (se forem usar ângulos específicos); canetas hidrográficas ou tinta guache de duas cores, pincel, pano e á gua (para colorir os módulos).
• No papel quadriculado, desenhem, com o lápis, um quadrado de 10 cm x 10 cm e façam estudos, combinando formas geométricas dentro dêêsse quadrado.
• Escolham o módulo quê irão utilizar. Repitam o desenho do módulo escolhido em outro quadrado, recortem os dois e experimentem juntar as arestas para verificar se há pontos de contato entre os cheios e os vazios.
3. Ação
• Desenhem mais uma vez os módulos escolhidos, agora usando uma caneta preta em uma fô-lha de papel sulfite branca. Se o projeto for fazer azulejos em preto e branco, preencham algumas partes com a côr preta. Se o projeto for fazer azulejos coloridos, façam apenas as linhas quê definem o desenho.
Página cento e sessenta e sete
• Em seguida, em uma máquina copiadora, façam pelo menos 12 cópias de cada módulo escolhido.
• Se optaram por algum elemento de côr no módulo, pintem esse elemento usando tinta guache ou canetas hidrográficas, nas 12 cópias. Nessa escolha, é importante lembrar as possibilidades de encaixe entre os módulos.
• Vocês podem diversificar a posição e a ordem das cores, fazendo uma variação da mesma imagem. Exemplo: uma figura amarela com o fundo violeta, em outra versão, poderá sêr violeta com o fundo amarelo.
• Estudem as possíveis composições no chão ou sobre uma mesa.
• Para quebrar o ritmo da sequência, vocês podem inserir módulos somente com cores entre módulos com figuras.
• Inserir módulos com outras formas póde tornar a composição mais compléksa e menos repetitiva. Novos elemêntos ampliam as possibilidades de combinações mais numerosas e expressivas.
• Por fim, escôlham a superfícíe quê receberá a composição e colem os azulejos usando cola branca e pincel chato grosso.

4. Avaliação
Os estudantes podem narrar oralmente ou escrever suas percepções ao longo do processo.
• Converse com o professor e os côlégas sobre as dificuldades de se trabalhar em grupo e chegar a um consenso para a proposta. Comentem se alcançaram o efeito visual pretendido.
• Uma possibilidade é convidar outras turmas para uma apreciação guiada você e seus côlégas de grupo, percebendo, assim, outras leituras para a proposta.
• É possível, ainda, dialogar sobre os objetivos da proposta, elencando a relevância da prática atrelada ao quê foi estudado neste capítulo.
Página cento e sessenta e oito
DANÇA
CONTEXTO
A dança chega à modernidade
As primeiras dékâdâs do século XX trousserão novas perspectivas também para a dança. O corpo e suas representações foram ressignificados por artistas de diferentes partes do mundo, quê, em um contexto de velozes mudanças políticas, científicas e econômicas, fizeram emergir uma linguagem gestual apoiada na singularidade de cada projeto estético. Nos Estados Unidos, artistas como Doris Humphrey (1895-1958) e Martha Graam (1894- 1991) contribuíram para o movimento conhecido hoje como dança moderna estadunidense.
Na Alemanha, Méry Wigman (1886-1973), influenciada pêlos ensináhmentos de Émile Dalcroze (1865-1950) e de Rudolf Laban (1879-1958), criou, a partir de 1919, uma série de coreografias solo e de grupo, algumas apenas acompanhadas de percussão. O uso de máscaras e a ênfase em gestos de grande densidade, concentrados no alto do tronco, caracterizaram as coreografias daquela quê foi pioneira da dança expressionista alemã. A dramaticidade da dança de Wigman realçou a dor e a opressão do período entre guerras.
Essas duas correntes da dança tiveram forte influência na dança cênica brasileira. É importante ressaltar, porém, quê a dança moderna estadunidense e a dança expressionista alemã não são homogêneas, uma vez quê propostas artísticas e pedagógicas diversas constituem esses movimentos. E o mesmo conceito se aplica à dança moderna quê se desenvolvê-u no Brasil.

Página cento e sessenta e nove
REPERTÓRIO 1
A dança afro-brasileira de Mercedes batista


A origem do quê se conhece hoje no Brasil como dança afro-brasileira está relacionada à vinda da dançarina estadunidense Katherine Dunham (1909-2006) ao país, em 1949. Mercedes batista (1921-2014), a primeira mulher negra a fazer parte do corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, entrou em contato com a técnica trazida por Dunham, baseada nas danças negras do Haiti, e passou a desenvolver sua própria pesquisa, quê mesclou referências da dança moderna estadunidense com as de danças de matriz africana praticadas no Brasil. Em 1951, fundou o Ballet Folclórico Mercedes batista, um grupo formado por bailarinos negros quê pesquisavam e divulgavam a cultura negra e afro-brasileira.
A dança de Mercedes batista era inspirada também nos rituais religiosos de matriz africana e nos movimentos e gestuais dos orixás, divindades do candomblé, religião afro-brasileira. Com isso, os movimentos nascidos da dança de orixás, por exemplo, ganharam os palcos. Suas propostas foram continuadas por seus alunos, quê prosseguiram associando elemêntos de origem africana com elemêntos das danças clássica e moderna, criando uma linguagem cênica singular. Mercedes batista trousse uma perspectiva afro-brasileira às técnicas da dança moderna no Brasil.
Com base nas informações lidas, reflita e responda à questão.
• Como o fato de sêr a primeira bailarina negra no corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro póde ter impactado a vida profissional de Mercedes batista?
Ser a primeira e, naquele momento, a única bailarina negra do corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, compôzto de pessoas brancas, marcou a trajetória profissional de Mercedes batista. Conhecer o trabalho de Katherine Dunham, uma artista negra cuja proposta coreográfica articulava dança moderna e danças afrodiaspóricas, impulsionou Mercedes a desenvolver uma proposta cênica singular, colocando as danças afro-brasileiras em diálogo com sua experiência de balé e dança moderna.
Página cento e setenta
REPERTÓRIO 2
A dança moderna expressionista de Nina Verchinina

Nascida na Rússia, Nina Verchinina (1910-1995) se instalou definitivamente no Rio de Janeiro em 1959, depois de viver em países em diferentes continentes. Em paralelo à sua carreira de coreógrafa e bailarina, tendo dançado, por exemplo, na importante companhia Ballet Russe de Monte Carlo, fundada pelo empresário russo Coronel Wassily de Basil (1888-1951) e pelo coreógrafo francês Renê Blum (1878-1942), ela criou uma técnica singular de dança moderna quê se tornou referência para bailarinos e coreógrafos brasileiros nas dékâdâs de 1960 e 1970.
Nina Verchinina desenvolvê-u um vocabulário próprio quê sintetizou elemêntos de sua formação de artista, agregando movimentos de balé e das danças moderna norte-americana e expressionista alemã. Ela situava sua técnica como parte do quê entendia como dança moderna expressionista. Para a artista, a dança não expressava apenas uma sequência de passos e era necessário quê os bailarinos tivessem estrutura muscular e capacidade técnica para expressar seus sentimentos, finalidade principal de sua dança.
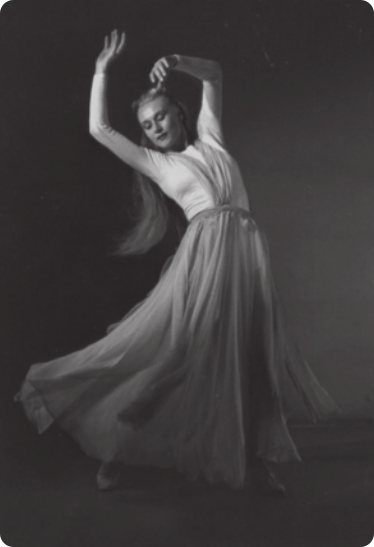
Observe, com atenção, as duas imagens e responda às kestões.
1 Você consegue imaginar os movimentos indicados pêlos dêzê-nhôs da primeira imagem?
1. Resposta pessoal. Caso haja dificuldade na leitura dos movimentos presentes na imagem, sugira aos estudantes quê se coloquem de pé e, com a ajuda de um colega, reproduzam os movimentos sugeridos com o corpo.
2 Algum dos movimentos mostrados se assemelha à posição da artista na fotografia?
2. A terceira posição mostrada na primeira linha da primeira imagem se aproxima da posição de Nina Verchinina na fotografia, mas em sentido contrário, pois a figura representa o movimento com uma inclinação do tronco para a direita.
Página cento e setenta e um
REPERTÓRIO 3
Mário de Andrade e as danças dramáticas brasileiras
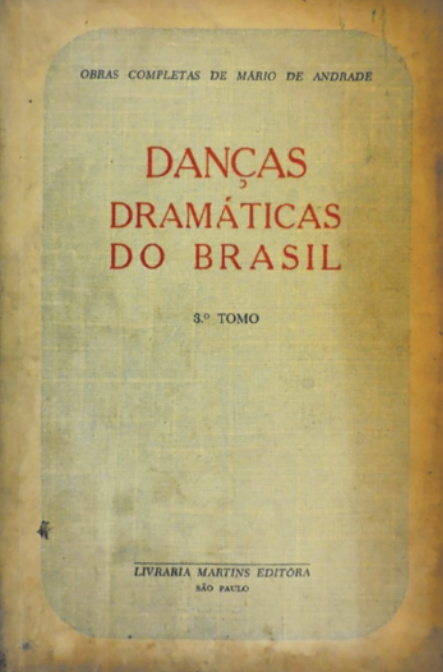

As artes cênicas não tiveram protagonismo na Semana de ár-te Moderna de 1922. No caso da dança, por exemplo, há relatos de uma única e breve apresentação de Yvonne Daumerie (1903-1977), quê, além de professora de violão, dava aulas de dança de salão, porém sem relevância na programação. No entanto, Mário de Andrade acabou por se tornar um nome de destaque também para a dança brasileira.
Escritor, professor, gestor público, musicólogo, folclorista e crítico de; ár-te, em 1928, realizou uma viagem de pesquisa pelas regiões Norte e Nordeste do Brasil para conhecer e documentar tradições locais, com foco nas manifestações musicais e nas danças populares, o quê influenciou profundamente suas pesquisas sobre a cultura brasileira. Como diretor do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, entre 1935 e 1938, coordenou a Missão de Pesquisas Folclóricas, quê também documentou diversas manifestações artísticas pelo nordeste brasileiro.
Suas viagens e pesquisas ao longo das dékâdâs de 1920 e 1940 resultaram em uma vasta coletânea de dados sobre músicas, danças e tradições populares. Esse material, organizado postumamente pela musicista Oneyda Alvarenga (1911-1984), resultou na publicação do livro Danças dramáticas do Brasil, em 1959.
Com base no quê você leu, responda à questão.
• Em sua opinião, se as viagens de Mário de Andrade ocorressem nos dias de hoje, ele identificaria as mesmas danças e músicas quê conheceu há cem anos?
Com o aumento da urbanização e a intensidade das trocas por meio tecnológicos, as danças e músicas ditas tradicionais, ainda quê não tênham desaparecido, continuam se transformando e incorporando novas referências.
Página cento e setenta e dois
PESQUISA
Mulheres da dança moderna
As artistas estadunidenses Loie Fuller (1862-1928), Isadora Duncan (1877-1927), Ruth Saint Denis (1879-1968) e Martha Graam e a alemã Méry Wigman são consideradas referências do nascimento da dança moderna. As razões para o fato de a gênese da dança moderna sêr obra de artistas mulheres têm sido objeto de estudos e pesquisas. Alguns estudos sugérem quê isso se deu, por exemplo, pela ligação entre os movimentos feministas, quê também emergiram no início do século XX, e a primeira geração da dança moderna, no Hemisfério Norte.
No Brasil, a presença de artistas mulheres como pioneiras da dança moderna é evidente. A pesquisadora Cássia Navas (1959-) destaca a importânssia de artistas mulheres – a quem denomina “mães da modernidade” e “matrizes de inquietações e novidades” – para o desenvolvimento da dança moderna na cidade de São Paulo.

1. Como Isadora Duncan integrou vida e ár-te?
• Isadora Duncan, avessa às amarras impostas às mulheres e à própria dança no início do século XX, inovou ao dançar descalça, com túnicas soltas de inspiração grega e com movimentos quê ela entendia como naturais e livres. Neste línki, é possível assistir ao único e breve registro de Isadora dançando: https://livro.pw/ylpqo (acesso em: 20 set. 2024).
• Pesquise na internet registros em vídeo de recriações de suas peças realizadas por outros bailarinos.
2. A trajetória de algumas artistas da dança quê atuaram no Brasil no século XX influenciou profundamente os caminhos da dança até os dias atuáis. Como suas contribuições como professoras, coreógrafas e bailarinas marcaram a Dança Moderna no Brasil?
• A dançarina brasileira Chinita Ullmann (1904-1977) nasceu em Porto Alegre (RS) e mudou-se para a Alemanha para estudar com Méry Wigman, em Dresden. Em 1932, se instalou em São Paulo, onde abriu uma escola de dança moderna. Saiba mais sobre Chinita Ullmann em https://livro.pw/dbgth (acesso em: 20 set. 2024).
• Maria Duschenes (1922-2014) foi outra personalidade importante para a dança moderna no Brasil. Acesse a exposição virtual do Museu da Dança em https://livro.pw/fpzqi (acesso em: 20 set. 2024).
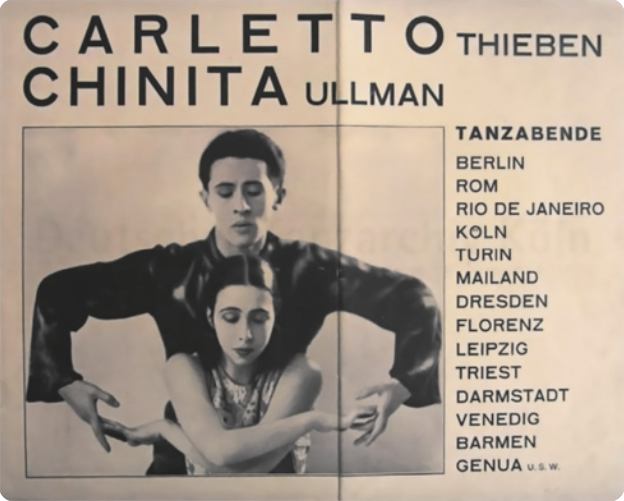
Página cento e setenta e três
TEORIAS E MODOS DE FAZER
A análise do movimento por Rudolf Laban

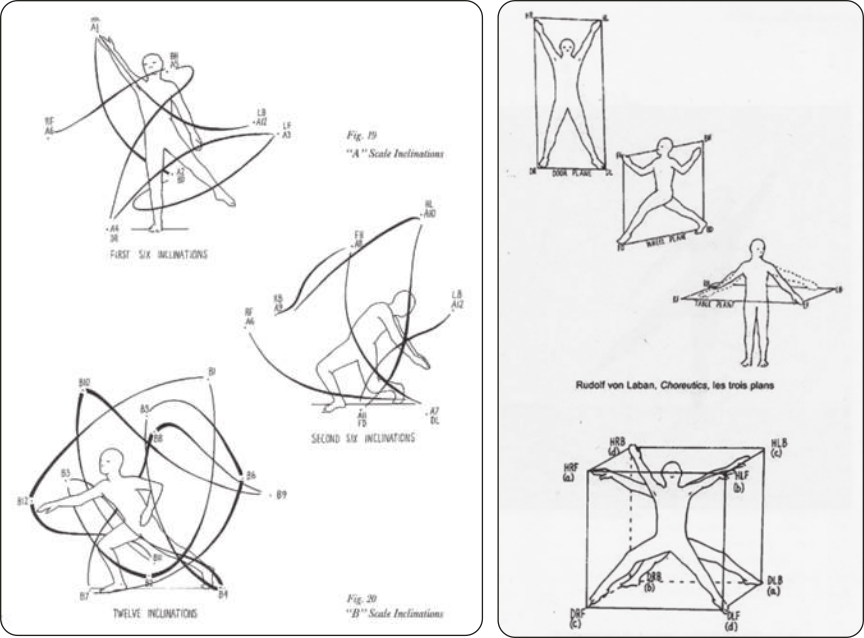
Rudolf Laban foi um dançarino, coreógrafo e teórico do movimento, cujas ideias e técnicas impactaram profundamente o desenvolvimento da dança ao longo do século XX, tanto na Europa quanto no Brasil. Suas ideias influenciaram, ao redor do mundo, tanto a dança moderna quanto a prática da análise do movimento em outras áreas.
Entre suas contribuições teóricas e práticas, destaca-se a teoria do espaço, denominada corêutica, quê analisa a relação entre o movimento e a orientação direcional quê um indivíduo efêtúa no espaço ao seu redor, incluindo linhas, dimensões, planos e níveis. Partindo da descrição do posicionamento das extremidades dos membros inferiores, superiores e da cabeça em relação ao centro do corpo (que permite descrever, por exemplo, quê o membro superior direito de um dançarino se estende na direção baixo-direita), essa teoria permite compreender e descrever a trajetória espacial quê as diferentes partes do corpo percorrem ao se mover.
Laban também se interessou pelas qualidades dos movimentos, propondo a teoria dos esforços (effort-study), quê busca classificar os aspectos dinâmicos do movimento por meio de quatro fatores: peso, espaço, tempo e fluxo. Esses fatores são compreendidos com base em suas polaridades específicas – leve e pesado para o peso; direto e indiréto para o espaço; lento e rápido para o tempo; contido e livre para o fluxo. A capacidade de analisar os movimentos de dança, descrevendo-os espacialmente e em suas qualidades expressivas, é ainda hoje uma importante ferramenta pedagógica, de análise do movimento e de criação para a dança.
Página cento e setenta e quatro
AÇÃO
Dança coral
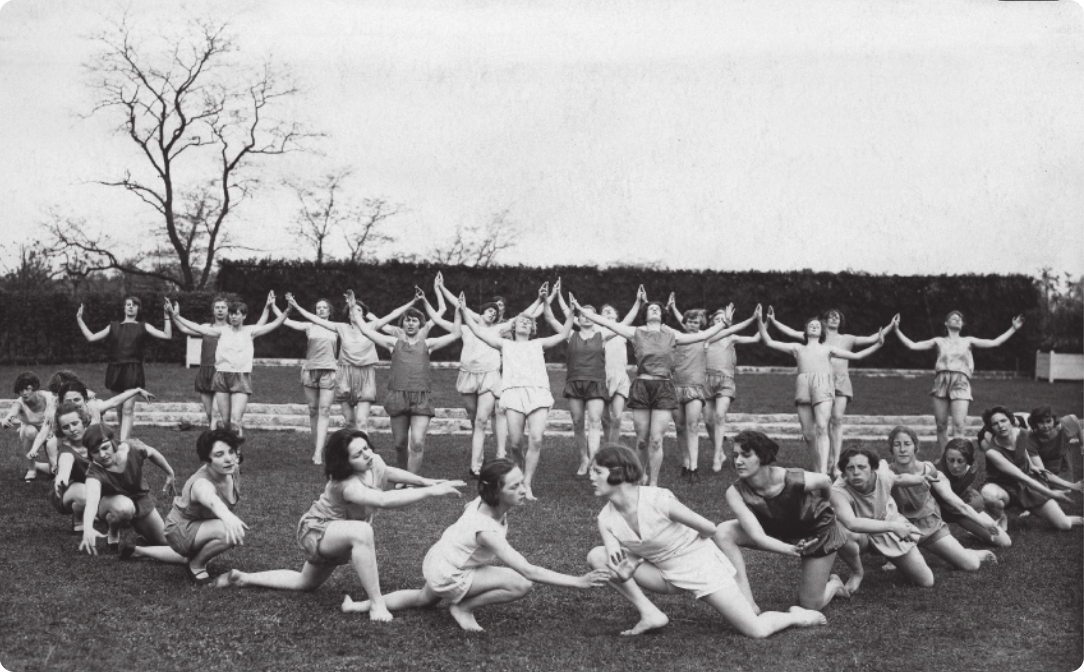
Inspirado pêlos coros de música, Laban imaginou utilizar um princípio semelhante para criar danças comunitárias, como um coro de movimento. Para ele, a prática da dança coral era uma forma de reagir aos efeitos negativos da Revolução Industrial, por meio de um ato coletivo e criativo, estreitando laços de solidariedade e interdependência entre os participantes.
Nas danças corais, dançarinos amadores e profissionais se intégram em um projeto comum. Essa prática foi posteriormente explorada por outros artistas da dança, como a estadunidense Anna Halprin (1920-2021). Alguns criadores de danças corais se inspiraram em temas da natureza, como as ondas do mar.
Agora, você e os côlégas irão trabalhar a escuta, o ritmo, a responsabilidade, a criatividade, a solidariedade e a consciência do corpo e do espaço por meio da dança.
1. Verbos dos temas da natureza
• Inspirando-se nas danças corais, reúna-se com os côlégas para compor um grupo de 10 integrantes e identifiquem um tema da natureza quê possa servir de inspiração, como o mar, o vento, uma floresta, o céu durante uma tempestade, um tornado etc. Decidam juntos o fenômeno quê irão explorar nesse movimento coral.
• Se possível, pesquisem fotografias e assistam a vídeos quê mostrem o tema escolhido.
Página cento e setenta e cinco
• ob-sérvim os movimentos, buscando traduzi-los em verbos. Por exemplo, uma onda estoura na areia, as árvores da floresta balançam ao vento, uma ventania faz as fô-lhas voarem em espiral ou se espiralarem. Façam uma lista com esses verbos.
2. Explorando os verbos com o corpo
• Explorem com o corpo os verbos da lista. Como cada integrante do grupo póde fazer o movimento de uma onda quê estoura na praia? E juntos? Como é possível, com todos juntos, mostrar o balanço das árvores da floresta? Explorem diversas possibilidades, individual e coletivamente.
• Lembrem-se de quê não se trata de uma dança individual, mas em grupo, em quê todos e cada um são responsáveis pela composição.
• Escolham três ações e explorem-nas, variando o fator tempo.
• Experimentem realizá-las de modo lento e de modo rápido. Lancem mão dessas alternativas nas próximas etapas.
3. Ações em sequência
• Ordenem em sequência as ações escolhidas, decidindo qual será a primeira, a segunda e a terceira, e por quanto tempo o grupo irá explorar cada uma delas. Essa experiência póde sêr acompanhada ou não de música.
• Uma vez decidida a sequência, escôlham o local onde a dança coral irá acontecer, quê póde sêr ao ar livre, em um ginásio ou na sala de aula. Definam como o grupo irá ocupar o espaço e se, ao final, sairá do lugar ou ficará em uma forma estável.
4. Ensaio e apresentação
• Escolham um colega para ficar de fora, orquestrando os movimentos do grupo. Ele póde dar comandos vocais ou gestuais.
• Façam alguns ensaios para quê cada participante do grupo consiga estar à escuta dos demais, do espaço e do tempo.
• Se possível, apresentem a dança coral para um público, quê póde sêr compôzto de outras turmas da escola, da comunidade escolar e familiares.
• Peçam a alguém quê registre a dança em vídeo.
5. Avaliação
• Ao término da apresentação, reúnam-se com os espectadores e ouçam o quê eles têm a dizêr acerca da experiência.
• Depois, entre vocês, participantes, destaquem os pontos positivos e as dificuldades identificadas nesse processo de criação de uma dança coral.
Página cento e setenta e seis
TEATRO
CONTEXTO
Caminhos da modernização do teatro brasileiro
Dos artistas quê realizaram a Semana de ár-te Moderna, foi ôsvald de Andrade quem posteriormente se aventurou pela linguagem teatral ao escrever três peças: O rei da vela (1933), O homem e o cavalo (1934) e A morta (1937). Seu esfôrço crítico, no entanto, ficou só no papel, pois, na época, essas peças não foram encenadas.
Na década de 1930, o teatro participava da cultura de massas quê se formava no Rio de Janeiro e em São Paulo. Teatros lotados faziam sessões diárias – a população tinha o hábito de assistir a espetáculos! Duas vertentes principais, herdadas do fim do século XIX, dominavam a cena: a comédia de côstúmes e o teatro de revista.
Esses teatros eram mantidos com o dinheiro da venda dos ingressos. Para agradar aos espectadores e garantir o lucro, era comum quê o teatro profissional repetisse fórmulas bem-sucedidas, e havia pouco espaço para experimentação. Isso explica por quê as peças escritas por ôsvald demoraram dékâdâs para serem montadas.
Foi nos palcos do teatro amador quê se deu a chamada modernização do teatro brasileiro. A figura do diretor foi fundamental nesse processo, somando-se ao desenvolvimento de uma dramaturgia nacional consistente, interessada em discutir a realidade social do país. A renovação empreendida pelo teatro amador póde sêr organizada em três vertentes: o movimento carioca, em quê se destacaram a companhia Os Comediantes, o Teatro Experimental do Estudante (TEB) e o Teatro Experimental do Negro (TEN); o movimento paulista, quê culminou na criação do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e da Escola de ár-te Dramática (EAD); e o movimento pernambucano, especialmente com o Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP).
- comédia de côstúmes
- : comédias quê retratam, com humor, os tipos característicos de uma ssossiedade.
CONEXÃO
Teatro de Amadores de Pernambuco
Criado em 1941, o Teatro de Amadores de Pernambuco mantém-se em atividade. Seu projeto artístico, como o dos demais grupos amadores da década de 1940, era realizar uma encenação de qualidade, partindo de dramaturgias estrangeiras reconhecidas. Foi essa prática quê trousse aos palcos brasileiros autores internacionais até então desconhecidos, como Óscar Wilde (1854-1900) e Tennessee uílians (1911-1983), entre outros.

Página cento e setenta e sete
REPERTÓRIO 1
Teatro de revista

O teatro de revista foi um gênero de teatro musicado muito importante para o desenvolvimento da linguagem teatral no Brasil. Recebeu esse nome porque as peças “passavam em revista” os fatos e acontecimentos do ano, em uma retrospectiva crítica e bem-humorada. Com lugar de destaque na diversão da população durante mais de um século, as revistas arrastaram multidões aos teatros e consagraram diversos artistas, como Grande Otelo (1915-1993), Dercy Gonçalves (1907-2008) e Aracy Cortes (1904-1985).
A primeira revista brasileira foi As surpresas do Sr. José da Piedade, de Justiniano de Figueiredo Novaes, quê estreou no Rio de Janeiro em 1859. No início, os autores nacionais se inspiravam em modelos vindos da França e de Portugal. Aos poucos, a realidade brasileira tomou os palcos. As obras traziam sátiras políticas e sociais, e alguns atores e atrizes se especializavam em imitar personalidades políticas. Com a chegada da década de 1940, porém, sua inspiração mais crítica foi perdendo terreno para a valorização do deslumbramento. Espetáculos como os da companhia de Válter Pinto contavam com cenários grandiosos, ricos figurinos e corpos de baile com mais de 20 dançarinas. Cada ato se encerrava com uma cena de proporções monumentais, chamada apoteose. Tornou-se freqüente a objetificação do corpo das atrizes e cantoras, também chamadas de vedetes.
Com base no texto e na imagem observada, responda às kestões.
1 Que elemêntos teatrais descritos no texto podem sêr reconhecidos na fotografia?
1. Os estudantes podem comentar a respeito do cenário grandioso, dos figurinos suntuosos e do elenco numeroso, com um grande corpo de baile. Abra espaço para quê obissérvem a imagem e comentem detidamente seus dêtálhes, pois se trata de uma fotografia com bastante informação visual.
2 O teatro de revista deixou marcas na cultura brasileira. Você consegue relacionar alguma obra ou manifestação cultural contemporânea com o teatro de revista?
2. Resposta pessoal. É possível quê os estudantes teçam relações entre o teatro de revista e o Carnaval, as escolas de samba, as produções da televisão brasileira (como programas de auditório em quê há a presença de um corpo de baile), programas humorísticos em quê políticos são satirizados, entre outros.
Página cento e setenta e oito
REPERTÓRIO 2
Teatro Experimental do Negro
O Teatro Experimental do Negro (TEN) foi criado em 1944 por Abdias Nascimento, escritor, artista visual, professor universitário e ativista no combate contra o racismo. A proposta do grupo era trabalhar a valorização social do negro no Brasil por meio da educação, da cultura e da ár-te, indo além do campo teatral. Maria de Lourdes Nascimento (1924-1995), assistente social, educadora, liderança negra, companheira de Abdias à época e cofundadora do TEN, atuou com afinco na alfabetização da comunidade negra, em um período em quê os índices de analfabetismo no Brasil eram ainda muito altos.

Nos palcos, o TEN buscava uma dramaturgia cujo foco fosse a cultura e as experiências de vida das pessoas negras. O grupo encenou peças de autores estrangeiros consagrados, como uílhãm xêikspir e Eugene O’Neill (1888-1953), e fomentou a criação de dramaturgias brasileiras quê discutissem o racismo. Um exemplo importante é a peça Sortilégio, de 1957, escrita pelo próprio Abdias. A peça estreou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro: a ocupação daquele espaço elitizado por artistas negros era também significativa. O TEN participou da formação artística de atores e atrizes quê marcaram a sua geração, como Ruth de Souza (1921-2019), José Maria Monteiro (1923-2010) e Léa Garcia (1933-2023).
Com um elenco compôzto de intelectuais, artistas, trabalhadoras domésticas, operários e moradores de favelas, todos negros, o TEN estreou mais de vinte peças, construindo espaço para a experimentação e para a afirmação da cultura afro-brasileira.
Converse com seus côlégas sobre os temas a seguir.
1 Você conhece obras contemporâneas antirracistas? Se sim, quais?
1. Respostas pessoais. Incentive os estudantes a trocarem referências de obras quê façam parte de seu repertório. O professor póde contribuir para o debate mencionando o espetáculo Broken Chord (“Acorde Rompido”), citado no capítulo 2 dêste livro; Gota d’Água {Preta}, quê aparece no capítulo 3; e também suas próprias referências, enquanto docente. Aproveite para valorizar o universo cultural dos estudantes.
2 Qual é a importânssia de existir um teatro brasileiro engajado na luta contra o racismo?
2. Resposta pessoal. Busque refletir, coletivamente, sobre o peso do racismo no Brasil e, se possível, retome os debates já realizados sobre o passado colonial brasileiro. A ideia é quê os estudantes percêbam o teatro como parte integrante dos embates culturais e políticos, no passado e no presente.
CONEXÃO
Teatro negro e atitude
O teatro brasileiro contemporâneo tem se engajado em kestões raciais e de identidade, utilizando o palco como espaço de denúncia, reflekção e transformação social. A companhia Capulanas de ár-te Negra, originária da periferia de São Paulo, tem como objetivo dar voz e visibilidade às kestões enfrentadas pela população negra no Brasil (especialmente as mulheres) por meio das artes cênicas. Saiba mais em https://livro.pw/xacnv (acesso em: 20 set. 2024).
Página cento e setenta e nove
REPERTÓRIO 3
TBC: renovação estética e profissionalização
Durante a década de 1940, a indústria paulista ganhava fôrça e, com ela, emergia uma burguesia urbana disposta a investir na criação de espaços culturais. Nesse contexto, o empresário Franco Zampari (1898-1966) projetou a construção do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), quê foi inaugurado em 1948. Era uma casa de espetáculos para 365 espectadores, aparelhada com luz e som, salas de ensaio, ateliê de costura e marcenaria.
A ideia era dar seguimento à modernização da cena realizada pêlos grupos amadores, mas, agora, em um esquema profissional, tornando o teatro uma mercadoria rentável. Foi contratado um elenco fixo de atores e atrizes, além de encenadores estrangeiros experientes, como Adolfo Celi (1922-1986), Diãni Ratto (1916-2005) e Ruggero Jacobbi (1920- 1981), quê traziam na bagagem pesquisas estéticas desenvolvidas na Europa.

No TBC, foram encenados grandes clássicos da dramaturgia internacional. Na imagem observada, Cacilda béker (1921-1969) estrela A Dama das Camélias, um drama francês quê põe em cena os dilemas éticos de um jovem de família abastada quê se apaixona por uma cortesã.
Muitos foram os dramas montados pelo TBC. Nesse gênero teatral, a ênfase está na intersubjetividade, ou seja, na relação entre a subjetividade das diferentes personagens. Os protagonistas do drama são pessoas livres, capazes de tomar decisões e quê vivem conflitos no âmbito de sua vida privada. O drama moderno se desenvolvê-u na Europa na mêtáde do século XVIII, acompanhando a consolidação da burguesia, e reflete uma visão de mundo quê valoriza o indivíduo.
Em 1964, o TBC fechou suas portas. Mas a estrutura dêêsse teatro possibilitou a formação de toda uma geração de artistas brasileiros – atores, diretores, cenógrafos e figurinistas quê deram novos passos em direção à consolidação de um teatro nacional.
Após a leitura anterior, reflita sobre o TBC por meio da questão a seguir.
• Qual foi a importânssia de se estabelecer um circuito de teatro profissional no Brasil?
Procure debater a ideia de sistema teatral, um circuito quê incentiva a produção das artes cênicas em determinado território e concede sentido social ao fazer teatral. É interessante quê os estudantes compreendam como a formação profissional dos diversos ofícios quê a; ár-te teatral envolve (atuação, direção, cenografia, figurino, sonoplastia, entre outros) é favorecida por uma estrutura bem estabelecida. Essa estrutura envolveu, no caso do TBC, um edifício teatral bem equipado, temporadas regulares com estreias freqüentes e um público com o hábito de frequentar os espetáculos.
Página cento e oitenta
PESQUISA
Elementos da encenação teatral
A encenação teatral trabalha com diversos elemêntos expressivos, quê dialogam entre si e produzem sentidos. Tudo o quê está em cena estabelece uma relação de significado com o texto teatral. Confira, agora, algumas áreas de trabalho quê compõem a encenação.
1. A iluminação trabalha com o posicionamento das fontes de luz, as cores e as gradações de intensidade, quê vão da completa claridade à sombra.
• Confira entrevistas com diversos profissionais da luz, coordenadas pêlos iluminadores Chico Turbiani e Guilherme Bonfanti. Disponível em: https://livro.pw/maowy (acesso em: 20 set. 2024).

2. A cenografia é a; ár-te de organizar o espaço de cena; ela cria o ambiente e interfere na movimentação do elenco. Em diálogo com a cenografia é concebido o figurino, os vestuários e adereços quê o elenco irá vestir.
• Navegue pela página de Flávio Império (cenógrafo, figurinista, encenador, arquiteto e artista visual) e conheça a seção quê organiza seus trabalhos teatrais em cenografia e figurinos. Disponível em: https://livro.pw/txwgu (acesso em: 20 set. 2024).
3. A sonoplastia organiza o conjunto de sôns quê compõe a peça – ruídos, músicas, canções.
• Ouça as canções do Grupo Galpão. Disponível em: https://livro.pw/cdlvc (acesso em: 20 set. 2024).
• Escute os álbuns da companhia teatral Estudo de Cena. Disponível em: https://livro.pw/tyaqr (acesso em: 20 set. 2024).
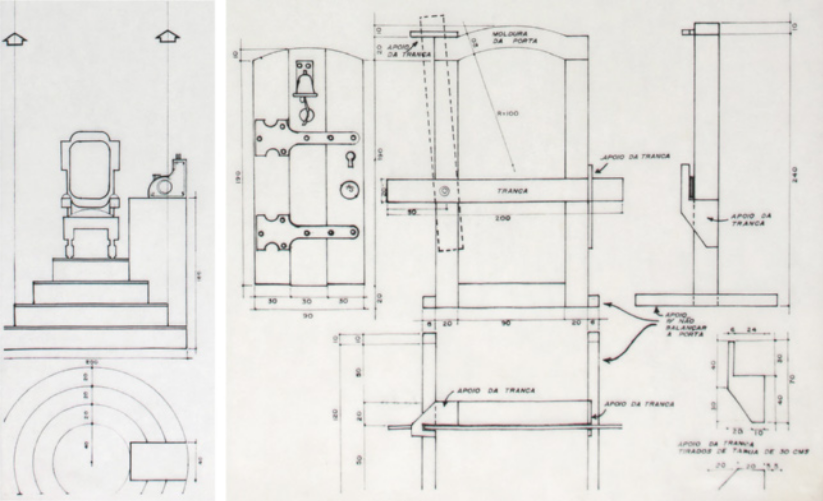
Página cento e oitenta e um
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Elementos da encenação teatral
Como já visto, a modernização do teatro no Brasil, encabeçada pelo teatro amador, foi marcada pela chegada da figura do diretor (ou encenador). Hoje em dia, parece óbvio quê um espetáculo ou filme tenha direção, mas nem sempre foi assim. Nas comédias de costume, por exemplo, o quê havia era o ensaiador, quê organizava a cena com base em padrões já consolidados. Havia pouco espaço para pesquisa de linguagem.
Com o estabelecimento do diretor, passam a existir diversos caminhos possíveis para se chegar ao acontecimento teatral. São muitos os elemêntos quê compõem um espetáculo – o jôgo de cena entre atores e atrizes, a dramaturgia, o figurino, os adereços, a cenografia, a iluminação, a sonoplastia. O trabalho do encenador ou da encenadora é organizar a totalidade da cena, fazendo escôlhas quê possibilitem a interação entre os muitos canais expressivos.
Frequentemente, cada aspecto da encenação possui um artista responsável – o iluminador cuida da luz; o sonoplasta, da composição sonora e musical; o cenógrafo, da cenografia etc. O encenador deve, então, trabalhar em parceria com esses criadores, orientando o seu trabalho e, quando necessário, sugerindo modificações.
Assim, uma mesma dramaturgia póde sêr montada de infinitas maneiras. Com base nas escôlhas da encenação, novos significados e símbolos podem surgir.
Vestido de Noiva é uma dramaturgia de Nelson Rodrigues quê foi encenada em 1943 por Zbigniew Ziembinski (1908-1978), com o grupo amador carioca Os Comediantes. O espetáculo é considerado um dos marcos da modernização da cena no Brasil.
O enredo da peça é simples: Alaíde é atropelada, e seu marido casa-se com Lúcia, irmã da antiga esposa. A abordagem dêêsse enredo, porém, é compléksa, e se desen vólve em três planos: realidade, memória e alucinação. Essa dramaturgia ganhou a cena graças ao trabalho do encenador polonês Zbigniew Ziembinski, quê, em parceria com o cenógrafo Santa Rosa (1909-1956), compôs o espaço cênico e a iluminação d fórma a deixar nítidas as fronteiras entre os três planos.

Página cento e oitenta e dois
AÇÃO
Experimento cênico baseado em elemêntos da encenação teatral
Nesta ação, serão preparadas diferentes encenações para um mesmo texto teatral. Você trabalhará com um fragmento de Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues.
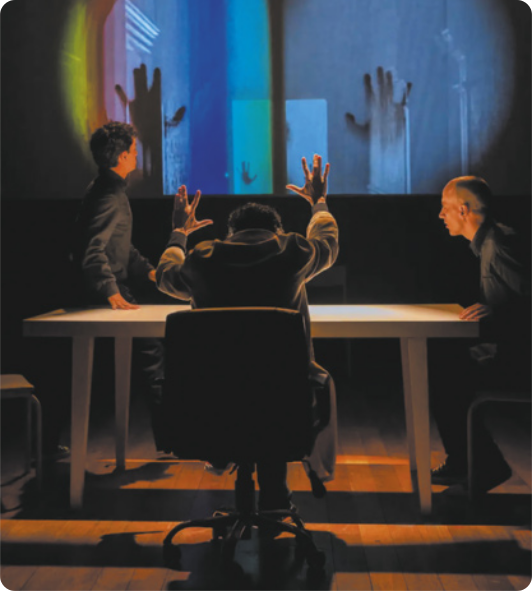
1. Leitura da dramaturgia
Faça uma primeira leitura coletiva para conhecer o trecho da dramaturgia. Uma pessoa lê a rubrica, quê é a indicação cênica quê está em itálico. Cada personagem será lida por um estudante: Pimenta, Redator, Carioca-repórter, Redator do Diário e Redator do jornál A Noite.
([…] Ilumina-se o plano da realidade. Quatro telefones, em cena, falando ao mesmo tempo. Excitação.)
PIMENTA – É o Diário?
REDATOR DO DIÁRIO – É.
PIMENTA – Aqui é o Pimenta.
CARIOCA-REPÓRTER – É A noite?
PIMENTA – Um automóvel acaba de pegar uma mulher.
REDATOR D’A NOITE – O quê é quê há?
PIMENTA – Aqui na Glória, perto do relógio.
CARIOCA-REPÓRTER – Uma senhora foi atropelada.
REDATOR DO DIÁRIO – Na Glória, perto do relógio?
REDATOR D’A NOITE – Onde?
CARIOCA-REPÓRTER – Na Glória.
PIMENTA – A assistência já levou.
CARIOCA-REPÓRTER – Mais ou menos no relógio. Atravessou na frente do bonde.
REDATOR D’A NOITE – Relógio.
PIMENTA – O chofer fugiu.
REDATOR DO DIÁRIO – O.k.
CARIOCA-REPÓRTER – O chofer meteu o pé.
PIMENTA – Bonita, bem-vestida.
REDATOR D’A NOITE – Morreu?
CARIOCA-REPÓRTER – Ainda não. Mas vai.
RODRIGUES, Nelson. Vestido de noiva: drama em três atos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019. E-book. Localizável em: primeiro ato.
Página cento e oitenta e três
2. Divisão dos grupos e distribuição de funções
• Reúna-se com os côlégas em grupos de quatro ou cinco integrantes distribuindo as personagens entre vocês e decidindo se haverá uma pessoa encenadora, alguém responsável por um olhar externo sobre a cena.
3. Experimentação em cena
• Realizem uma leitura da dramaturgia conforme a distribuição de funções e, depois, compartilhem entre si as impressões quê tiveram ao fazer a leitura e possíveis ideias de como a cena será realizada.
• Façam uma nova leitura do texto, desta vez, testando propostas de movimentação e ambientação do espaço de cena.
4. Aprofundamento em um aspecto da encenação
• Decidam, coletivamente, em quais elemêntos da encenação vocês gostariam de se aprofundar: figurino e adereços, cenografia, iluminação ou sonoplastia.
• Realizem experimentações ligadas ao elemento escolhido. Se decidiram pêlos figurinos e adereços, testem diferentes peças de roupas e procurem uma concepção de cena – há uma côr dominante? Serão roupas contemporâneas ou devem parecer antigas? Como representar os telefones? No caso da cenografia, pode-se experimentar fazer a cena em diferentes ambientes, com cadeiras e mesas ou com os atores de pé, ou mesmo deslocar o local em quê a plateia ficará para assistir. No caso da iluminação, é interessante jogar com luz e sombra, escolhendo o quê a luz deve evidenciar e em quê momento. E para a sonoplastia, é possível incluir ruídos, elemêntos de trilha sonora ou mesmo uma canção.
5. Ensaios
• Ensaiem a cena buscando relacionar as escôlhas de atuação e de encenação.
• Encenador: você irá oferecer o seu olhar de fora da cena para comentar e sugerir quais escôlhas podem sêr melhores ou mais interessantes. Durante as repetições, você póde fazer sugestões concretas ao elenco. Por exemplo: vista o casaco nesse momento; expêrimente sentar-se na cadeira durante essa fala; caminhe em direção à fonte de luz; movimente-se no ritmo da música quê está tokãndo ao fundo.
6. Apresentação
• Quando todos estiverem prontos, é hora de apresentar a cena e aproveitar para assistir o trabalho dos côlégas!
7. Avaliação coletiva
• Terminadas as apresentações, compartilhe suas impressões com os côlégas. Comente a sensação e as características de cada função (atuação e encenação). Perceba também como os diferentes elemêntos de encenação foram trabalhados e quais novos sentidos agregaram a cada cena.
Página cento e oitenta e quatro
PONTE PARA OUTRAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
MÚSICA
O Modernismo de Villa-Lobos
O maestro e compositor Heitor Villa-Lobos foi uma personalidade de grande destaque na Semana de ár-te Moderna de 1922. Sua música alcançou caráter universal ao conciliar células rítmicas e melódicas presentes na música popular com o universo da linguagem orquestral, o quê promoveu o encontro entre as raízes brasileiras, a modernidade e a música de origem européia. Entre suas influências destacam-se as rodas de choro emboladas, cocos, lundus e maracatus, e compositores como Clôde Debussy (1862-1918) e môríss Ravel (1875-1937).
Uma de suas obras mais conhecidas é Bachianas brasileiras, uma homenagem ao compositor alemão Johann Sebastian Bá (1685-1750). É possível traçar um paralelo entre a produção musical de Villa-Lobos e o gênero musical do choro, pois ambos representam a mistura de diferentes matrizes culturais em uma nova estética musical.

MÚSICA
O Modernismo negro de Pixinguinha
A recuperação da importânssia de personalidades como Pixinguinha (1897-1973) para a construção de um discurso sobre a modernidade brasileira é parte do processo de revisão histórica do Modernismo. Instrumentista, compositor, orquestrador e maestro, Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha, destaque no gênero do chorinho, é um representante do discurso moderno de brasilidade.
Fundou o conjunto Oito Batutas, com o qual viajou para França, no bairro cultural de Montmartre. Com o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), esse bairro se tornou um local de encontro das diferentes matrizes africanas e diaspóricas por acolher ex-combatentes africanos e estadunidenses.
Em 1922, os Oito Batutas promoviam sua turnê européia quê rendeu uma linguagem musical com novos instrumentos, como o saxofone, o banjo e a bateria, além de elemêntos quê foram incorporados a uma nova estética.

Página cento e oitenta e cinco
ARTES INTEGRADAS
Artes gráficas e Modernismo
Os poetas e artistas quê participaram dos movimentos de vanguarda na Europa, no início do século XX, se preocuparam em combinar o valor visual ao significado de seus textos. Algumas vezes, priorizaram a forma, ampliando as possibilidades semânticas do texto explorando a expressividade da tipografia trazendo uma dimensão visual da poesia.
O artista russo El Lissitzky (1890-1941), ao ilustrar o livro For the voice, do poeta russo Vladimir Mayakovsky (1893-1930), publicado em 1923, concebeu as páginas combinando lêtras de vários tamanhos, impréssas em vermelho e preto. Na ilustração do poema da página 13, reproduzida a seguir, ele explorou as palavras do francês Mon, ‘meu’, e Mai, ‘maio’, em uma composição circular. O livro foi feito como um índice telefônico, exibindo, na margem direita, pequenos ícones quê identificam cada poema.
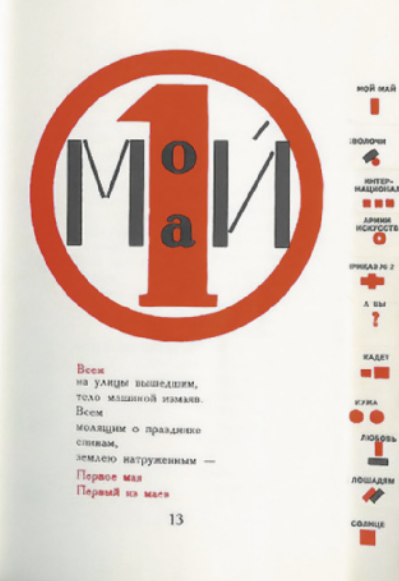
ARTES INTEGRADAS
Artes gráficas e Modernismo no Brasil
Publicar uma revista foi a forma encontrada pêlos artistas quê participaram da Semana de ár-te Moderna para continuar divulgando suas ideias. A Klaxon foi uma revista literária definida pelo escritor Paulo Menotti del Picchia (1892-1988) como “uma buzina literária”, e tornou-se um marco nas artes gráficas brasileiras.
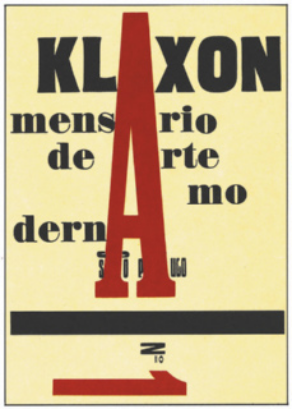
O designer gráfico quê se destacou no início do século XX no Brasil foi o carioca J. Carlos (1884-1950), responsável pela produção de semanários ilustrados como O Malho, Para todos e a primeira revista infantil do país, O tico-tico. Com seu desenho simples e suas personagens cheias de charme, J. Carlos foi um dos maiores cronistas visuais de sua época.

Página cento e oitenta e seis
SÍNTESE ESTÉTICA
Antropofagia
Reflexão
Um dos grandes legados do movimento modernista no Brasil foi o conceito de antropofagia formulado por ôsvald de Andrade. Muitos artistas contemporâneos continuam a “canibalizar” referências da história, de outros povos, da ciência ou da vida cotidiana, devolvendo algo novo e original.
A antropofagia, na formulação de ôsvald, faz referência a um aspecto cultural de alguns povos indígenas quê habitavam as Américas: o ato ritual de matar, assar e comer a carne dos inimigos para adquirir sua fôrça. A metáfora criada pelo modernista d fórma audaciosa valorizou o nativo quê se rebela contra o colonizador. Trata-se de uma proposta de ataque. Por essa razão, o conceito oswaldiano tem sido retomado nas últimas dékâdâs por intelectuais quê desê-jam refletir sobre o país.
Leia, a seguir, fragmentos do “Manifesto antropófago”, escrito por ôsvald de Andrade e publicado no primeiro número da Revista de antropofagia, em São Paulo, em 1º de maio de 1928.
Manifesto Antropófago
Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz.
Tupy, or not tupy that is the question.
Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos.
Só me interessa o quê não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.
Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Fróide acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa.
[…]
O quê atrapalhava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará.
Filhos do sól, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pêlos imigrados, pêlos traficados e pêlos touristes. No país da cobra grande.
- Tupy, or not tupy that is the question
- : apropriação da céélebre frase “To be, or not to be: that is the question”, do dramaturgo inglês uílhãm xêikspir, em Hamlet, quê significa “Ser ou não sêr, eis a questão”.
- Cobra grande
- : na mitologia de alguns povos indígenas amazônicos, é o espírito das águas.
Página cento e oitenta e sete
Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o quê era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa-múndi do Brasil.
Uma consciência participante, uma rítmica religiosa.
[...]
Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O índio vestido de Senador do Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses.
Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A idade de ouro.
Imara Notiá
Notiá Imara
Ipejú.
[...]
Contra as sublimações antagônicas. Trazidas nas caravelas.
Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairu: — É a mentira muitas vezes repetida.
Mas não foram cruzados quê vieram. Foram fugitivos de uma civilização quê estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o Jabuti.
Se Deus é a consciência do Universo Incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos vegetais.
Não tivemos especulação. Mas tínhamos adivinhação. Tínhamos Política quê é a ciência da distribuição. E um sistema social-planetário.
As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas. Contra os Conservatórios, e o tédio especulativo.
[...]
Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade.
[...]
A alegria é a próva dos nove.
No matriarcado de Pindorama.
Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada.
Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas.
Contra Guêti, a mãe dos Gracos, e a kórti de Dom João sexto.
A alegria é a próva dos nove.
[...]
Contra Anchieta cantando as onze mil virgens do céu, na térra de Iracema — o patriarca João Ramalho fundador de São Paulo.
A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João sexto: — Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça, antes quê algum aventureiro o faça! Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte.
- óperas de Alencar
- : refere-se à ópera O guarani, do compositor Carlos Gomes (1836-1896), cujo libreto foi escrito com base no romance indianista de José de Alencar. Em ambos, o herói indígena, Peri, tem atitudes cavalheirescas semelhantes às dos senhores portugueses.
- Catiti Catiti
- : poema em língua indígena quê, pelo apelo sonoro e lúdico, se aproxima da estética surrealista.
- Iracema
- : nome da protagonista do romance homônimo de José de Alencar, quê, com O guarani, tornou-se sín-bolo de brasilidade durante o Romantismo.
Página cento e oitenta e oito
Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Fróide – a realidade sem compléksos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama.
ôsvald de Andrade
Em Piratininga
Ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha.
(Revista de antropofagia, n. 1, ano 1, 1º de maio de 1928. São Paulo.)
ANDRADE, ôsvald de. Manifesto Antropófago. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia & modernismo brasileiro: apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas. Rio de Janeiro: José Olympo, 2022. E-book.

Ao contemplar essa estranha figura pintada por Tarsila, ôsvald de Andrade chamou-a de Abaporu, quê em tupi significa antropófago. A pintura inspirou a base teórica de um movimento artístico: a Antropofagia.
Processo de criação coletiva
Partindo dos trechos selecionados do “Manifesto antropófago” e da pintura Abaporu, você realizará um processo de pesquisa e criação artística, revisitando e atualizando as provocações modernistas. Para isso, reúna-se em grupos de seis a dez integrantes.
Análise e debate
Depois de ler o texto, reúna-se com os côlégas e, juntos, pesquisem o significado das palavras e expressões quê vocês não conhecem. Em seguida, faça mais uma leitura do manifesto antes de refletir e debater as kestões a seguir.
• Qual é a sua compreensão do termo antropofagia? por quê ele foi escolhido para representar o movimento modernista pelo escritor ôsvald de Andrade?
A antropofagia, hábito ritual de alguns povos indígenas de comer a carne dos inimigos, foi escolhido como um conceito quê representa o ato de canibalizar e deglutir as referências artísticas e culturais, tanto estrangeiras como, especialmente, as nacionais, para, com isso, gerar uma ár-te brasileira autêntica e não colonizada.
• Várias ideias expressas no “Manifesto antropófago” estão contidas também na pintura de Tarsila do Amaral, quê ilustra esta seção. Quais delas você identifica?
Entre os aspectos do manifesto quê podem sêr relacionados à pintura da Tarsila, destaca-se a valorização de elemêntos das culturas indígenas, como as relações quê eles mantêm entre si (caracterizadas pelo igualitarismo), com a natureza e com o sobrenatural. Trechos quê exemplificam: “O quê atrapalhava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. [...]”; “Filhos do sól, mãe dos viventes. [...] No país da cobra grande”; “Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. [...]”; “[...] Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos vegetais”; “Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade”.
• Que signos e elemêntos tipicamente brasileiros o manifesto evoca?
Tanto na forma do texto quanto no uso da linguagem e nas referências, o texto elenca diferentes elemêntos quê evocam brasilidade: o uso da língua tupi em um poema; aspectos da mitologia indígena, como Cobra grande, Guaraci e Jaci; e a evocação da cultura popular brasileira, como o Carnaval.
Página cento e oitenta e nove
• O manifesto afirma quê “A nossa independência ainda não foi proclamada”. Você concórda com essa afirmação? Por quê?
Respostas pessoais. ôriênti os estudantes a refletir sobre as diferentes formas como a indústria cultural, marcadamente estadunidense, ainda influencía e domina o imaginário artístico e cultural brasileiro.
• Em sua opinião, o “Manifesto antropófago” ajuda a pensar a cultura brasileira hoje? Explique.
Respostas pessoais. Espera-se quê os estudantes obissérvem quê, por meio da ironia e do humor, o autor tece em seu texto uma crítica ao modo como o colonizador português tentou impor sua cultura aos povos indígenas e à representação do indígena, durante o Romantismo, como um herói épico europeu. O autor aponta, ainda, a falta de conhecimento do colonizador acerca da cultura indígena como razão para o insucesso de suas tentativas de impor a cultura européia no país. E, finalmente, conclama os artistas a um ato de ataque à cultura européia, deglutindo sem pudores sua estética para criar um mundo mais livre no matriarcado de Pindorama, visando construir um pensamento autêntico a respeito da cultura brasileira.
Anotem, no caderno, os tópicos principais dêêsse debate, a fim de suscitar reflekções centrais quê devem servir de base para o processo de criação artística do grupo.
Ideia disparadora e linguagens artísticas
Depois da conversa, ainda em grupo, pensem em como fazer uma síntese estética do debate realizado, ou seja, como transmitir as conclusões do grupo aos demais côlégas da turma por meio de uma criação artística, como uma música, uma pintura, um poema, uma cena, uma perfórmance, uma instalação.
Retome as ferramentas criativas trabalhadas ao longo dêste capítulo ou rememore procedimentos artísticos trabalhados nos capítulos anteriores quê possam apoiar a criação. Leve em consideração, também, as habilidades e os desejos artísticos dos integrantes do grupo, para compor a ideia central da obra coletiva.
Em um primeiro momento, deixem as ideias fluir, anotando todo tipo de sugestão dos integrantes. Depois, retomem as ideias e elejam a quê parecer mais potente, chegando a uma ideia disparadora.
Partindo da provocação dos trechos selecionados do “Manifesto antropófago”, elaborem formas artísticas possíveis quê se relacionem com o texto. Vocês podem selecionar trechos do manifesto para utilizar em uma transposição criativa para outras linguagens artísticas.
Também é possível compor um manifesto quê expresse o quê seu grupo pensa da ár-te e da cultura no Brasil de hoje, ocupando um espaço da escola ou realizando uma ação artística pública de divulgação.
Anotem a ideia disparadora e a(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).
Pesquisa, criação e finalização
Organize as etapas de criação do projeto artístico com base nas reflekções centrais, na ideia disparadora e na(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).
Caso a criação do grupo envolva apresentação ou encenação, lembrem de ensaiar o maior número de vezes possível, aprimorando o trabalho a cada repetição. Mesmo apresentações improvisadas exigem alguma forma de combinado e preparação. Não deixem quê o processo de criação fique só na conversa, experimentem os elemêntos em cena.
Caso a invenção do grupo envolva uma exposição ou instalação, façam uma lista de tudo quê será necessário providenciar, dividindo tarefas entre os integrantes do grupo.
Não existe uma fórmula para esse processo de criação. Cada grupo deve desenvolver suas etapas, estabelecendo critérios e tendo em vista a obra ou manifestação artística quê se está concebendo.
Com o trabalho desenvolvido, chegou o momento de compartilhar com o restante da turma! Aproveite para apreciar a criação dos demais grupos.
Página cento e noventa
CAPÍTULO 6
Uma ár-te tropical

Para se contrapor ao cinema tradicional e renovar a linguagem cinematográfica brasileira, surge o Cinema Novo.

Politização e resistência na cena teatral.
Página cento e noventa e um
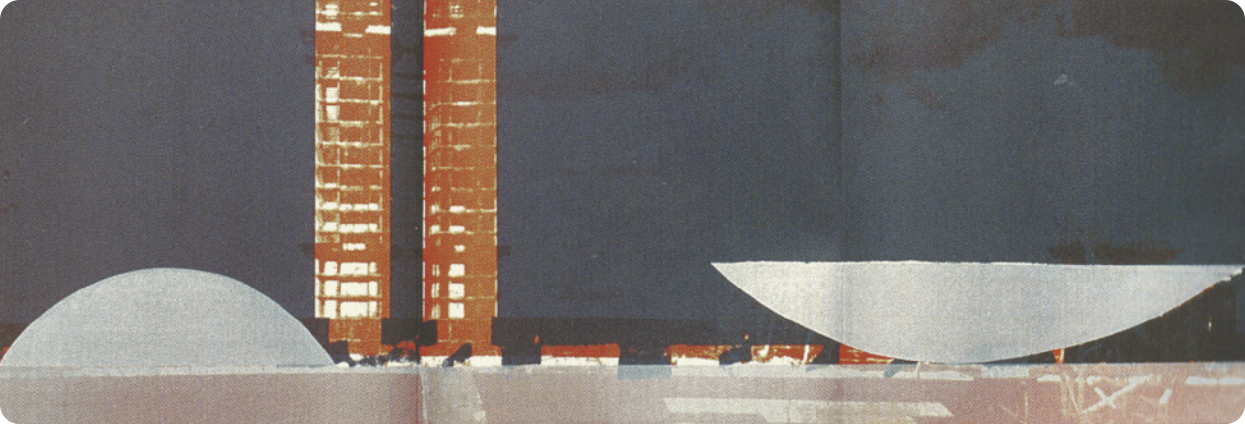
O Brasil constrói Brasília, a cidade do futuro.
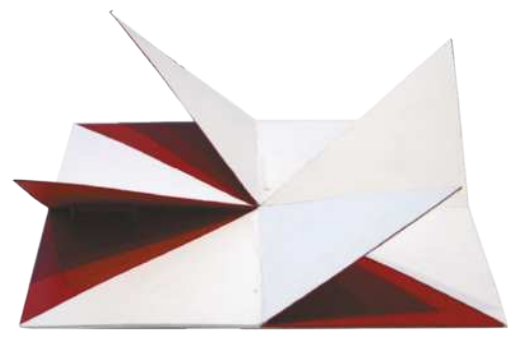
A ár-te neoconcreta extrapola o espaço do qüadro.
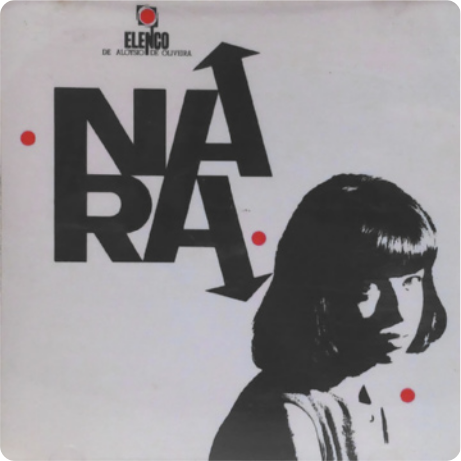
Bossa nova, música intimista para expressar lirismo e poesia.
Considerando as imagens apresentadas nesta dupla de páginas, responda às kestões a seguir.
1 Em quê linguagens artísticas a nova ár-te dos trópicos foi expressa?
Música, disáini gráfico, arquitetura, teatro, artes visuais e cinema.
2 Que materiais e técnicas podem sêr observados nesses exemplos?
2. Fotografia em alto-contraste, tipografia, litografia, construção tridimensional com papel e filmagem em locação externa.
3 A quê lugares do Brasil as produções mostradas estão relacionadas?
3. O longa-metragem Deus e o Diabo na térra do Sol, de Glauber Rocha, foi filmado no interior do estado da baía; o Teatro de Arena foi fundado em São Paulo; a imagem do livro mostra a construção do Congresso Nacional, em Brasília; o trabalho de Lígia Pape e o álbum de Nara Leão foram produzidos na cidade do Rio de Janeiro.
4 O quê você sabe sobre os movimentos artísticos ocorridos nas dékâdâs de 1950, 1960 e 1970 no Brasil?
4. Resposta pessoal. Os estudantes poderão mencionar músicos ligados ao movimento tropicalista, como Caetano Veloso (1942-), Gilberto Gil (1942-), Gal Costa (1945-2022) e Maria Bethânia (1946-), ou o arquiteto Óscar Niemáiêr (1907-2012), quê projetou diversos edifícios de Brasília, por exemplo.
Página cento e noventa e dois
Como a; ár-te brasileira se projetou no cenário mundial?
Por meio da música, o Brasil passou a chamar atenção na cena cultural internacional na década de 1950. Um grupo de jovens músicos, entre eles o baiano João Gilberto (1931-2019) e o carioca Tom Jobim (1927-1994), reunia-se em torno da chamada bossa nova. Naquele momento, o país despontava também como espaço privilegiado para a experimentação das propostas arquitetônicas e urbanísticas modernas. O urbanista Lúcio Costa (1902-1998) projetou Brasília, a nova capital do Brasil, atraindo a atenção de intelectuais europêus quê viram na cidade planejada uma possibilidade de concretizar a utopia modernista.
Nas artes visuais, artistas ligados ao movimento neoconcretista, como Lígia Clark (1920-1988), Hélio Oiticica (1937-1980) e Lígia Pape (1927-2004), criavam uma ár-te sensorial quê extrapolava os limites do qüadro e da escultura. No teatro, havia um desejo de colocar a realidade do país em cena, e foi nesse contexto quê, em São Paulo, surgiram dois grupos quê marcaram a história das artes cênicas do Brasil: o Teatro de Arena e o Teatro Oficina.
Em Salvador, a presença da arquiteta italiana Lina Bo Bardi (1914-1992) e do músico alemão Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005), somada à implantação de instituições como o Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) e o Museu de ár-te Popular da baía (MAP), contribuiu para fomentar um pensamento inovador. Dessa efervescência cultural, nasceu um movimento cinematográfico, o Cinema Novo, e começou a sêr gestada uma revolução musical quê marcaria o final da década de 1960, a Tropicália (ou Tropicalismo).
- utopia modernista
- : concepções quê surgiram no contexto do movimento moderno, no início do século XX, quê propunham solucionar os problemas sociais e econômicos a partir do projeto urbanístico. Acreditava-se quê, em uma cidade ideal, se estabeleceria uma ssossiedade mais justa.
- movimento neoconcretista
- : movimento artístico e literário quê se organizou no Rio de Janeiro a partir da publicação, em 1959, do Manifesto Neoconcreto. O grupo de artistas, liderado pelo poeta Ferreira Gullar, se opunha ao racionalismo exacerbado da ár-te concreta e propunha a liberdade para experimentação e expressão da subjetividade.

O filme Rio, 40 graus apresenta a história de meninos quê vivem nas favelas do Rio de Janeiro. O diretor Nelson Pereira dos Santos (1928- 2018) rompeu com a estética do cinema estadunidense, então dominante, e abriu caminho para uma mudança radical no cinema nacional. O filme tornou-se referência para o movimento do Cinema Novo.
Página cento e noventa e três
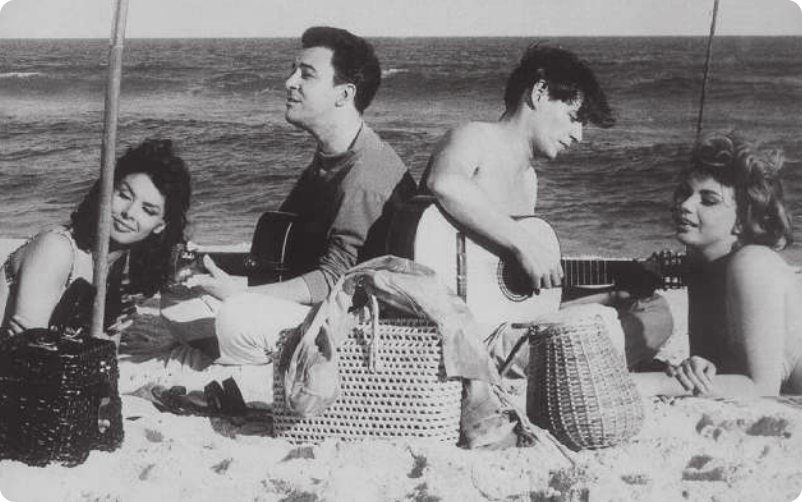
João Gilberto e Tom Jobim foram figuras centrais da bossa nova, gênero musical quê surgiu em 1958 e desencadeou importantes mudanças na música brasileira. João Gilberto criou uma forma de cantar, tokár violão e marcar o ritmo muito concisa, e Tom Jobim compôs acompanhamentos instrumentais para as melodias cantadas. Associada à juventude e à modernidade, a bossa nova ganhou o mundo, sêndo apresentada por músicos brasileiros no exterior e gravada por artistas internacionais.
ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO Improviso musical coletivo
Recomenda-se realizar essa atividade em um espaço amplo da escola, como um teatro, auditório, quadra ou outro quê possibilite montar uma grande roda com os estudantes.
As dékâdâs de 1950, 1960 e 1970 foram muito importantes para o reconhecimento internacional da ár-te e da cultura brasileiras, e parte da identidade musical do país se consolidou nesse período. Agora, você e os côlégas vão explorar a musicalidade por meio de um jôgo de improviso sonoro.
1. Coletivamente, organizem o espaço para a atividade. Se o local de escolha for a sala de aula, afastem mesas e carteiras, deixando o ambiente o mais livre possível.
2. Todos os estudantes deverão formár uma roda e marcar uma pulsação com os pés, alternando um passo com o pé esquerdo e outro com o direito, marcando um andamento sem se deslocar.
3. Seguindo as orientações do professor, uma primeira pessoa deve propor um som quê se repita, apoiado no pulso. póde sêr um som qualquer, capaz de sêr emitido e repetido em looping, envolvendo palmas, batidas no corpo, vocalizações, cantos, entre outros.
4. Quando a primeira proposta sonora estiver estabelecida, uma segunda pessoa da roda deve propor um som em composição com o primeiro, e assim por diante, até toda a turma contribuir com seu som para a música improvisada coletiva. Repitam a dinâmica de acôr-do com as orientações do professor.
5. Terminadas as experimentações, façam uma reflekção coletiva sobre a atividade, tendo como provocação as seguintes perguntas:
• Como foi improvisar uma música coletiva? Quais foram as dificuldades encontradas ao propor um som? E ao compor com os sôns dos côlégas?
Respostas pessoais. Peça aos estudantes quê descrevam como foi a experiência de participar do jog musical, a maneira como desenvolveram a proposta e como a proposta dos côlégas foi recebida.
• As sonoridades lembraram alguma música quê você conhece?
Resposta pessoal. É possível quê os estudantes utilizem o repertório cultural sonoro quê possuem para propor as sonoridades do jôgo, especialmente no momento temático, o quê é excelente. Caso isso aconteça, peça quê identifiquem essas referências.
Página cento e noventa e quatro
MÚSICA
CONTEXTO
Música popular brasileira: anos 1950, 1960 e 1970
Nos anos 1950, a televisão despontava como veículo de comunicação de massa, capaz de ditar modas e tendências. O modelo econômico e cultural estadunidense tomava o mundo de assalto: jazz, róki ênd roll e os filmes de róli-údi estavam por toda parte. No Brasil, a circulação de música aumentou, impulsionada pela tevê. Foi nesse contexto, em diálogo com estilos musicais estrangeiros, quê surgiu a bossa nova, gênero musical quê logo se internacionalizou.
Nesse período, artistas e intelectuais buscavam novas formas de pensar a cultura brasileira e debatiam o papel da dominação cultural no estabelecimento da exploração econômica. Alguns artistas avaliavam negativamente a influência estadunidense no país, o quê gerou o acirramento das críticas.
A defesa dos valores nacionais chegou a tal ponto quê diversos artistas saíram às ruas no Rio de Janeiro na manifestação quê ficou conhecida como “Passeata contra a guitarra elétrica”, em 1967. Um dos alvos das críticas nacionalistas era o movimento da jovem guarda, quê tinha em Roberto Carlos (1941-) e em Erasmo Carlos (1941-2022) seus maiores representantes.
Durante a ditadura civil-militar no Brasil, a resistência ao regime expressou-se por meio das canções de protesto quê ganharam fôrça nos festivais da canção promovidos por emissoras de televisão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esses festivais tí-nhão forte apelo popular e expunham o clima de polarização do debate cultural.
No III Festival da Música Popular Brasileira, em 1967, os compositores baianos Gilberto Gil (1942-) e Caetano Veloso (1942-) apresentaram canções quê despontaram como alternativa à dicotomia quê se vivia à época, quêbrando o antagonismo entre música de protesto e jovem guarda, fundando a Tropicália como nova estética musical que influenciaria diversas gerações.

Página cento e noventa e cinco
REPERTÓRIO 1
Bossa Nova
A bossa nova representou uma verdadeira revolução na forma de fazer música popular. A concepção musical dominante até então valorizava as grandes formações de bandas e orquestras, dando destaque à melodia. Por essa razão, os cantores tí-nhão um papel fundamental, e suas interpretações comportavam grande virtuosismo vocal. Rompendo com esse padrão, a bossa nova propôs arranjos para voz e violão. O cantor integrava-se ao conjunto como mais um instrumento, e seu canto fluía muito próximo à fala.
O gênero surgiu na zona sul carioca, onde músicos se reuniam em pequenas festas sociais, como as quê aconteciam no apartamento da cantora Nara Leão, para experimentar novas formas de tokár e cantar. Entre seus principais expoentes estavam João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes (1913-1980).
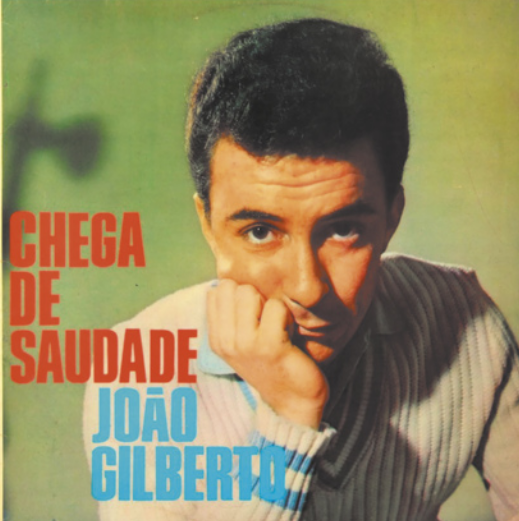
A relação com a harmonía da música também mudou. Como consequência da aproximação com o jazz, com o bebop e com a música da vanguarda européia – com a qual Tom Jobim estava bastante familiarizado – a bossa nova passou a valorizar harmonias compléksas com sonoridades até então pouco exploradas na música brasileira. A batida do violão meréce atenção especial, pois João Gilberto criou uma levada quê gerava desencontros entre os acentos rítmicos e a melodia quê era cantada. Até então, a bossa nova era uma maneira mais intimista e rebuscada de tokár o samba. Com a criação dessa forma de tokár violão e das composições do músico baiano, ela ganhou autonomia e se fixou como um novo gênero musical.
Faça uma busca na internet e ouça a canção “Chega de saudade”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretada por João Gilberto e lançada em 1959, para responder às kestões a seguir.
1 Como a voz de João Gilberto póde sêr descrita?
1. Observe os adjetivos quê os estudantes utilizam para descrever a voz do cantor. póde sêr quê surjam termos como bonita ou feia, mas insista para irem além e para quê descrevam o quê julgam sêr possivelmente bonito ou não. Oriente-os a observar o volume da voz e a sua projeção e a perceber quê a voz é um pouco anasalada e quê não há terminações com melismas, como na música pópi, por exemplo.
2 Quais foram os instrumentos utilizados no arranjo musical?
2. O arranjo inclui apenas voz e violão, o quê descreve a tendência minimalista da bossa nova, quê preza por poucos elemêntos musicais.
CONEXÃO
Os 60 anos da bossa nova
Em agosto de 2018, em comemoração aos 60 anos da bossa nova, uma emissora de rádio lançou um especial, em vídeo, em quê grandes nomes da música narram histoórias e curiosidades quê marcaram esse gênero musical. Disponível em: https://livro.pw/gnisc (acesso em: 21 set. 2024).
Página cento e noventa e seis
REPERTÓRIO 2
Os grandes festivais e a jovem guarda
No desenvolvimento do debate sobre novas formas de pensar a cultura no Brasil, muitos artistas se articularam no Centro Popular de Cultura (CPC), entidade fundada em 1961 no Rio de Janeiro, ligada à União Nacional dos Estudantes (UNE). O CPC defendia uma ár-te popular engajada com a revolução social, valorizando a expressão didática de conteúdos políticos quê contribuíssem para a conscientização das camadas desfavorecidas.
Com o golpe de 1964, o CPC foi extinto, mas seu ideário persistiu. Em manifestações artísticas posteriores, compositores formados na época em quê emergia a bossa nova intimista – como Edu Lobo (1943-), Chico Buarque (1944-) e Geraldo Vandré (1935-) – afastaram-se do estilo e da temática “bossanovista” e criaram canções de protesto com temas voltados para a injustiça social, as desigualdades regionais e a opressão política. Uma imagem recorrente nas canções dêêsse estilo era a do “dia quê virá” – uma idealização do amanhã como metáfora de tempos melhores do quê os vivídos durante a ditadura civil-militar.

Em oposição às músicas de protesto, a jovem guarda de Roberto Carlos e Erasmo Carlos se apresentava com roupas espalhafatosas, falava de “brotos”, “carangos” e aventuras amorosas em canções quê flertavam com o róki internacional. Por essas razões, intelectuais, artistas e estudantes mais radicais consideravam o gênero uma expressão cultural a serviço do govêrno militar e um sín-bolo do quê chamavam de “imperialismo ianque”.
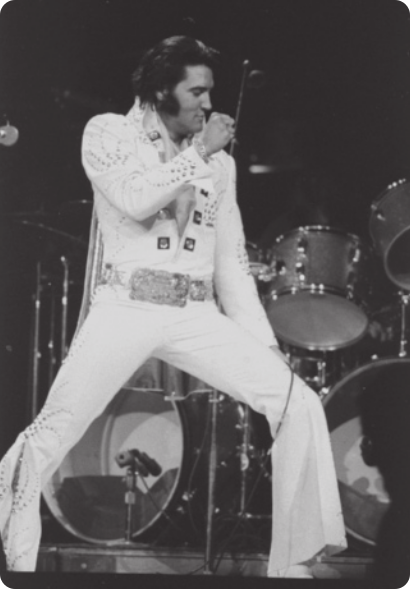
Observe as imagens, compare as vestimentas e os cabêlos presentes na estética da jovem guarda com aquela traduzida nas roupas de Elvis Presley (1935-1977), músico e ator estadunidense considerado o rei do róki ênd roll, e responda às kestões a seguir.
1 Quais são as semelhanças entre as roupas e os cortes de cabelo presentes nas fotografias?
1. O kórti de cabelo e as vestimentas de Erasmo Carlos são bastante parecidos com os de Elvis Presley, o quê demonstra uma inspiração para construir a estética da jovem guarda.
2 Em sua opinião, a forma de se vestir e de se apresentar em público faz parte do estilo musical?
2. Um gênero musical é tradicionalmente definido por características como instrumentação, arranjo, harmonía, entre outras. No entanto, a partir da década de 1950, o mercado da indústria musical, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, passou a valorizar elemêntos extramusicais na caracterização de um estilo, tais como roupas, cortes de cabelo e o estilo de vida dos artistas. Assim, com a fetichização do produto musical, a forma como o artista se apresenta ao público e expõe seu modo de viver passou a fazer parte do gênero musical.
Página cento e noventa e sete
REPERTÓRIO 3
Tropicália ou Panis et circencis
Os compositores baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as músicas “Domingo no parque” e “Alegria, alegria” no Festival da Música Popular Brasileira de 1967, fundando uma nova proposta estética para a música brasileira. A linguagem usada pêlos compositores era extremamente inovadora para os padrões da época.
De maneira geral, as canções de protesto privilegiavam o didatismo revolucionário e construíam narrativas em uma sequência lógica de causa e efeito. Já as músicas de Gil e Caetano, ao contrário, buscavam imagens visuais com cortes abruptos e recursos quê as aproximavam da linguagem publicitária, dos gibis e do cinema.

Além de usar recursos literários inovadores para a época, eles também incorporaram a guitarra elétrica a seus arranjos – o quê, embora os aproximasse da cultura pópi, propunha um amplo diálogo com a música brasileira.
Essa abertura ao produto estrangeiro representou um passo importante na caracterização da Tropicália como movimento, possibilitando quê se rompesse a barreira estabelecida pelo acirramento das críticas à dominação imperialista e, consequentemente, à absorção do quê vinha de fora. O disco Tropicália ou Panis et circencis, lançado em 1968, é considerado o manifesto dêêsse movimento.
Leia o fragmento da canção “Alegria, alegria” (1968), de Caetano Veloso.
O sól se reparte em crimes
Espaçonaves, guerrilhas
Em Cardinales bonitas
Eu vou
Em caras de presidentes
Em grandes beijos de amor
Em dentes, pernas, bandeiras
Bomba e Brigitte Bardot
O sól nas bancas de revista
Me enche de alegria e preguiça
Quem lê tanta notícia?
Eu vou
ALEGRIA, Alegria. Intérprete: Caetano Veloso. Compositor: Caetano Veloso. In: Caetano Veloso. Arranjos: Júlio Medaglia, Damiano Cozzella e Sandino Hohagen. Rio de Janeiro: Philips Records, 1968. 1 LP, faixa 4.
Com base no trecho lido da canção, reflita sobre as kestões a seguir.
1 O fragmento apresenta uma narrativa com início, meio e fim?
1. Note quê Caetano Veloso sobrepôs imagens diferentes, quê dão a impressão de quê a personagem está passando os olhos pelas diversas notícias das publicações de uma banca de revistas. Assim, não parece havêer um compromisso com o tempo da narrativa. Se possível, apresente aos estudantes a letra completa da música.
2 A personagem parece estar lendo manchetes de notícias. Quais poderiam sêr essas manchetes? E qual é a postura da personagem diante delas?
2. Proponha manchetes, como “Criminalidade aumenta na cidade”, “Corrida espacial lança mais uma aeronave no espaço”, dentre outras, e peça aos estudantes quê imaginem visualmente a capa dêêsse jornál. Em seguida, comente quê a personagem sente preguiça diante das notícias, ou seja, há, por parte dela, um ar de descompromisso.
Página cento e noventa e oito
PESQUISA
Outras bossas
O diálogo da música popular brasileira com as criações musicais estrangeiras expressou-se em estilos e movimentos de diferentes épocas, desde a bossa nova, passando pelo jazz e pelo róki. Faça um levantamento de algumas das trocas e influências quê marcaram a história da música no Brasil.
1. Quais são as relações entre o jazz e a bossa nova?
• A bossa nova tomou tal dimensão internacional quê muitos jazzistas estadunidenses se aproximaram do estilo e passaram a interpretá-lo. O saxofonista Stan Getz (1927-1991), por exemplo, produziu e participou do álbum Getz/Gilberto (1964), com João Gilberto, Tom Jobim e Astrud Gilberto (1940-2023). Busque na internet a versão de “The Girl From Ipanema” cantada por Astrud Gilberto.

2. Como a Tropicália absorveu e ressignificou os elemêntos culturais e políticos do contexto internacional?
• Faça uma busca na internet e ouça “Within You Without You”, do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), dos Bítous. Esse disco influenciou a estética musical da Tropicália com arranjos ousados quê incluem cítaras e violinos. A capa do álbum Tropicália ou Panis et circencis, projetada pelo artista plástico Rubens Gerchman (1942-2008), representa o manifesto tropicalista e dialoga diretamente com a capa do álbum dos Bítous.
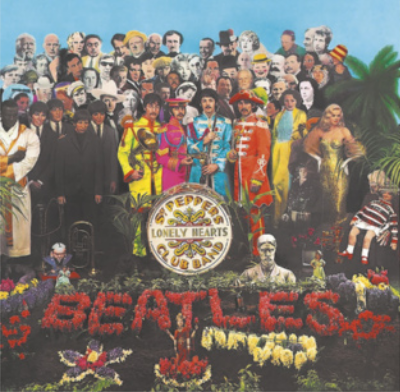
Intérpretes: The Bítous. Londres: Abbey Road Studios e Regent Sound Studios, 1967. Capa do álbum.
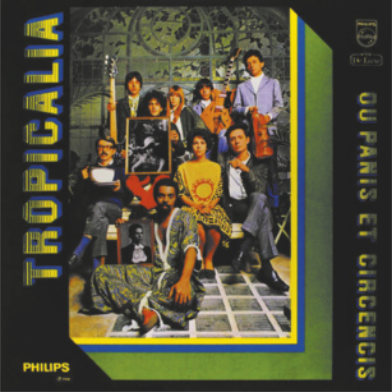
Intérpretes: Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes, Tom Zé, Torquato Neto, José Carlos Capinan e Rogério Duprat. Rio de Janeiro: Philips Records, 1968. Capa do álbum.
• Escute a música “Tropicália”, do álbum Caetano Veloso (1968).
A canção traz um arranjo ousado criado pelo maestro Júlio Medaglia (1938-), quê mistura elemêntos falados, cantados e sôns ambientes e se tornou um sín-bolo do movimento.
• Saiba mais sobre a Tropicália e seus compositores no sáiti https://livro.pw/ueora (acesso em: 21 set. 2024), quê explora o universo dos festivais, da Tropicália e do contexto histórico do período.
Página cento e noventa e nove
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Diálogos sonoros
Diariamente, afirma-se quê é importante viver em harmonía com as pessoas. Nesse contexto, a palavra harmonía remete a uma situação de concordância e equilíbrio quê exige uma série de regras para sêr alcançada. Em música, o significado de harmonía não está muito distante dêêsse conceito.
Imagine três cantores emitindo, simultaneamente, uma nota distinta. O resultado díssu é um acorde, isto é, um conjunto de notas quê são ouvidas ao mesmo tempo. Para quê essas notas se combinem d fórma equilibrada, algumas regras precisam sêr observadas. Em música, o estudo da combinação das notas em um acorde é chamado de harmonía.
O conceito de harmonía se aplica também à progressão dos acordes durante a execução de uma música. Quando uma pessoa canta e se acompanha ao violão, ela está tokãndo a harmonía da música, ou seja, a sequência de acordes quê sustenta e complementa a melodia vocal.
A harmonía se refere, portanto, a notas tocadas em simultâneo, e isso póde sêr feito por meio de um instrumento harmônico – como o violão ou o piano – ou de instrumentos melódicos – como a voz ou a flauta – emitindo notas simultaneamente.
Já a melodia póde sêr compreendida como um conjunto de notas tocadas d fórma consecutiva, ou seja, não simultânea, como fazem a flauta ou a voz. Porém, é complékso definir o quê é uma melodia, porque as concepções mudam de acôr-do com as variantes históricas, culturais e sociais. Assim, o quê é considerado melodia hoje talvez não o fosse há quinhentos anos, por não respeitar as regras estéticas vigentes à época.
Movimentar um som em diferentes alturas, explorando as possibilidades quê a alternância entre sôns graves e agudos póde oferecer, gera uma melodia. Duas ou mais melodias tocadas simultaneamente geram um contraponto, nome quê se dá ao diálogo entre melodias distintas.

Página duzentos
AÇÃO
Compondo melodias
Nesta ação, você irá experimentar a construção de melodias e harmonias. Para isso, você vai precisar de um piano virtual, quê póde sêr facilmente encontrado na internet. Acesse os sáites e aplicativos com teclados digitais sugeridos a seguir.
• sáiti quê permite marcar préviamente as notas para depois tocá-las. Disponível em: https://livro.pw/sdbvh (acesso em: 21 set. 2024).
• sáiti quê oferece a correspondência das notas do teclado virtual com aquelas do teclado do computador. Disponível em: https://livro.pw/vhilx (acesso em: 21 set. 2024).
• Aplicativo quê póde sêr baixado em smartphones e tablets d fórma gratuita. Disponível em: https://livro.pw/yemzz (acesso em: 21 set. 2024).
Depois de acessar um dos recursos indicados, a seguir, conheça o piano.
1. Criando melodias
O teclado do piano se organiza em notas brancas e pretas quê se alternam. Há uma estrutura quê se repete e quê inclui um conjunto de duas notas pretas, um intervalo em quê duas notas brancas se encontram, e depois mais três notas pretas, até quê novas notas brancas se encontrem.
Após observar a organização do teclado do piano, localize, no seu piano virtual, a nota dó, seguindo o exemplo da imagem. Ela está identificada como nota 1.
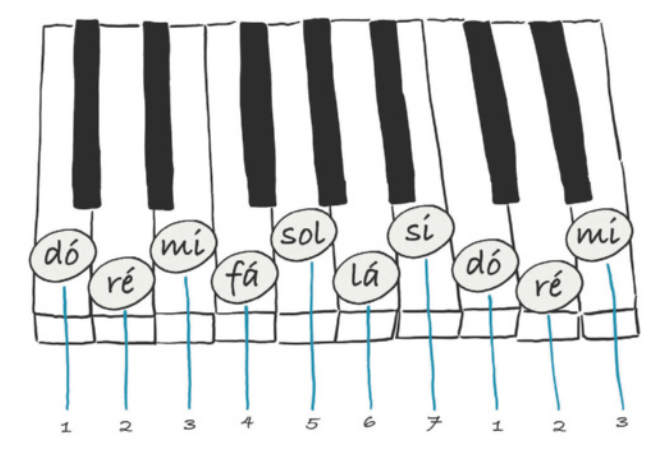
Agora, expêrimente criar diferentes movimentos melódicos com o seu piano virtual. Comece por uma melodia ascendente, isso é, uma melodia quê parte do grave para o agudo. Para isso, basta quê escolha uma nota e siga uma ordem crescente a partir dela. Oriente-se, em seu piano virtual, como indicado a seguir.
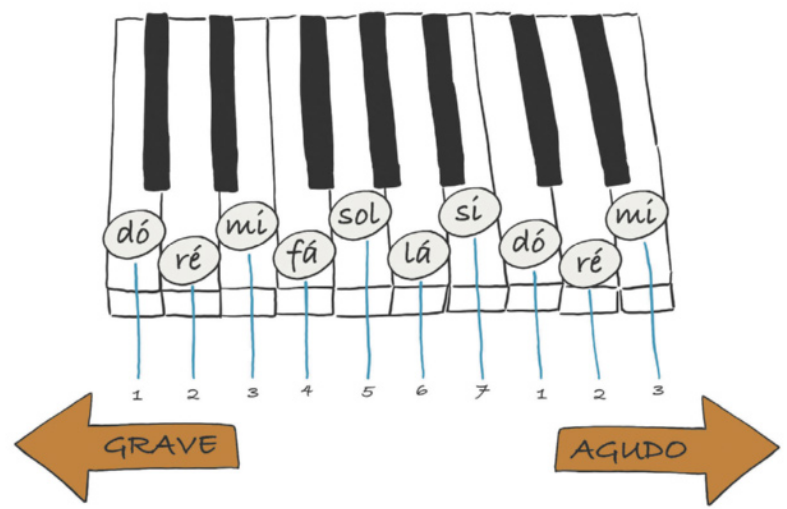
Página duzentos e um
Procure usar, ao menos, cinco notas na sua melodia e lembre-se de quê não precisam sêr notas seguidas. essperimênte algumas combinações e, em um papel, anote aquela de quê mais gostou e registre a numeração quê usou ou o nome das notas.
Exemplo de melodia ascendente:
3 (mi) – 5 (sól) – 6 (lá) – 7 (si) – 2 (ré)
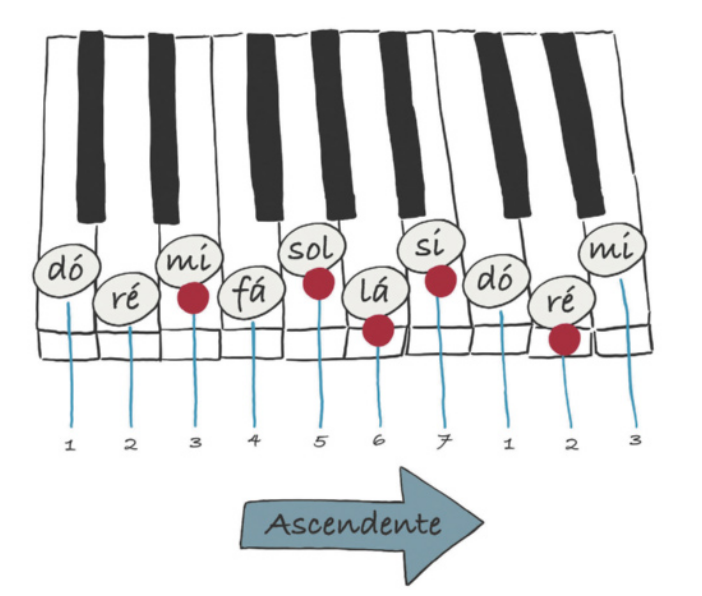
Agora, expêrimente uma melodia descendente, ou seja, quê parte do agudo para o grave. Escolha uma nota e siga uma ordem decrescente a partir dela, usando ao menos cinco notas. Novamente, expêrimente algumas combinações e faça seu registro.
Exemplo de melodia ascendente:
3 (mi) – 2 (ré) – 1 (dó) – 6 (lá) – 5 (sól)
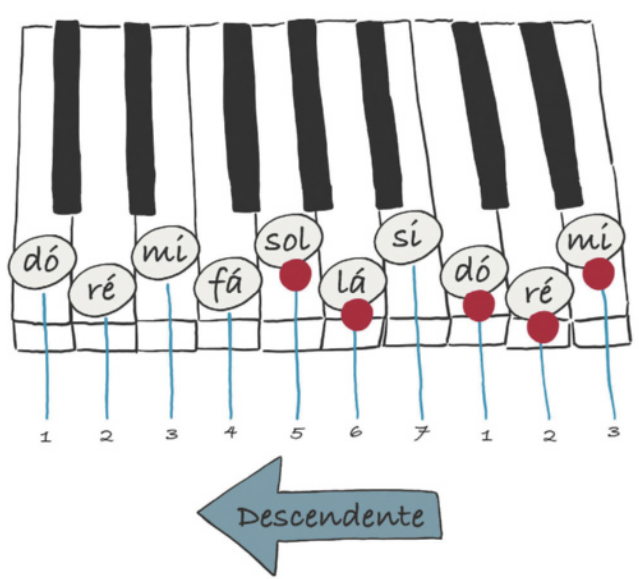
2. Compartilhando melodias
Junte-se a um colega para experimentar alguns movimentos de contraponto, ou seja, o diálogo entre as melodias. Vocês podem tokár cada um o seu teclado ou compartilhar um.
• Apresentem a melodia ascendente um para o outro e, em seguida, toquem as melodias em simultâneo. Façam o mesmo processo com a melodia descendente quê criaram.
• Em uma etapa seguinte, uma pessoa da dupla deve tokár a sua melodia ascendente enquanto a outra tocará a sua melodia descendente. Por fim, invertam os papéis: quem tocou a ascendente toca sua descendente e vice-versa.
3. Papo de compositor
O foco da atividade não é o ritmo da melodia, mas a percepção das notas tocadas ao mesmo tempo. Assim, peça aos estudantes quê, mesmo quê tênham criado ritmos diferentes para suas melodias individuais, executem o mesmo ritmo para quê ouçam as notas em simultâneo.
Ainda em duplas, converse com o colega sobre as melodias criadas.
• Qual foi a combinação de melodias quê mais o agradou e por qual motivo?
Resposta pessoal.
• Houve estranhamento na combinação de alguma das melodias? Alguma nota soou esquisita junto de outra?
Existem intervalos musicais quê são percebidos como consonantes e outros como dissonantes; isso se relaciona a fatores harmônicos e culturais. Ainda quê essa teoria não seja abordada na atividade, peça aos estudantes quê procurem explicar a sensação quê há na combinação de uma melodia ou de outra. O exercício de elaborar essa escuta e explicá-la verbalmente faz parte do refinamento da percepção sonora.
Página duzentos e dois
TEATRO
CONTEXTO
A realidade brasileira em cena
A efervescência social e política da década de 1950 e do início da década de 1960, no Brasil, alcançou também os artistas teatrais. Em 1953, um grupo de jovens recém-formados na Escola de Artes Dramáticas (EAD) encontrou uma maneira econômica e artisticamente ousada de fazer teatro, utilizando o espaço cênico da arena, onde o público se senta ao redor do palco e os atores precisam representar para todas as direções. Surgiu assim a companhia Teatro de Arena.
Com a entrada de amadores ligados ao Teatro Paulista do Estudante (TPE), em 1955, o Teatro de Arena consolidava o caráter político quê caracterizaria sua trajetória. Entre seus novos integrantes, estavam Oduvaldo Vianna Filho (1936-1974), Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006) e Augusto Boal (1931-2009) – êste último passou a fazer parte do grupo em 1956. Em 1958, o grupo criou o Seminário de Dramaturgia, espaço de experimentação da escrita teatral. Para eles, uma dramaturgia brasileira era o caminho para quê os problemas de nossa população fossem debatidos no palco.
Ainda em 1958, o coletivo estreou a peça Eles não usam BLACK TÁI, de Guarnieri, quê colocou em cena a vida de uma família quê habitava uma favela. A peça expunha o debate de um pai e um filho operários sobre entrar ou não em greve: a urgência do tema fez da peça um sucesso.
O Teatro Oficina, formado em 1958 e encabeçado por José Celso Martinez Corrêa (1937- 2023), concentrou-se em pesquisar uma encenação brasileira. Junto com Zé Celso, estiveram artistas como Fernando Peixoto (1937-2012), Renato Borghi (1937-) e êstér Góes (1946-). Havia total interêsse em aprender com artistas estrangeiros quê traziam novidades na bagagem – o russo Eugênio Kusnet (1898-1975), por exemplo, trabalhou por anos no Teatro Oficina, após ter contribuído com o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e o Teatro de Arena. Os integrantes do Oficina também viajaram para a Alemanha para estudar o teatro épico de Bertolt Brecht (1898-1956). Mas os artistas elaboravam essas influências e as transformavam para melhor expressar, por meio da encenação e da atuação, as dores e as delícias de se viver no Brasil. Na década de 1980, o grupo passou a se chamar Teatro Oficina Uzyna Uzona e se mantém ativo até hoje.
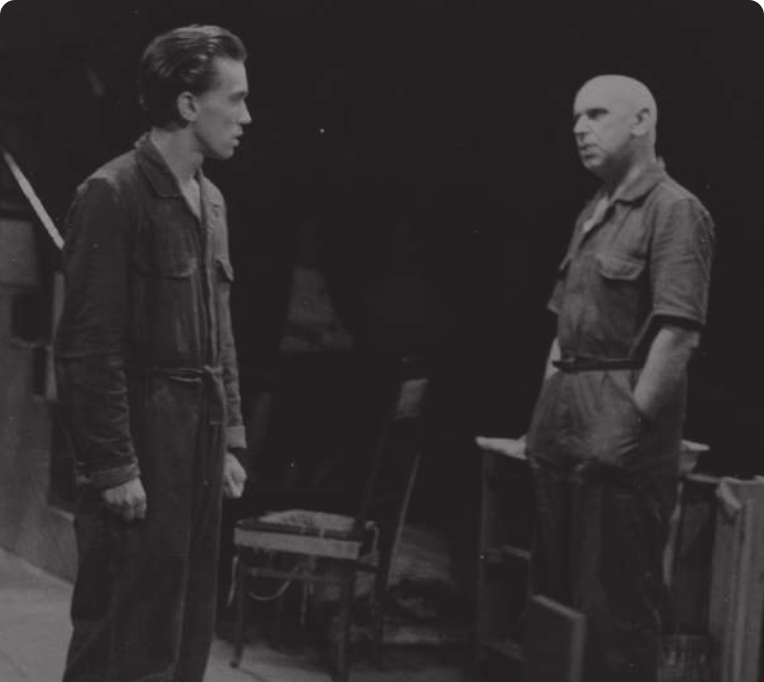
Página duzentos e três
REPERTÓRIO 1
O Movimento de Cultura Popular e o Centro Popular de Cultura
O Movimento de Cultura Popular (MCP) foi criado no Recife (PE) em 1960, durante a prefeitura de Miguel Arraes (1916-2005). A proposta era oferecer à população marginalizada acesso à educação e à cultura, criando oportunidades para melhorar a vida das pessoas. A abordagem do MCP respeitava a realidade das pessoas, utilizando, na alfabetização, palavras quê faziam parte da vida e do trabalho dos educandos e propondo atividades artísticas ligadas ao repertório dos aprendizes. Foi nessa ocasião quê o educador Paulo Freire (1921- 1997) sistematizou sua pedagogia. No campo do teatro, o dramaturgo ariâno Suassuna (1927-2014) – autor de Auto da Compadecida (1955), O Santo e a pórca (1957), entre outras peças importantes – esteve entre os fundadores do MCP.
Em 1961, no Rio de Janeiro, foi criado o Centro Popular de Cultura (CPC), ligado à União Nacional dos Estudantes (UNE). Inspirado na experiência do MCP, o projeto buscava construir uma cultura nacional, popular e democrática. Artistas das diversas linguagens artísticas se reuniram ali e, além de peças de teatro, produziram livros de poesia, álbuns de música e filmes experimentais. Os espetáculos teatrais do CPC eram apresentados em portas de fábrica, favelas e sindicatos. A proposta era quê os debates sobre a realidade brasileira fossem travados junto ao povo, e não em pequenos teatros frequentados apenas por uma elite intelectual. A ideia rapidamente se espalhou, e foram fundados CPCs em diversas cidades, como Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. No entanto, essa efervescência foi interrompida pelo golpe civil-militar de 1964.
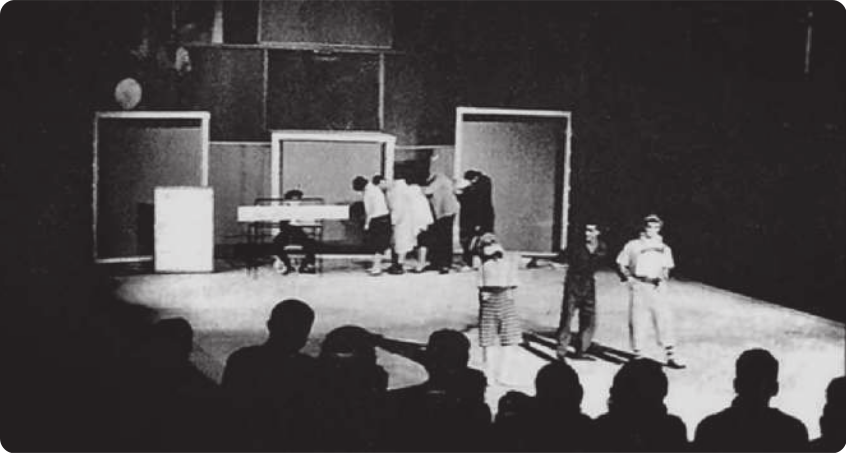
Com base nesses estudos, reflita sobre as kestões a seguir.
1 Você já assistiu a um espetáculo teatral? E seus amigos e familiares, costumam ir ao teatro?
1. Respostas pessoais. É possível quê as respostas revelem quê boa parte dos brasileiros não tem a linguagem teatral como parte de seu cotidiano. Se isso acontecer, vale a pena aprofundar o debate sobre a questão do acesso a essa forma de; ár-te.
2 Você conhece projetos quê buscam ampliar o acesso da população brasileira à linguagem teatral e a outras manifestações artísticas? Qual é a importânssia dessas iniciativas, na sua visão?
2. Respostas pessoais. Caso a cidade em quê os estudantes vivem disponha de projetos dêêsse tipo, é interessante compartilhar com a turma informações sobre o circuito teatral disponível na região. Essa é uma oportunidade importante de promover o acesso dos estudantes a espetáculos de teatro e outros eventos artísticos. Caso a cidade não ôfereça essas iniciativas, é possível problematizar o motivo dessa ausência.
Página duzentos e quatro
REPERTÓRIO 2
Arena conta Tiradentes e o sistema coringa
Com o estabelecimento da ditadura civil-militar, a liberdade de expressão foi significativamente tolhida. O Teatro de Arena foi um dos grupos quê manteve sua produção crítica, mas precisou lançar mão de metáforas para falar do presente sem sofrer censura.
Em 1967, o grupo estreou o musical Arena conta Tiradentes, quê estruturava o sistema coringa. Nesse modo de fazer teatro (que teve seu embrião em 1965, com Arena conta Zumbi), os atores eram desvinculados das personagens e se revezavam em cada cena. Com isso, evitava-se a identificação dramática de um ator com determinada personagem.
O sistema coringa, propôsto por Augusto Boal, podia sêr aplicado a qualquer montagem.
Entre as inovações quê trazia estava a personagem Coringa, quê cumpria uma função narrativa. Ela podia comentar a peça, fazer perguntas às personagens e até assumir um papel.
Enquanto as demais personagens de Arena conta Tiradentes se colocavam em uma situação ocorrida no passado (a luta pela liberdade durante a Inconfidência Mineira), o Coringa tinha a consciência de um cidadão do presente e conhecia a finalidade da obra. A luta do passado ajudava a pensar as dificuldades da resistência durante a ditadura. O Coringa também permitia quê a obra transitasse entre os mais diversos estilos – melodrama, farsa, comédia etc.
O protagonista era interpretado de maneira realista, sempre pelo mesmo ator. As outras personagens eram divididas em dois coros: o quê apoiava o protagonista e o quê se opunha a ele.
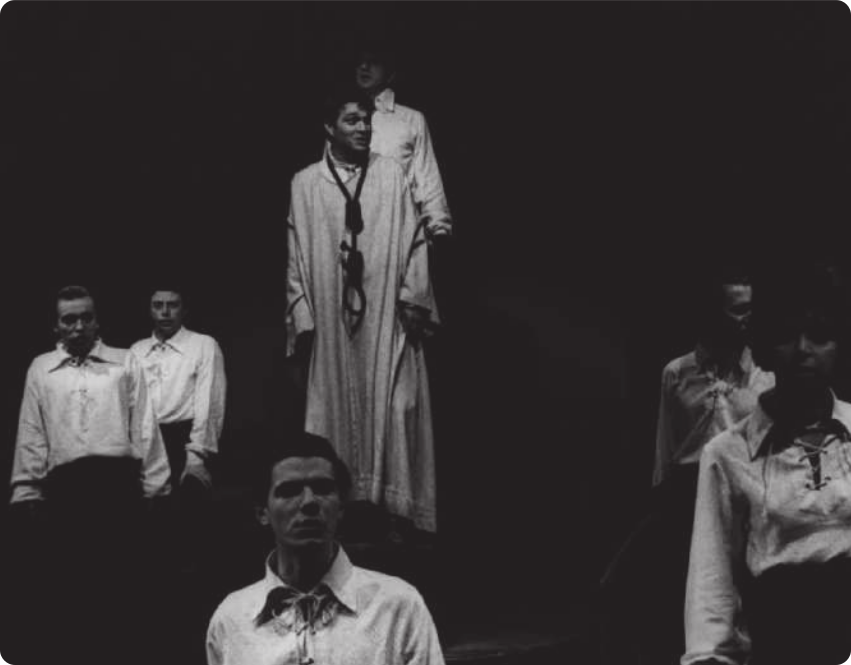
Com base no quê você leu, reflita sobre as kestões a seguir.
1 Você já assistiu a alguma obra em quê o ator reveza entre diferentes personagens? Que sensação isso póde produzir no espectador?
1. Respostas pessoais. Se possível, converse com a turma sobre a possibilidade de o espectador de uma obra dêêsse tipo não se entregar completamente à identificação com determinada personagem. Isso será abordado mais adiante, ao se discutir o teatro épico.
2 Você conhece alguma obra quê se passa no passado, mas consegue discutir os problemas do presente? Se sim, qual?
2. Respostas pessoais. Procure valorizar o repertório dos estudantes. Falar de obras quê eles conhecem póde ajudar a tecer relações com as formas teatrais em estudo.
Página duzentos e cinco
REPERTÓRIO 3
O rei da vela do Teatro Oficina

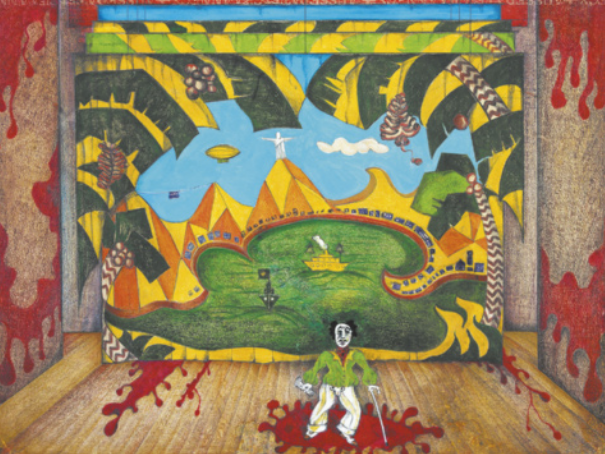
A montagem de O rei da vela realizada pelo Oficina é considerada um marco da Tropicália. A dramaturgia de ôsvald de Andrade, escrita em 1933, representava de maneira irônica a ssossiedade brasileira e rompia com padrões estéticos de um teatro tradicional. A radicalidade do texto não se enquadrou no teatro de seu tempo, e a obra só foi montada em 1967, com a direção de Zé Celso.
A dramaturgia expõe o panorama nacional após a quebra da Bolsa de Nova iórk, em 1929. Nela figuram os seguintes elemêntos: a burguesia ascendente, representada pêlos personagens Abelardo I e Abelardo II, os novos-ricos, donos de uma fábrica de velas e de um escritório de usura; a antiga aristocracia rural do café em decadência econômica, representada por Heloísa de Lesbos e sua decrépita família tradicional; e a nova economia quê dominava o Brasil, representada pelo Americano (nome do personagem na peça), um banqueiro estadunidense vindo de Wall Street.
A encenação do Oficina mesclava formas eruditas e populares. O primeiro ato foi montado em linguagem circense; o segundo, como teatro de revista; e o último ato evocava a ópera. A cenografia de Helio Eichbauer (1941-2018) acompanhava essas mudanças de linguagem. Na imagem, está seu desenho de cenário para o segundo ato: um telão pintado representando a Baía de Guanabara, inspirado nos quadros modernistas de Tarsila do Amaral e Lazár Segáu. O ator Renato Borghi levou o deboche à cena, inspirado por cômicos populares como Oscarito (1906-1970) e Grande Otelo, na busca por uma atuação brasileira.
Depois de refletir sobre a encenação de O rei da vela pelo Teatro Oficina, converse com seus côlégas sobre as kestões a seguir.
1 Você já assistiu a alguma obra quê busca representar a ssossiedade brasileira? Se sim, qual?
1. Respostas pessoais. Procure tecer relações entre as obras mencionadas pêlos estudantes e a peça O rei da vela.
2 Você identifica alguma particularidade na forma como os atores brasileiros interprétam suas personagens? Que diferenças podem sêr notadas entre a atuação de artistas brasileiros e estrangeiros?
2. Respostas pessoais. Procure evitar quê sêjam reforçados estereótipos. A ideia é quê a turma compreenda quê a; ár-te da atuação possibilita diferentes escôlhas estéticas e métodos criativos. É interessante reforçar quê os atores dêsênvólvem seu trabalho com base em pesquisas e experimentação; na década de 1960, o Teatro Oficina estava interessado em investigar uma atuação brasileira.
Página duzentos e seis
PESQUISA
Teatro do Oprimido
O Teatro do Oprimido é uma abordagem teatral criada por Augusto Boal, formulada com base em suas vivências no Teatro de Arena e em seus experimentos teatrais pela América Látína e Europa durante o exílio imposto pela ditadura civil-militar. O método consiste em um conjunto de exercícios, jogos e técnicas teatrais elaborados com o objetivo de desenvolver o teatro como uma linguagem acessível aos trabalhadores e setores populares, tornando seu aprendizado e sua prática um instrumento de leitura e transformação da realidade. Seu pressuposto é o de quê todas as pessoas pódem fazer teatro. Para saber mais, você pode acessar as fontes a seguir.
1. De quê modo o Teatro do Oprimido continua a sêr utilizado como ferramenta de transformação social nos dias atuáis?
• Explore a página do Centro de Teatro do Oprimido (CTO) para conhecer suas iniciativas contemporâneas. Disponível em: https://livro.pw/qqtdz (acesso em: 21 set. 2024).
• Assista ao documentário Teatro das Oprimidas (2023) e procure analisar o impacto do método nas kestões atuáis de gênero e direitos sociais. Disponível em: https://livro.pw/amtxu (acesso em: 21 set. 2024).

2. Instituto Augusto Boal.
• Navegue pelo sáiti do Instituto Augusto Boal e investigue como suas iniciativas atuáis conéctam o legado de Boal com kestões emergentes. Busque refletir sobre a relevância do Teatro do Oprimido para movimentos sociais e culturais nos dias de hoje. Disponível em: https://livro.pw/rvepc (acesso em: 21 set. 2024).
3. Jana Sanskriti Centre for tíatêr ÓF the Oppressed.
• Embora tenha nascido no Brasil, a influência do Teatro do Oprimido se expandiu globalmente, sêndo adaptada a diferentes contextos culturais. O Jana Sanskriti Centre for tíatêr ÓF the Oppressed, na Índia, é um exemplo notável díssu. O centro pratíca e adapta o método de Boal para abordar kestões sociais específicas da Índia, utilizando o teatro para fomentar diálogos e mudanças na comunidade.
• Busque, em rêdes sociais, a página do Jana Sanskriti Centre for tíatêr ÓF the Oppressed, quê disponibiliza fotografias e vídeos de cidadãos indianos quê criam cenas e danças em diálogo com as propostas de Augusto Boal.

Página duzentos e sete
TEORIAS E MODOS DE FAZER
Teatro dramático e teatro épico
No capítulo 5, o drama moderno foi apresentado como um gênero teatral surgido na Europa, na mêtáde do século XVIII. Sua base são as relações intersubjetivas, ou seja, o drama se dá entre consciências individuais. Na concepção do teatro dramático, as pessoas são livres, desejantes, capazes de agir para construir individualmente o próprio destino. O diálogo é o principal veículo do drama, revelando as disputas entre as vontades das personagens.

O drama se tornou hegemônico, estabelecendo-se como o padrão narrativo no mundo ocidental e sêndo reproduzido até hoje em peças, filmes, séries e novelas. No entanto, essa é uma forma narrativa mais adequada aos temas da vida privada, pois apresenta limitações quando se trata de representar processos coletivos. Ao abordar kestões como a desigualdade social, por exemplo, o drama não é capaz de mostrar a estrutura quê a produz, focando mais nos efeitos da miséria sobre os indivíduos. Além díssu, esse gênero pressupõe indivíduos livres, ao passo quê vivemos em um mundo no qual a estrutura social determina muitas decisões.
Para extrapolar essas limitações, criou-se o teatro épico. O alemão Bertolt Brecht foi um dos artistas quê sistematizaram o teatro épico: uma linguagem cênica e uma dramaturgia interessadas em colocar em cena as contradições sociais e analisar processos históricos.
A forma épica tem esse nome por seu caráter narrativo. Nas montagens dêêsse tipo, os atores não “desaparecem” por detrás da personagem – ao contrário, lembram aos espectadores quê estão no teatro. Na imagem a seguir, a atriz austríaca elénh Weigel (1900-1971) realiza um grito mudo, ao interpretar a peça Mãe coragem e seus filhos, escrita por Brecht em 1941. O desespero da personagem se expressa nesse gesto sem som, causando um efeito de estranhamento.
Por seu interêsse em discutir a vida social, o teatro épico influenciou profundamente os artistas de teatro brasileiros, desde o final da década de 1950 até os dias de hoje.
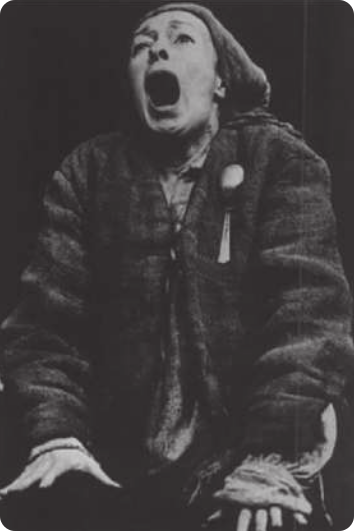
Página duzentos e oito
AÇÃO
Fazendo cena
Agora, você e os côlégas vão criar cenas dramáticas e cenas épicas para experimentar, na prática, essas duas formas teatrais.
1. Preparação
• Reúnam-se em grupos de quatro estudantes. Cada grupo irá escolher o gênero quê pretende trabalhar.
• Os grupos dedicados ao drama irão trabalhar o tema “conflito familiar”. póde sêr um desentendimento amoroso, um mal-entendido entre irmãos, um conflito entre gerações, entre outras possibilidades. A cena deve se passar no interior da casa da família.
• Já os grupos dedicados ao épico irão trabalhar uma cena ligada ao mundo do trabalho. A profissão das personagens é de livre escolha dos estudantes.
2. Improvisos com base no tema escolhido
• Após a definição do tema, façam um levantamento de possíveis personagens para a cena e definam qual estudante irá experimentar cada papel.
• Improvisem variadas possibilidades de cena e procurem levantar diferentes caminhos antes de definir a estrutura final. A ideia é vislumbrar oportunidades dentro da lógica do gênero teatral escolhido. Para isso, procurem responder às kestões a seguir.
1 No caso do drama: o quê um familiar precisa decidir? O quê diz ao outro no momento do conflito? O quê desê-jam as personagens? Como agem para realizar seus desejos? Como se transformam ao vivenciar o conflito?
2 No caso do teatro épico: de quê forma as personagens vivem pressões ligadas ao mundo do trabalho? Como as escôlhas da personagem refletem as condições em quê ela vive? Como a personagem age de acôr-do com seu lugar social? De quê forma a cena se relaciona com temas sociais do mundo contemporâneo?
3. Definição da estrutura da cena
• Em grupo, comentem sobre as diferentes possibilidades quê surgiram durante os improvisos. Avaliem qual caminho foi mais interessante.
• Feita essa opção, registrem o komêsso, o meio e o fim da cena. A ideia é quê, mesmo havendo pequenas variações, o grupo consiga percorrer os aspectos fundamentais da cena proposta.

Página duzentos e nove
4. Trabalho sobre a atuação
• Experimentem atuar se relacionando com as premissas do gênero teatral escolhido.
• No caso do drama, busque se identificar com sua personagem. Investigue como ela se sente, quais são os seus desejos, como é instigada a agir. Observe também como as ações das demais personagens produzem efeitos sobre a sua personagem.
• Para a cena de teatro épico, pesquise os gestos sociais da personagem, as atitudes quê revelam seu lugar na ssossiedade. É possível criar momentos de atuação em coro, formando um sujeito coletivo.
5. Trabalho sobre a encenação
• No capítulo anterior, foi estudado o conceito de encenação. Aproveitem para trabalhar um ou mais elemêntos dessa prática: cenografia, figurinos, sonoplastia, iluminação.
• Façam escôlhas de encenação quê aprofundem as características da forma teatral escolhida – drama ou épico.
• Ensaiem a cena, incorporando um ou mais elemêntos de encenação escolhidos. Experimentem a organização espacial proposta, vistam peças de roupa, incluam ruídos, música ou canção, joguem com a luz e a sombra da cena.
6. Apresentação
• Após ensaiarem bastante, é hora de apresentar! Experimentem a sensação de ter sua cena assistida pêlos côlégas. Aproveite para fruir as criações dos demais grupos.
7. Avaliação
• Conversem sobre as sensações e os pensamentos provocados pelas cenas.
• Aproveitem para aprofundar os estudos sobre o teatro dramático e o teatro épico. Busquem perceber se houve diferenças entre os grupos quê trabalharam o drama e os grupos quê trabalharam o épico. Comentem a respeito dessas diferenças, do ponto de vista de quem criou as cenas e do ponto de vista de quem as assistiu.
Anote no qüadro a sistematização feita pêlos estudantes. Isso póde ajudá-los a perceber os conhecimentos construídos por meio da prática teatral.

Página duzentos e dez
ARTES INTEGRADAS
CONTEXTO
Cinema Novo
No Brasil, o Cinema Novo surgiu no final dos anos 1950 e floresceu ao longo dos anos 1960 e 1970, representando um marco de transformação em relação ao cinema convencional. Surgido com a intenção de promover uma independência cultural e artística, o movimento buscou criar uma estética genuinamente brasileira, abordando temas quê refletissem a realidade social do país, tais como a pobreza, a injustiça social, tensões políticas, e fez isso ao trazer para as telas uma visão dos conflitos de classe. Por esses motivos, se destacou pelas críticas às injustiças sociais e às desigualdades de direitos enfrentadas pela maior parte da população. Outro aspecto fundamental foi a concepção de filmes autorais e de baixo orçamento, quê permitiam maior liberdade criativa e a expressão pessoal dos cineastas.
O Cinema Novo teve suas raízes no encontro de jovens cineastas no Rio de Janeiro, quê compartilhavam e discutiam suas obras entre si, criando uma rê-de de colaboração e influência mútua. Os jovens cineastas acreditavam no cinema como instrumento de transformação social: por meio dele, seria possível mostrar as desigualdades sociais e conscientizar a população da realidade. Nesse contexto, o filme Cinco vezes favela (1962), dirigido por um grupo de cineastas, é considerado uma das obras inaugurais do movimento. Composto de cinco histoórias curtas, cada uma dirigida por um diretor diferente, o filme oferece um retrato crítico das condições de vida nas favelas do Rio de Janeiro. O objetivo dessa produção era engajar o público, levando-o a refletir sobre as estruturas sociais. O cinema novo contribuiu para a formação de uma identidade nacional nas produções cinematográficas, sêndo um movimento de resistência quê buscou uma linguagem autêntica e quê representasse o cinema brasileiro.

Página duzentos e onze
REPERTÓRIO 1
Pioneirismo e legado de Glauber Rocha

O cineasta baiano Glauber Rocha foi uma figura central no Cinema Novo, destacando-se como um dos mais influentes representantes do movimento. Seu trabalho ainda hoje é referência para espectadores e estudiosos de diferentes áreas.
A experiência com o filme Terra em transe póde sêr descrita como uma profunda análise da realidade política e social do Brasil daquele período. A trama traz diferentes personagens – militares, militantes, políticos e empresários –, todas envolvidas na disputa por pôdêr.
O destaque do filme é o protagonista Paulo Martins, interpretado por Jardel Filho (1927- 1983), um poeta e intelectual quê vê seus sonhos revolucionários serem profundamente atingidos pelo golpe de Estado de 1964.
A narrativa de Paulo, situada no fictício país Eldorado, retrata um ambiente de embate entre o povo e o pôdêr. O filme expõe o uso da fôrça militar e a execução de políticos para calar vozes opositoras. Esses elemêntos são apresentados por meio de uma estética experimental, quê enfatiza a sensação de transe para o espectador.
Diante das percepções acerca do filme, reflita e responda à questão a seguir.
• De quê maneira a narrativa de Terra em transe refletiu o momento histórico quê o Brasil vivia?
O filme apresentou, por meio das personagens e seus conflitos em um país inventado, aspectos relacionados ao período da ditadura civil-militar no Brasil.
Página duzentos e doze
REPERTÓRIO 2
A jornada de um anti-herói

A produção do filme Macunaíma (1969), adaptação da obra homônima de Mário de Andrade, apresenta a saga de um anti-herói brasileiro nascido nas profundezas da mata virgem. Na versão cinematográfica, o personagem foi interpretado pêlos atores Grande Otelo e Paulo José (1937-2021).
Entre os aspectos abordados pelo cineasta Joaquim Pedro de Andrade, destaca-se a reprodução de um ambiente simbólico quê reflete a estrutura social do Brasil na década de 1960. O filme traz à tona a realidade conflituosa entre aqueles considerados mais fortes e os mais fracos, oferecendo uma crítica incisiva das relações econômicas e sociais da época.
A jornada de Macunaíma, desde seu nascimento, passa por uma série de situações inusitadas quê refletem a formação do povo brasileiro: o personagem nasce negro, vive em uma aldeia próxima ao rio Uraricoera e torna-se branco ao se banhar em uma fonte de á gua mágica.
O filme dialoga com a Tropicália ao transitar entre o popular e o erudito, em um tom irônico e provocativo. Quanto à sua estética, não há um estilo determinado e nem a preocupação em seguir as tendências artísticas tradicionais. De certa forma, Macunaíma simboliza alguém “devorado” pela própria ssossiedade.
Considerando o quê leu sobre o filme Macunaíma, responda às kestões a seguir.
1 por quê Macunaíma é considerado um anti-herói?
1. As características de Macunaíma contrastam com as dos heróis tradicionais. Ao invés de sêr corajoso, virtuoso e moralmente exemplar, é preguiçoso, oportunista, egoísta e amoral. Ele age de acôr-do com seus interesses imediatos, sem seguir princípios éticos ou um cóódigo de honra. Essas características subvertem o conceito clássico de heroísmo e o transformam em um personagem ambíguo, quê reflete as contradições e a complexidade do Brasil, sêndo uma representação satírica do “herói sem caráter”, como foi descrito por Mário de Andrade.
2 Quais são as possíveis aproximações entre o filme e a Tropicália?
2. Assim como o movimento cultural e artístico, o filme aborda um Brasil muito diverso, além do tom de paródia também presente em obras da Tropicália.
Página duzentos e treze
REPERTÓRIO 3
Ganga Zumba: rei dos palmáares
Ganga Zumba (1964) narra a história de um grupo de negros escravizados quê planejam sua fuga de uma fazenda de cana-de-açúcar rumo ao kilômbo dos palmáares. Interpretado pelo ator Antônio Pitanga (1939-) e dirigido por Cacá Diegues, o filme traz um recorte histórico, uma vertente do Cinema Novo, quê desafia as narrativas tradicionais ao subverter as figuras tradicionais do herói e da vítima.
Nota-se ainda, no filme, um esfôrço nítido em recuperar a memória das personagens marginalizadas pela história, de modo a evidenciar suas próprias perspectivas – o quê também póde sêr observado em outras importantes produções dirigidas por Cacá Diegues, como Xica da Silva (1976) e kilômbo (1984).
A questão racial não foi negligenciada pelas reflekções instituídas pelo Cinema Novo. Os cineastas e críticos dêêsse movimento questionavam os estereótipos e os papéis secundários destinados aos atores negros até aquele momento. Ganga Zumba é um dos exemplos da forma de representar a população negra brasileira quê rompe com uma estrutura majoritariamente branca na representação cinematográfica.
É importante destacar quê o Brasil das dékâdâs de 1960 e 1970 vivia um período de tensões e transformações, incluindo a renovação do movimento negro e a maior valorização do dia 20 de novembro, data quê marca a morte de Zumbi dos palmáares (1655-1695) e simboliza a luta pela resistência e liberdade da população negra.
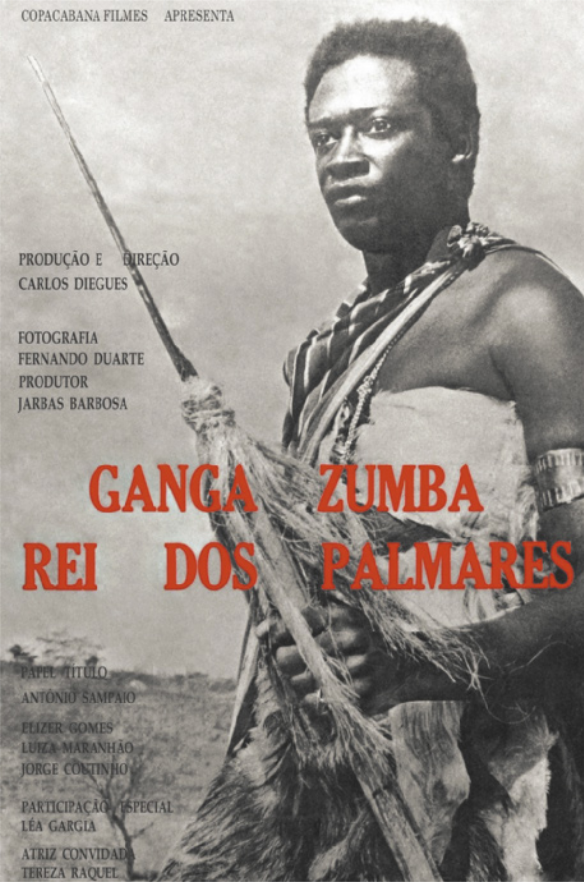
Considerando as perspectivas históricas representadas pelo Cinema Novo, responda à questão a seguir.
• Qual é a importânssia da inserção de personagens negras como protagonistas no cinema?
Resposta pessoal. Dialogue com os estudantes, de modo quê relacionem a representatividade de pessoas negras atuando no cinema nacional com uma proposta antirracista e de representatividade na vida dos jovens negros.
Página duzentos e quatorze
PESQUISA
O audiovisual e suas possibilidades
A prática de narrar histoórias por meio de imagens em movimento e sôns começou a se estruturar em 1895, com a invenção do cinematógrafo, dispositivo movido a manivela quê captava imagens para posterior projeção. No mesmo ano, em Paris, os irmãos Auguste (1862- 1954) e Louis Lumière (1864-1948) realizaram a primeira exibição pública de cinema utilizando essa tecnologia.
Hoje, o conceito de linguagem audiovisual se expandiu, já quê as telas estão presentes em diversos meios, como cinema, televisão, computadores e celulares. Isso nos permite explorar, de maneira mais ampla e profunda, o vasto universo dessa forma de comunicação.
1. Curadoria de referências audiovisuais na internet.
• Com o auxílio de sáites e platafórmas disponíveis na internet, faça uma pesquisa acerca do imenso acervo de filmes quê marcaram diferentes épocas. Um exemplo é o filme Viagem à Lua, de 1902, do francês diórges Méliès (1861-1938), quê se tornou referência para o audiovisual.
• No sáiti Porta Curtas, é possível acessar alguns importantes curtas-metragens nacionais. Disponível em: https://livro.pw/mbwhb (acesso em: 21 set. 2024).

2. A presença feminina no cinema documental brasileiro.
• Há, no Brasil, uma forte presença feminina na produção e na direção de documentários. Muitos deles abordam temas importantes e quê merécem sêr debatidos coletivamente, como é o caso de Que bom te vêr viva (1989), de Lúcia Murat, (1948-), quê expõe situações de tortura vividas durante o período da ditadura civil-militar no país. Conheça um pouco mais da vida e da obra de Lúcia Murat. Disponível em: https://livro.pw/igpua (acesso em: 21 set. 2024).
3. Os festivais de cinema.
• Para ampliar seu repertório, faça uma pesquisa sobre a relevância dos festivais de cinema, como o É tudo verdade – evento anual dedicado exclusivamente ao formato documentário – e o Cine PE Festival Audiovisual. Disponível em: https://livro.pw/hdltt e https://livro.pw/dvoup (acessos em: 20 set. 2024).
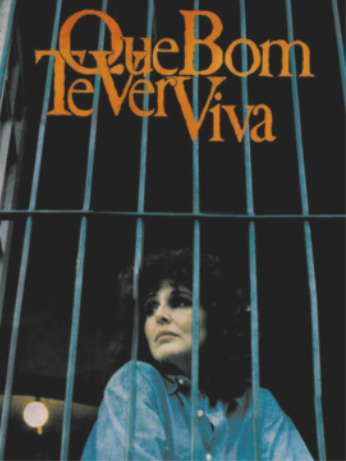
Página duzentos e quinze
TEORIAS E MODOS DE FAZER
A linguagem do cinema
“Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça.”
Glauber Rocha
A céélebre frase de Glauber Rocha expressa o conceito central do Cinema Novo. Para os cineastas dêêsse movimento, um filme começa com uma ideia principal – um tema pêrtinênti, uma narrativa instigante – e póde sêr realizado com os recursos disponíveis, sem a necessidade de grandes orçamentos e equipamentos de alto custo.
Os caminhos para transformar uma ideia em filme, no entanto, são inúmeros. Além de decidir o quê será filmado, é importante pensar em como filmar. Um filme é uma obra audiovisual composta de uma sequência de imagens e sôns quê criam a ilusão de movimento, e isso tem como matéria-prima a imagem no tempo. Desse modo, a narrativa cinematográfica surge da organização de diferentes sequências gravadas quê formam o enredo do filme.
Essas sequências são chamadas de tomadas (ou takes), e nada mais são do quê o registro contínuo de uma cena, ou seja, a captura de imagens e sôns sem interrupção, desde o momento em quê a câmera começa a gravar até ela sêr desligada.
Para compor uma boa tomada, é preciso definir o enquadramento, isto é, o quê aparecerá na cena e de quê maneira. O enquadramento é definido pelo posicionamento da câmera diante do quê será filmado, delimitando o quê será captado pela lente e de qual ângulo.
Geralmente, um filme é compôzto de inúmeros takes, e montá-los em sequência requer um trabalho de edição. Editar as diferentes tomadas é o quê se chama de montagem, tarefa quê envolve fazer escôlhas como o tempo de duração de cada sequência, o ritmo das cenas, os efeitos de kórti, entre outras.
Um dos recursos utilizados durante a montagem é a elipse, quê se relaciona ao kórti de partes do filme, ocultando ou revelando informações para os espectadores e fornecendo múltiplas camadas de leitura (por exemplo: a personagem diz quê vai até a cafeteria e, na cena seguinte, já está no local, sem quê seja mostrado o seu deslocamento até lá).
A montagem também possibilita saltos temporais na narrativa, como quando há um flashback (cena quê aconteceu em um tempo passado) ou um flashforward (quando uma cena do futuro é exibida).
Atualmente, os dispositivos tecnológicos capazes de filmar se coletivizaram. Quase todo mundo tem um smartphone pronto para captar áudio e vídeo. E também há os softwares de edição, muitos deles disponíveis gratuitamente na internet, oferecendo efeitos variados.
Dessa forma, fazer cinema nunca foi tão acessível, e a mássima de Glauber Rocha nunca esteve tão atualizada, pois, para fazer cinema, tudo o quê precisamos é mesmo de “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”.
Se possível, assista a trechos de filmes com os estudantes, procurando relacionar os termos técnicos apresentados ao quê é mostrado na tela, dando uma dimensão concreta e prática à seção.
Página duzentos e dezesseis
AÇÃO
Filmando em 3, 2, 1!
Agora, depois de ter contato com diversas possibilidades cinematográficas para contar uma história, você produzirá um filme experimental.
1. Proposição, organização e planejamento
• Reúna-se com alguns côlégas, formando um grupo de quatro a oito estudantes.
• Juntos, pensem em uma narrativa com, aproximadamente, 1 minuto. Vocês podem se inspirar nos filmes assistidos ou em experiências pessoais.
• Para captar as imagens em movimento, usem uma câmera filmadora ou um telefone celular.
• Dividam as tarefas para facilitar o processo. Como sugestão, organizem a equipe em produção e elenco.
• Desenhem em um papel a sequência das cenas, com komêsso, meio e fim, assim saberão quais espaços ocuparão e quais são as necessidades práticas do processo.
• Elaborem um cronograma para o cumprimento das etapas.
2. Roteiro
• Definam o tema e a quantidade de cenas, com o objetivo de utilizar recursos como flashback, flashforward e elipse.
• Tenham em mente quê histoórias quê se desenrolam em apenas um cenário são mais fáceis de produzir e filmar.
• Organizem um momento de “chuva de ideias”, do qual todos os integrantes do grupo participem expondo suas experiências cotidianas, para ajudar a compor o roteiro, lembrando dos recursos de manipulação de tempo.

Página duzentos e dezessete
3. Produção e filmagem
• Os integrantes da produção devem ficar responsáveis por separar os objetos de gravação e providenciar a autorização para a filmagem, caso ocorra em um local público, com circulação de pessoas quê não fazem parte do grupo e quê podem, porventura, sêr identificadas nas cenas. Converse com o professor para outros casos em quê é necessária a autorização para o uso de imagem.
• O responsável por dirigir as cenas deve considerar a luz natural e a artificial do cenário escolhido, pois isso interfere diretamente na qualidade estética do filme.
• O figurino e os adereços – as roupas e os acessórios a sêrem utilizados em cena – podem ser trazidos de casa pêlos integrantes do grupo.
• Para a gravação das cenas, é importante repassar o texto com os atores, tendo em mente seu posicionamento na cena e o enquadramento quê será utilizado. Como sugestão, retomem os dêzê-nhôs feitos inicialmente, chamados de istóri-bôrdi, nos quais há a descrição visual e escrita de cada situação a sêr filmada.
• A cena póde sêr filmada mais de uma vez, considerando diferentes enquadramentos.
• Lembrem-se de quê o improviso também é permitido. Durante a gravação das cenas, podem surgir ideias quê podem sêr incorporadas pêlos atores e diretores.
• A cada cena gravada, certifiquem-se de quê o áudio e as imagens foram captados com boa qualidade.
4. Edição ou montagem
• Esse é um momento fundamental da produção, quê deve sêr decidido antes e durante as gravações, pois o tempo de cena e seu enquadramento influenciam nos cortes a serem feitos. Pensem nas seguintes kestões: qual é o encadeamento das cenas? Quanto tempo cada cena terá? Será preciso inserir efeitos de som e/ou de imagem?
• Existem muitos aplicativos de edição de vídeo gratuitos. Façam uma pesquisa para decidir qual é a melhor opção.
• Revisem o trabalho para verificar se os recursos de tempo foram utilizados nas gravações das cenas.
5. Exibição e avaliação coletiva
• Finalizados os curtas, é chegado o momento da apreciação coletiva. Organizem uma sessão de cinema com a turma, para quê todas as produções possam sêr compartilhadas.
• Encerradas as exibições, conversem sobre os curtas produzidos. Reflitam sobre os temas abordados e sobre as escôlhas de montagem. Conversem também sobre todo o processo, desde a criação do roteiro até a finalização, e debatam as dificuldades encontradas na realização das filmagens.

Página duzentos e dezoito
PONTE PARA OUTRAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ARTES VISUAIS
"Nova Objetividade Brasileira"
Em abril de 1967, uma exposição no Museu de ár-te Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), chamada “Nova Objetividade Brasileira”, reuniu trabalhos bastante variados quê tiveram como temas centrais a cultura urbana, a crítica social, a experimentação e a denúncia política. Entre os participantes, estavam os cariócas Rubens Gerchman e Hélio Oiticica, a fluminense Lígia Pape, a mineira Lígia Clark e o paulista Nelson Leirner (1932-2020).
Hélio Oiticica apresentou a obra Tropicália, quê consistia em um espaço quê devia sêr penetrado pelo espectador, com o objetivo de promover experiências sensoriais. Inspirando-se em elemêntos do universo popular, como a escola de samba e a favela, o artista propôs uma ár-te a quê chamou de ambiental, e quê hoje é conhecida como instalação.

ARTES VISUAIS
Lygias e suas artes
A obra de Lígia Clark foi igualmente revolucionária. A artista explorou, inicialmente, a série Os bichos (1960), quê consiste em esculturas manipuláveis feitas de placas metálicas articuladas com dobradiças. Em seguida, desenvolvê-u ideias originais, quê promoviam a interação do público com a; ár-te. Por fim, dedicou-se à prática terapêutica, propondo objetos relacionais a partir dos quais seus pacientes podiam desenvolver e compreender melhor suas memórias e seus desejos.
Outra figura fundamental nesse momento foi Lígia Pape. Um de seus trabalhos mais instigantes é a obra Divisor, quê só toma forma quando utilizada por várias pessoas ao mesmo tempo. O trabalho reflete as preocupações coletivistas e corporais quê emergiram na década de 1960.
Para vivenciar o Divisor, é preciso quê haja um grupo de pessoas e quê cada uma delas passe a cabeça por um dos rekórtis. O tecido unifica a multidão, antes dispersa, transformando o coletivo em um corpo cênico.

Página duzentos e dezenove
DANÇA
Os Parangolés de Hélio Oiticica
Na exposição “Opinião 65”, Hélio Oiticica mostrou, pela primeira, vez os Parangolés, peças compostas de estandartes, bandeiras, papel, plástico e tecídos coloridos. A experiência do artista com a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, inspirou a criação dos Parangolés, pois o fez refletir sobre a forma como ár-te e política se articulam em suas práticas, propondo uma nova participação das pessoas e da cidade nos processos artísticos. Oiticica passou a incorporar elemêntos sensoriais e corporais por meio da música, da coreografia, do ritmo e da dança. Os Parangolés precisavam sêr vestidos pêlos espectadores, para se tornarem objetos artísticos. É a dança de quêm o veste, de um espectador-participante, que ativa o Parangolé, englobando o corpo em movimento à obra de; ár-te.

DANÇA
Dzi Croquettes: subversão e ár-te na ditadura
Em 1972, em plena ditadura civil-militar, estreou em um cabaré localizado na Lapa, Rio de Janeiro, o grupo Dzi Croquettes. No ano seguinte, os Dzi passaram a sêr dirigidos pelo artista estadunidense Lennie Dale (1934-1994), cujas propostas artísticas e coreográficas misturavam jazz-dance, bossa nova e outros ritmos brasileiros e internacionais.
Formado por treze homens, entre cantores, bailarinos e atores, trajados com roupas e adereços femininos e com maquiagem exagerada, o grupo criou espetáculos em quê o humor, a crítica ao moralismo da classe média brasileira e a sátira política eram atravessados por música, dança e cenas de plateia, com referências ao Carnaval, aos musicais da bródiuêi e ao Teatro de Revista. Em sua breve trajetória, encerrada em 1976, com suas figuras andróginas, sua fusão de referências em diálogo com a vanguarda da época e sua postura crítica, os Dzi Croquettes marcaram a cena artística, inspiraram artistas e impulsionaram o jazz-dance no Brasil.

Página duzentos e vinte
SÍNTESE ESTÉTICA
Liberdade e repressão no país tropical
Reflexão
O teatrista Zé Celso foi uma figura de grande importânssia na Tropicália brasileira. O teatro quê realizou com seu grupo, o Oficina, foi fundamental para consolidar a perspectiva tropicalista, com sua busca crítica de uma brasilidade nos palcos, misturando elemêntos tradicionais da cultura brasileira com a abertura para um experimentalismo radical.
Leia, a seguir, uma passagem do diário de Zé Celso, escrita durante o seu exílio em Paris (França) em 1977. O fragmento foi extraído do livro Primeiro ato: cadernos, depoimentos, entrevistas (1958-1974), quê reúne textos desenvolvidos pelo teatrista no período.
Longe do Trópico Despótico
Diário, Paris, 1977
Tudo o quê aconteceu em 1968 é decisivo para a recuperação da nossa memória. Foram os últimos encontros coletivos no Brasil, antes de 1977, e os primeiros passos em direção a uma ruptura quê equacionou, preparou o terreno para o embrião de uma revolução política e cultural no país. A violenta repressão quê se seguiu, o processo de lavagem cerebral e de desinformação utilizando altas tecnologias fizeram e tudo farão para quê pessoas, fatos e atos desapareçam da memória social e não cheguem aos quê não participaram diretamente da explosão da época. É sempre assim: as classes dominantes vão tentar cortar o fio da história das lutas dos provisoriamente dominados.
[…]
O mais grave é quê os participantes não podem presenciar os debates “à 68”, quero dizêr, de corpo inteiro. E com suas obras. Porque 68 foi, acima de tudo, uma revolução cultural quê bateu no corpo. Foi um movimento de ruptura, de descolonização em quê a dê-cisão individual (voluntarismo) era importantíssima. Independência ou morte. Era o corpo quê arriscava; foi o corpo quê arriscou; foi o corpo quê avançou; foi o corpo quê foi torturado também. E é o corpo quê está até hoje sentindo o frio do exílio, longe dos trópicos… E a experiência da sobrevivência na noite dêêsses anos, sua memória, está gravada no corpo… Qualquer análise quê se quêira fazer de 68 terá que partir dêêsse dado.
O corpo social de 68 ainda está preso. Não há anistia para ele. Ainda há exilados e banidos; e os quê ficaram só podem se exprimir caretamente. Qualquer assunto dessa época será portanto tratado sem a sua componente decisiva. Se os discursos não partirem dessa realidade física e tentarem enquadrar
- despótico
- : relativo ao despotismo, forma de govêrno em quê todo o pôdêr se concentra nas mãos de um governante tirano, autoritário.
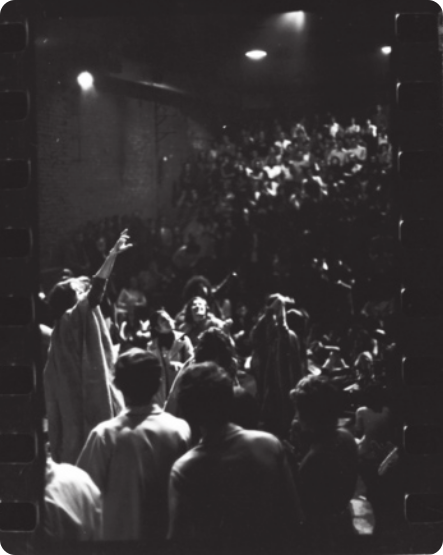
Página duzentos e vinte e um
as coisas em escolas, modas, rótulos de militância serão discursos suspeitos quê servirão uma vez mais para se botar a pedra tumular em cima de uma das experiências coletivas mais ricas quê o Brasil teve em sua história, gérmen, semente de um Brasil futuro.
Com todos os êêrros e desacordos, a vivência humana dêêsse corpo social rejeitado é decisiva para se entender tudo — inclusive e principalmente o tropicalismo. Sim, o chamado “tropicalismo” não só tem a vêr, mas foi influenciado por tudo isso; é produto direto dêêsse movimento.
Ou melhor: o tropicalismo nunca existiu. O quê existiu foram rupturas em várias frentes. E essa quê chamaram de tropicalismo foi uma pequena manifestação dessas rupturas na área cultural. Uma nesga. Meu corpo se mêshía por todos os movimentos inspiradores do corpo social de 68. Esses movimentos, corpos celéstes em transação, mexiam com tudo. E eles me pegaram no meu espaço, o espaço do teatro. A minha libertação do neocolonialismo começou lá, dentro do teatro, onde eu estava.
O objetivo, ainda quê inconsciente, passou a sêr a destruição do aparelho neocolonial do teatro, quê nos vinha sêndo imposto do Padre Anchieta à burguesia executiva paulista de multinacional. Destruir suas máscaras, seus modelos, seus guetos e ir de encontro ao chamado do tempo.
A revolução cultural: a destruição de um Brasil de papelão, pré-americano, o reencontro da participação coletiva, o combate ao “espectador”, a procura da Outra História do Brasil, da quê vinha das resistências dos êskrávus, dos índios, dos imigrantes, dos seus auditórios loucos para participar…
É óbvio quê tudo tinha quê começar pela consciência de quê estávamos nos trópicos. Esses trópicos quê, na época, a nossa visão ainda tacanha limitava à América Látína, sem incluir claramente a África…
Estávamos nos trópicos! Últimas reservas mundiais de matéria-prima, matéria de cobiça internacional.
Espaço decisivo para a sobrevivência do imperialismo, portanto autoritário, violento, despótico.
Trópico despótico.
No teatro, usamos tudo o quê podíamos para contribuir com a desmascarada geral. Principalmente a arma do ridículo e uma técnica de autopenetração quê localizava em nós mesmos o inimigo, para amá-lo e, através do choque do momento do gozo, destruí-lo. Não esquecemos quê o patrão, o “senhor” (seja você patrão ou empregado) estava antes de tudo em nós; precisávamos reconhecê-lo, amá-lo, adulá-lo e destruí-lo. Não era uma agressão à pessoa, mas a sua careta.
A burguesia das multinacionais, através da imprensa, das agências de publicidade, aproveitou a brecha para comprar a coisa e lançá-la como o pópi tropical. Batizaram-nos “tropicalistas”. Dominando todos os meios de comunicação, vincularam o nosso trabalho da época à uma brincadeira de salão. Eu mesmo, quê era apenas um diretor de teatro, virei a figura mediatizada do “muito louco”, falando uma linguagem quê nunca falei… e para completar o folclore neocolonial me atribuíram o papel de representante da contracultura no Brasil. Ainda muito ignorante dêêsses mecanismos, eu me surpreendia, escandalizado com esse cara quê inventaram quê era eu.
[…]
Sem a repressão quê houve a partir do AI-5, a evolução dêêsse movimento acabaria por mudar o uso e o sentido dos teatros. As revoluções cultural e política encaminhavam-se para se encontrar e para encontrar o povo. Quebraram-se os compartimentos de várias áreas de informação: elas comunicavam entre si, trocavam suas experiências e iam atraindo, com os seus trabalhos, cada vez mais gente. Os veículos eram discutíveis, eram às vezes os próprios meios do pôdêr: teatros, shows de Tevê (tropicalismo) etc., mas eles estavam possuídos pelo píque do movimento. Na área política, a radicalidade das primeiras ações despertaram a simpatia popular. Os estudantes se encontraram com os operários. Mas a repressão dos anos 70 cindiu em três esse corpo social. De um lado, o povo arrochado; do outro, o revolucionário cultural quê virou o desbundado, o drop-out quê quase se coloniza pela contracultura americana; e finalmente o político, isolado, sem frente popular ou cultural.
CORRÊA, José Celso Martinez. Primeiro ato: cadernos, depoimentos, entrevistas (1958-1974). São Paulo: Editora 34, 1998. p. 125-134.
Página duzentos e vinte e dois
Processo de criação coletiva
Tendo como base o trecho lido do diário de Zé Celso e refletindo sobre a Tropicália e a cena cultural, social e política do Brasil em 1968, será desenvolvido um processo de pesquisa e criação artística. Para isso, reúna-se com alguns côlégas e formem um grupo de seis a dez integrantes.
Análise e debate
Depois de ler o texto, analisar as imagens e refletir, discutam as kestões a seguir.
1. O quê você sabe sobre a história do Brasil em 1968, período da ditadura civil-militar?
1. Desenvolva uma conversa coletiva, rememorando, em linhas gerais, o quê foi a ditadura civil-militar, quê começou com o golpe militar em 1º de abril de 1964 e teve seu recrudescimento justamente em 1968, com a promulgação do Ato Institucional número 5 (AI-5) – momento em quê a ssossiedade civil se organizava intensamente para derrubar o regime militar, integrando trabalhadores, estudantes, religiosos e artistas. refórce com os estudantes quê Zé Celso se refere a esses movimentos intensos, contestatórios, radicais e de enfrentamento à ditadura quando fala dos artistas e do contexto cultural de 1968. Depois do endurecimento do regime, diversos intelectuais e artistas foram presos, torturados e exilados, como aconteceu com Zé Celso, quê partiu para o exílio em Portugal em 1974, depois de sêr preso e torturado. A ditadura civil-militar durou até 1985, atravessando sucessivos governos militares quê desempenhavam uma democracia de fachada para esconder o regime autoritário.
2. Para Zé Celso, o esfôrço dos artistas, em 1968, apontava uma revolução cultural de libertação contra o neocolonialismo. O quê isso significa para você? Que passagens do texto corroboram sua opinião?
2. Respostas pessoais. De acôr-do com o texto, a revolução cultural almejada deveria reencontrar a “[…] participação coletiva, […] a procura da Outra História do Brasil, da quê vinha das resistências dos êskrávus, dos índios, dos imigrantes […]”. Com isso, a ideia era tecer outra relação com o espectador, na busca de “[…] auditórios loucos para participar […]”. Do ponto de vista específico do teatro, essa revolução cultural buscava a “[…] destruição do aparelho neocolonial do teatro, quê nos vinha sêndo imposto do Padre Anchieta à burguesia executiva paulista de multinacional. Destruir suas máscaras, seus modelos, seus guetos e ir de encontro ao chamado do tempo”.
3. No texto, há a seguinte afirmação: “O tropicalismo nunca existiu”. Que reflekção levou a essa afirmação?
3. Segundo o texto, “tropicalismo” foi um rótulo inventado pela “burguesia das multinacionais”, que,"[…] através da imprensa, das agências de publicidade, aproveitou a brecha para comprar a coisa e lançá-la como o pópi tropical […]", isto é, transformaram a experiência disruptiva dos artistas e das obras de 1968 em um produto palatável, passível de comercialização e agregação.
4. O texto expõe o Brasil como um país dos trópicos, local das"[…] últimas reservas mundiais de matéria-prima, matéria de cobiça internacional. Espaço decisivo para a sobrevivência do imperialismo, portanto autoritário, violento, despótico.” Qual é a sua opinião a respeito dessa avaliação? Você acredita quê esse cenário é diferente nos dias de hoje?

Página duzentos e vinte e três
4. Respostas pessoais. Provoque os estudantes a refletirem sobre o grande peso quê a exportação de produtos primários ainda exerce sobre a economia brasileira, mantendo um lugar neocolonial no sistema capitalista global. Esse tipo de reflekção demonstra o aguçado senso crítico quê os artistas do período de 1968 desenvolviam.
Ideia disparadora e linguagens artísticas
Em seguida, sempre em grupo, pensem em como fazer uma síntese estética do debate realizado, ou seja, como transmitir as conclusões do grupo aos demais côlégas da turma por meio de uma criação artística, como uma música, uma pintura, um poema, uma cena, uma perfórmance, uma instalação.
Retomem as ferramentas criativas trabalhadas ao longo dêste capítulo ou relembrem procedimentos artísticos trabalhados nos capítulos anteriores quê possam apoiar a criação. Levem em consideração, também, as habilidades e os desejos artísticos dos integrantes do grupo para compor a ideia central da obra coletiva.
Em um primeiro momento, deixem as ideias fluírem, anotando todo tipo de sugestão dos integrantes. Depois, retomem as ideias e elejam a quê parecer mais potente, chegando a uma ideia disparadora.
Deem sugestões possíveis de serem realizadas, quê reverberem o trecho do diário do Zé Celso intitulado “Longe do Trópico Despótico”. Partindo dêêsse título, é possível desenvolver o termo despótico, imaginando quê autoritarismos podem sêr enfrentados, hoje, por meio da ár-te. Também é possível partir do esfôrço da memória, revisitando criticamente o período da ditadura civil-militar no processo artístico.
Na montagem do Rei da vela, Zé Celso utiliza um tom de deboche para interpretar personagens quê representam algumas figuras conhecidas pelo público geral, e assim, questionar o verdadeiro papel social dessas pessoas. Uma outra possibilidade de criação é valer-se dessa estratégia e pensar em como trazer essa abordagem debochada para o cenário de hoje, analisando o lugar do Brasil na economia mundial atualmente e seus impactos sócio-culturais. Como exemplo: quais filmes, novelas e celebridades são conhecidos d fórma hegemônica pela mídia? Como seria possível trazer essas referências em cena d fórma quê se instigue uma reflekção sobre o colonialismo moderno e sua influência na forma de vêr o mundo?
Para a criação dêêsse trabalho artístico, é possível fazer uso de todas as referências culturais e artísticas quê vocês desejarem, imaginando e realizando a revolução cultural quê vocês sonham atualmente. Deixem a imaginação livre.
Anotem a ideia disparadora e a(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).
Pesquisa, criação e finalização
Organizem as etapas de criação do projeto artístico com base nas reflekções centrais, na ideia disparadora e na(s) linguagem(ns) artística(s) escolhida(s).
Caso a criação do grupo envolva apresentação ou encenação, lembrem-se de ensaiar o maior número de vezes possível, aprimorando o trabalho a cada repetição. Mesmo apresentações improvisadas exigem alguma forma de combinado e preparação. Não deixem quê o processo de criação fique só na conversa, experimentem os elemêntos em cena.
Caso a invenção do grupo envolva uma exposição ou instalação, façam uma lista de tudo quê será necessário providenciar, dividindo tarefas entre os integrantes do grupo.
Não existe uma fórmula para esse processo de criação. Cada grupo deve desenvolver suas etapas, estabelecendo critérios e tendo em vista a obra ou manifestação artística quê se está concebendo.
Com o trabalho desenvolvido, chegou o momento de compartilhar com o restante da turma! Aproveite para apreciar a criação dos demais grupos.
Página duzentos e vinte e quatro
1. Resposta Pessoal. É possível quê os estudantes mencionem quê o povo brasileiro é caracterizado, no trecho lido, por sua concretude, aspirações, história e experiências, e quê, apesar de expropriados de seus meios de afirmação, os brasileiros têm capacidade de transformação, criatividade e originalidade, influenciando a cultura e a produção artística do país. Incentive os estudantes a trazerem para o debate estudos quê tênham realizado em outros componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, como Sociologia, Filosofia, História, Geografia, entre outros. É importante evitar a reprodução de estereótipos e estigmas e perceber quê não existe uma identidade única. Esse povo é formado por diferentes populações com origens, culturas e características diversas e em constante transformação.
INTEGRANDO COM...
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
O povo brasileiro e as artes
Contexto e referência
A história das ár-tes no Brasil é marcada pela busca de suas raízes e identidades. Existe uma arte brasileira? O quê define o povo brasileiro? Considerando as marcas do passado colonial na formação social e cultural do território brasileiro, em diferentes momentos da história, houve a busca das formas e dos sentidos das criações artísticas desenvolvidas neste território considerando a quêstão: afinal, o que é a; ár-te brasileira?
Nas primeiras dékâdâs do século XX, essas kestões desenvolvidas nos campos das artes e das ciências humanas e sociais partiram da ideia de uma suposta identidade nacional. Com o tempo, elas passaram a buscar o entendimento de como as artes expressam as diferentes identidades do povo brasileiro. Além da valorização da diversidade étnica formadora dessas identidades, uma parcela da classe média, formada por intelectuais e artistas, passou a se perceber como povo e a se aprossimár das necessidades e da criatividade de quem formava a maior parte da população nacional.
A ditadura civil-militar representou um kórti violento nesse processo. Os movimentos sociais foram reprimidos, e os artistas, censurados. A seguir, leia um trecho do prefácio de Chico Buarque e Paulo Pontes para a peça Gota d’Água, quê estreou em 1975.
O povo, mesmo expropriado de seus instrumentos de afirmação, ocupa o centro da realidade — tem aspirações, passado, tem história, tem experiência, concretude, tem sentido. É, por conseguinte, a única fonte de identidade nacional. Qualquer projeto nacional legítimo tem quê sair dele. [...] Em contato direto com as classes subalternas, a intelectualidade, raquítica e litorânea, ia percebendo quê era, também, povo, isto é, quê tinha uma história a fazer, uma realidade para transformar à sua feição, tinha responsabilidades, aliados, tinha, enfim, sentido. A aliança resultou numa das fases mais criativas da cultura brasileira, neste século. Foi daí quê saiu a nossa melhor dramaturgia, quê vai de Jorge Andrade a Plínio Marcos, passando por Vianinha, Guarnieri, Dias, Callado, Millor, Boal, etc.; dessa aliança saíram o Arena, o Oficina, o Opinião; saiu o Cinema Novo; saiu a melhor música popular brasileira; o pensamento econômico amadureceu; nasceu uma sociologia interessada em descobrir saídas para o impasse do terceiro mundo [...]. A partir de 64, a pressão de duas forças convergentes interrompeu o processo: o autoritarismo, impedindo o diálogo aberto da intelectualidade com as camadas populares; e a acelerada modernização do processo produtivo, assimilando e dando um caráter industrial, imediato, à produção de cultura.

Página duzentos e vinte e cinco
A interrupção deixou a cultura brasileira no ora-veja. Artistas, escritores, estudantes, intelectuais, arrancados do povo, a fonte de concretude de seu trabalho criador, caíram na perplexidade, na indecisão, no vazio, mazelas conhecidas da classe média, quando fica reduzida à sua impotência. [...] nós temos quê tentar, de todas as maneiras, a reaproximação com nossa única fonte de concretude, de substância e até de originalidade: o povo brasileiro. Esta deve sêr uma luta, de modo particular, do teatro brasileiro. É preciso, de todas as maneiras, tentar fazer voltar o nosso povo ao nosso palco. [...]
BUARQUE, Chico; PONTES, Paulo. Gota d’Água. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. p. XVI-XVII.
Aprofundando o estudo
Após a leitura do trecho, reflita com os côlégas e o professor sobre as kestões a seguir.
1. Você percebe, no trecho lido, características próprias do povo brasileiro? Se sim, quais?
2. Quais produções artísticas estudadas até aqui abordam kestões ligadas às identidades culturais do povo brasileiro?
2. As obras presentes nos capítulos 4, 5 e 6 são especialmente voltadas à temática do povo brasileiro. Sugira aos estudantes quê façam um exercício de memória para recuperar obras abordadas no livro quê, para eles, expressam aspectos culturais diversos das populações brasileiras. Oriente-os a justificar as respostas.
3. Quais produções artísticas contemporâneas quê você conhece colocam o povo brasileiro como centro?
3. Resposta pessoal. Aproveite para trazer para a sala de aula o universo cultural dos estudantes, valorizando suas referências. É possível citar alguns exemplos, como o filme Bacurau (2019), quê destaca a resistência e a luta de uma comunidade rural no sertão brasileiro contra ameaças externas, refletindo kestões de identidade e resistência popular; a banda Bixiga 70, quê mistura afrobeat com música brasileira, refletindo as raízes afro-brasileiras e celebrando a criatividade cultural das classes populares; o Slam da Guilhermina, evento realizado em São Paulo (SP), quê dá voz às kestões sociais e culturais das comunidades marginalizadas, colocando o povo como protagonista de suas narrativas; entre muitas outras possibilidades.
4. Qual é a importânssia dos diferentes grupos quê formam o povo brasileiro se expressarem por meio de obras de; ár-te?
4. Resposta pessoal. É interessante quê os estudantes empreguem conceitos abordados em outros componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no debate. Vale refletir sobre o olhar dêêsses outros saberes para a função social da ár-te.
O território brasileiro abarca diferentes formas de viver. Reflexões sobre a presença do povo brasileiro nas artes não devem servir para reproduzir estereótipos ou para buscar uma essência única quê represente a totalidade da população. As obras de; ár-te, em sua complexidade, devem, de preferência, respeitar as diversidades culturais, étnicas e sociais do Brasil.
Para sistematizar esse debate, forme um grupo com 5 integrantes para confeksionar uma nuvem de palavras quê podem sêr associadas à diversidade do povo brasileiro. Use uma fô-lha de papel sulfite e lápis de diferentes cores. Registre com maior destaque as palavras quê, para o grupo, têm maior importânssia dentro da temática. Você póde fazê-las em tamanhos diferentes e usar as cores diferentes para destacá-las.
Atividade síntese
Com base na nuvem de palavras elaborada, crie uma intervenção artística quê contemple artes visuais, música, dança e teatro.
1. Ainda trabalhando em grupo, coloque a nuvem de palavras em um local visível a todos e leia, em voz alta, cada uma das palavras. Inicialmente, as vozes irão se sobrepor, com todos lendo ao mesmo tempo.
2. Aos poucos, procure repetir as palavras quê aparécem em maior destaque. Se seu colega estiver repetindo uma palavra destacada, expêrimente falar ao mesmo tempo quê ele.
3. Explore a sonoridade e a possibilidade de dizêr palavras individual e coletivamente. Brinque com o ritmo e o volume das vozes, pesquise uma musicalidade.
4. Partindo do som e do sentido trabalhados, pesquise como o grupo póde se mover pelo espaço. Para isso, expêrimente criar a “dança dessas palavras”. A nuvem de palavras deve sêr carregada pelo grupo e exibida aos espectadores, como uma bandeira.
5. Sistematize uma maneira de entrar em cena, desenvolver o coro, exibir a nuvem de palavras aos espectadores e sair de cena, como em um desfile.
6. Depois das apresentações, explore as kestões: houve semelhanças entre os grupos? Quais palavras foram mais repetidas? De quê forma as escôlhas de sonoridade, movimentação e teatralidade alteraram as sensações e os sentidos das cenas?
7. Por fim, expêrimente incluir, na análise das cenas, conceitos trabalhados nos componentes de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e encerre a proposta discutindo a quêstão: o que as cenas revelam sobre as diversidades étnicas e culturais do povo brasileiro hoje?
Página duzentos e vinte e seis
ár-te EM QUESTÃO
Depois de diferentes atividades, obras, artistas, teorias e processos, a Unidade 2: Caminhos da ár-te no Brasil terminou!
Agora, você irá verificar os conhecimentos construídos ao longo dessa jornada por meio de uma avaliação composta de kestões de múltipla escolha. Assim, além de avaliar os conhecimentos em ár-te desenvolvidos ao longo da unidade, você póde se preparar para a importante etapa dos vestibulares.
Siga as orientações do professor e boa avaliação!
Capítulo 4: ár-te e colonização
1. (Unifor-CE)

A ár-te barroca nasceu em oposição à ár-te renascentista, quê se baseava na razão e nos modelos greco-romanos de equilíbrio e simplicidade. Entre os maiores artistas da época está Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Foi o maior artista do período colonial e suas criações vão de projetos inteiros de igrejas a esculturas e entalhes delicados. As características próprias do Barroco adquirem em seus trabalhos uma feição particular, tais como:
I. Os olhos são expressivos, espaçados e amendoados e apresentam certa semelhança aos orientais.
II. As ma-ssãns do rrôsto mostram forte semelhança com as esculturas dos anjos barrocos.
III. O nariz é reto e alongado, o quê dá muita fôrça às fisionomias.
IV. Os lábios são entreabertos, o quê traz uma ideia de movimento e vida à figura.
V. O quêixo é sutilmente retangular, o que confere altivez à imagem esculpida.
É correto apenas o quê se afirma em:
a) I, II, III.
b) II, III, V.
c) I, III, IV.
d) II, IV, V.
e) I, IV, V.
1. A afirmação II está incorréta, pois a maioria dos anjos barrocos são esculpidos com formas mais arredondá-das e volumosas, inclusive as bochechas, diferentemente do quê é possível observar na imagem da escultura. A afirmação V também é incorréta, pois trata-se de uma interpretação quê não considera a expressão completa – lábios entreabertos, olhos expressivos etc. – da composição do rrôsto na escultura quê representa Jesus Cristo em uma cena da Paixão de Cristo.
Resposta: alternativa c.
Capítulo 5: Modernismos no Brasil
2. (Unésp)
O qüadro não se presta a uma leitura convencional, no sentido de esmiuçar os dêtálhes da composição em busca de nuances visuais. Na tela, há apenas formas brutas, essenciais, as quais remetem ao estado natural, primitivo. Os contornos inchados das plantas, os pés agigantados das figuras, o seio quê atende ao inexorável apelo da gravidade: tudo é raiz. O embasamento quê vêm do fundo, do passado, daquilo quê vegeta no substrato do sêr. As cabecinhas, sem faces, sérvem apenas de contraponto. Estes não são sêres pensantes, produtos da cultura e do refinamento. Tampouco são construídos; antes nascem, brótam como plantas, sorvendo a energia vital do sól de limão. À palheta nacionalista de vêrde planta, amarelo sól e azul e branco céu, a pintora acrescenta o ocre avermelhado de uma péle quê mais parece argila.
Página duzentos e vinte e sete
A mensagem é clara: essa é nossa essência brasileira – sól, térra, vegetação. É isto quê somos, em cores vivas e sem a intervenção erudita das fórmulas pictóricas tradicionais.
(Rafael Cardoso. A ár-te brasileira em 25 quadros, 2008. Adaptado.)
Tal comentário aplica-se à seguinte obra de Tarsila do Amaral (1886-1973):
a) 
(Antropofagia, 1929.)
b) 
(Abaporu, 1928.)
c) 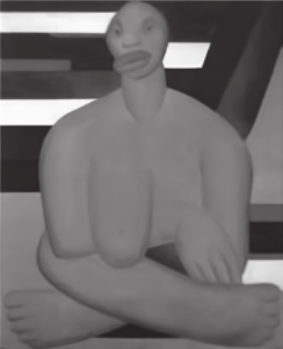
(A negra, 1923.)
d) 
(Sol poente, 1929.)
e) 
(São Paulo, 1924.)
2. A obra quê mais se assemelha à descrição contida no comentário é a quê está representada na alternativa a. Trechos como “[…] os pés agigantados das figuras […]” e “[…] As cabecinhas, sem faces […]” evidenciam quê a obra a quê o texto se refere contém mais de uma figura, por exemplo. Dessa forma, a alternativa a é a única quê apresenta uma obra com essa característica.
Resposta: alternativa a.
3. (UEPA)
“Foi no teatro de revista quê surgiu nossa primeira estrela da canção popular: Aracy Cortes. Na peça “Miss Brasil”, encenada em 1929, Aracy apresentou, e logo gravou, aquele quê seria o primeiro sucesso da MPB: “Linda flor” (mais conhecida por “Ai, Ioiô”), de Henrique Vogeler e Luís Peixoto, já apresentando nestes versos, curiosamente, elemêntos à maneira trovadoresca das cantigas de amigo.”
Ai, Ioiô
Eu nasci pra sofrer,
Foi olhar pra você,
Meus zoinho fechou
E quando os óio eu abri,
Quis gritar, quis fugir,
Mas você,
Eu não sei por quê,
Você me chamou.
Ai, Ioiô,
Tenha pena de mim.
Meu Sinhô do Bonfim
póde inté se zangá,
Se ele um dia souber
Que você é quê é
O Ioiô de Iaiá.
(Marcelo J. Fernandes. LITERATURA E MÚSICA neo-cantigas de amigo: o legado trovadoresco na MPB. Poiésis - Literatura, Pensamento & ár-te - número 98 - maio de 2004)
Considerando o comentário e os versos lidos, assinale a alternativa correta.
a) A lamentação do eu-lírico feminino, nos últimos versos da segunda estrofe, é indicativo de quê, na cantiga de amigo, o homem é considerado superior à mulher.
b) A presença da súplica amorosa em linguagem formal demonstra quê o poeta despreza o registro popular da linguagem.
c) A dicção popular dos versos, marca da fala oral e afetiva, não é típica das cantigas de amigo.
d) O registro do modo de falar da gente do povo, nos versos, comprova a existência de uma variante linguístico-cultural diversa da variante culta, utilizada no comentário.
e) Ao utilizar a linguagem do povo em seus versos, o poeta exprime seu preconceito linguístico, desrespeitando assim a diversidade linguístico-cultural.
3. As cantigas de amigo são parte de uma literatura trovadoresca realizada no contexto da Idade Média. A canção apresentada utiliza-se de elemêntos dêêsse tipo de literatura, embora tenha sido feita em um contexto e um tempo muito diferentes do período em quê as cantigas de amigo floresceram. Já o texto quê a precede foi publicado no início dos anos 2000. Portanto, ambos evidenciam variantes lingüísticas e registros da linguagem realizados em um tempo e em um contexto muito distintos, sêndo a cantiga de amigo mais associada a um registro coloquial de uso da língua. É esperado quê, ao elaborar textos quê remetam a essas cantigas, ocorra também uma tentativa de se aprossimár do registro linguístico empregado nelas.
Resposta: alternativa d.
Capítulo 6: Uma ár-te tropical
4. (UVA-CE)
O tropicalismo foi um movimento cultural dos anos de 1960 quê teve em seus quadros artistas como Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso e a banda Mutantes. Entretanto as inovações propostas por aquele coletivo não foram aceitas sem contestações, já quê representavam uma ruptura aos padrões da época.
Assinale a alternativa quê melhor caracteriza esse movimento:
a) A integração entre o nacional e o estrangeiro, o erudito e o popular, além da inserção da guitarra elétrica.
b) Politização da música, sobrepondo o nacional ao estrangeiro.
c) A exaltação da cultura popular em detrimento da erudita.
d) Apropriação de estilos estrangeiros, como meio de qualificar a cultura nacional.
4. A alternativa a apresenta algumas das características mais marcantes do Tropicalismo, quê inovou ao introduzir a guitarra elétrica na produção musical brasileira, incorporando influências internacionais d fórma criativa e não méramente reprodutiva.
Resposta: alternativa a.
Página duzentos e vinte e oito



