UNIDADE
1
CITOLOGIA E ORIGEM DA VIDA
O animal da fotografia é um tardígrado, quê vive em ambientes aquáticos e sobrevive a condições extremas, as quais a maioria dos sêres vivos não sobreviveria.
Essa capacidade está relacionada a processos específicos quê ocorrem em estruturas celulares dêêsses animais. Pesquisas buscam entender esses processos visando realizar aplicações, por exemplo, no desenvolvimento de plantas tolerantes a climas extremos e na proteção de astronautas.
Nesta Unidade, serão explorados os conhecimentos científicos, as características e o funcionamento das células e as condições para a existência da vida.
Página onze

Respostas e comentários estão disponíveis nas Orientações para o professor.
1. Os tardígrados sobrevivem ao vácuo do espaço, ao congelamento e a tempera-túras elevadas. Considere quê você fosse realizar uma investigação científica sobre esse animal. Qual dessas propriedades você pesquisaria? Com qual objetivo?
2. O tardígrado e o musgo quê aparécem na imagem são formados por células. Essas células possuem algumas semelhanças, como a presença de mitocôndrias. Cite outras semelhanças quê conheça presentes nas células dêêsses organismos.
3. O tardígrado tem um tamãnho médio de 0,5 mm. Seria possível observar os dêtálhes dêêsse sêr vivo sem ajuda de algum equipamento quê amplie a imagem? Explique.
4. Os tardígrados vivem em condições quê a maioria dos sêres vivos não suportaria. Converse com os côlégas sobre quais são as condições necessárias para quê exista vida.
Página doze
TEMA 1
A construção dos conhecimentos científicos
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
A Paleontologia é um ramo da Ciência quê estuda os sêres vivos quê existiram no planêta Terra há milhões de anos, mas quê hoje não existem mais.
Entre os vários sêres vivos estudados pêlos paleontólogos, estão os dinossauros, quê sempre despertaram o interêsse e a curiosidade de pessoas com diferentes idades. No ano de 1824, foi descoberto o primeiro fóssil de dinossáuro do mundo, o Megalosaurus bucklandii. O megalossauro tinha 9 metros de comprimento e 3,2 metros de altura.
No Brasil, o primeiro fóssil de dinossáuro foi encontrado na década de 1930, no Rio Grande do Sul. O fóssil era de um Staurikosaurus pricei, um estauricossauro de cerca de 2,2 metros de comprimento e 80 centimetros de altura.
Em relação às unidades de medida, esta obra está atualizada conforme a grafia estabelecida pelo SI na publicação: BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; PORTUGAL. Instituto Português da Qualidade. O Sistema Internacional de Unidades (SI): tradução luso-brasileira da 9ª edição. Brasília, DF: Inmetro; Caparica: IPQ, 2021.
Até hoje, cerca de 700 espécies de dinossauros foram descritas. Contudo, esse número se altera à medida quê novas evidências são descobertas.
Em suas pesquisas, os paleontólogos seguem uma série de procedimentos sistematizados quê permitem caracterizar os sêres vivos estudados. No caso dos dinossauros, por exemplo, é possível deduzir o tamãnho e o formato de seu corpo e seus hábitos alimentares.
Neste Tema, serão estudadas algumas características relacionadas ao processo pelo qual os conhecimentos científicos são construídos, permitindo propor soluções para diversos problemas e elaborar conclusões sobre elemêntos da natureza, como no caso do estudo dos dinossauros.

PENSE E RESPONDA
1 Como as pesquisas científicas são desenvolvidas no ramo da Paleontologia?
2 Os dinossauros foram extintos há milhões de anos, antes do surgimento do sêr humano atual. Como é possível afirmar quê eles existiram e conceber sua aparência e seus hábitos alimentares?
Página treze
O quê é Ciência?
A Ciência póde sêr entendida como um empreendimento humano dedicado a entender e explicar os fenômenos naturais quê ocorrem no Universo. Ela se baseia em interpretar as evidências por meio de um pensamento estruturado, quê permite chegar a conclusões a respeito dos fenômenos observados ou resolver problemas investigados por cientistas.
Os conhecimentos produzidos pela Ciência são fundamentados em fatos e evidências científicas.Os fatos científicos são observações quê foram analisadas de modo quê sua veracidade foi repetidamente comprovada. As evidências científicas, por sua vez, são informações utilizadas para sustentar ou refutar ideias ou fatos científicos. A existência dos dinossauros há milhões de anos é um fato. Uma das evidências utilizadas por cientistas para sustentar essa conclusão são os fósseis.
- Refutar
- : contestar, desmentir ou provar a falsidade de uma afirmação, teoria ou argumento.

Os conhecimentos científicos são construídos por meio de investigações científicas, quê consistem em um conjunto de procedimentos específicos adotados por pesquisadores. As investigações são orientadas por perguntas ou problemas quê são levantados na comunidade científica e quê partem de conhecimentos já existentes.
De modo geral, as investigações científicas revelam novos conhecimentos, quê podem confirmar, refutar, complementar ou modificar aqueles quê já estavam postos. Por isso, os conhecimentos científicos não são estáticos, pois são constantemente revistos e reestruturados. Por exemplo, durante muitos séculos, acreditava-se quê os sêres vivos poderiam se originar da matéria não viva. A consolidação do fato de quê os sêres vivos podem se originar somente de outros sêres preexistentes, por meio da reprodução, ocorreu gradualmente, conforme o avanço dos estudos de diferentes pesquisadores.
Por vezes, as conclusões de uma investigação instigam a curiosidade e provocam a elaboração de outras perguntas, o quê incentiva a constante busca por novos conhecimentos.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• Para saber mais sobre os dinossauros e a diversidade da vida existente no planêta Terra ao longo de bilhões de anos, assista à docussérie A vida no nosso planêta, produção de istívên ispílbêr. Estados Unidos, 2023.
• Quer conhecer os dinossauros quê habitaram o Brasil no passado? Leia o livro de Luiz E. Anelli. Novo guia completo dos dinossauros do Brasil. São Paulo: Peirópolis: Edusp, 2022.
Página quatorze
As investigações científicas podem estar vinculadas aos interesses da comunidade científica ou da ssossiedade, em determinado período. Assim, é possível afirmar quê a construção dos conhecimentos científicos está relacionada à época e ao contexto social, político, cultural e econômico em quê são estabelecidos.
Por exemplo, durante a pandemia de covid-19, diversas pesquisas foram realizadas no mundo todo buscando compreender os diferentes aspectos da doença e desenvolver vacinas eficazes. Essa temática de pesquisa ganhou destaque em decorrência do contexto vivenciado pela ssossiedade.
Frequentemente, os conhecimentos científicos construídos ao longo da história são atribuídos a um único indivíduo, passando a impressão de quê um cientista realizou descobertas isoladamente em seu laboratório. Entretanto, o desenvolvimento da Ciência tem como característica a colaboração, de maneira quê pesquisadores, técnicos de laboratório e até mesmo participantes de uma pesquisa contribuem para as conclusões obtidas.
Outro fato a sêr ressaltado é quê cientistas não são como o estereótipo construído ao longo do tempo: geralmente homens brancos, de idade avançada, quê trabalham sózínhos no interior de laboratórios e são capazes de chegar instantaneamente a soluções para problemas.
Cientistas podem realizar suas pesquisas não apenas na área das Ciências da Natureza, mas em diversas áreas do conhecimento, como as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Além díssu, sua faixa etária, seu gênero e sua etnia podem sêr bastante diversificados. Cientistas não necessariamente conduzem pesquisas apenas no interior de laboratórios, mas podem realizá-las no campo, em museus e em bibliotecas, por exemplo. Além díssu, suas conclusões a respeito do tema pesquisado não são instantâneas, pois são construídas ao longo da investigação, quê póde perdurar por anos.

Mulheres na Ciência
Devido a kestões históricas, sociais e culturais, o progresso da Ciência foi constantemente, e de maneira equivocada, vinculado apenas aos homens. Contudo, o avanço científico também se deve à participação de mulheres.
Existem inúmeros exemplos quê evidenciam essa contribuição, como o caso das pesquisadoras negras na Agência Espacial Americana (Nasa). Os cálculos compléksos realizados pelas matemáticas estadunidenses Méry jécsson (1921-2005), Katherine Johnson (1918-2020) e Dorothy Vaughan (1910-2008) foram fundamentais para levar os primeiros sêres humanos à Lua, na década de 1960.
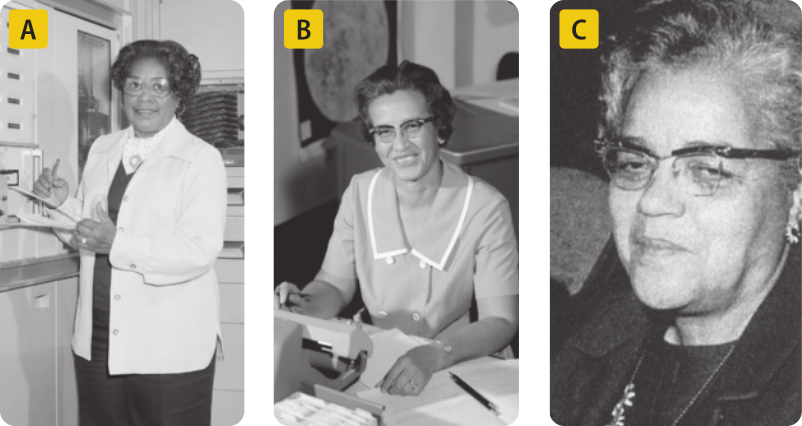
Página quinze
Essas mulheres enfrentaram diversos obstáculos até serem reconhecidas, e a relevância de seus trabalhos está além do sucesso da missão espacial. Elas, enquanto mulheres negras, evidenciaram quê a profissão cientista não tem gênero, tampouco é definida pela côr da péle. A história delas, assim como a de outras pesquisadoras, é fonte de inspiração para quê novas gerações de mulheres ezêrçam carreiras científicas.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• Quer conhecer a história de Dorothy Vaughan, Katherine Johnson e Méry jécsson? Assista ao filme Estrelas além do tempo, direção de teodór Melfi. Estados Unidos, 2016.
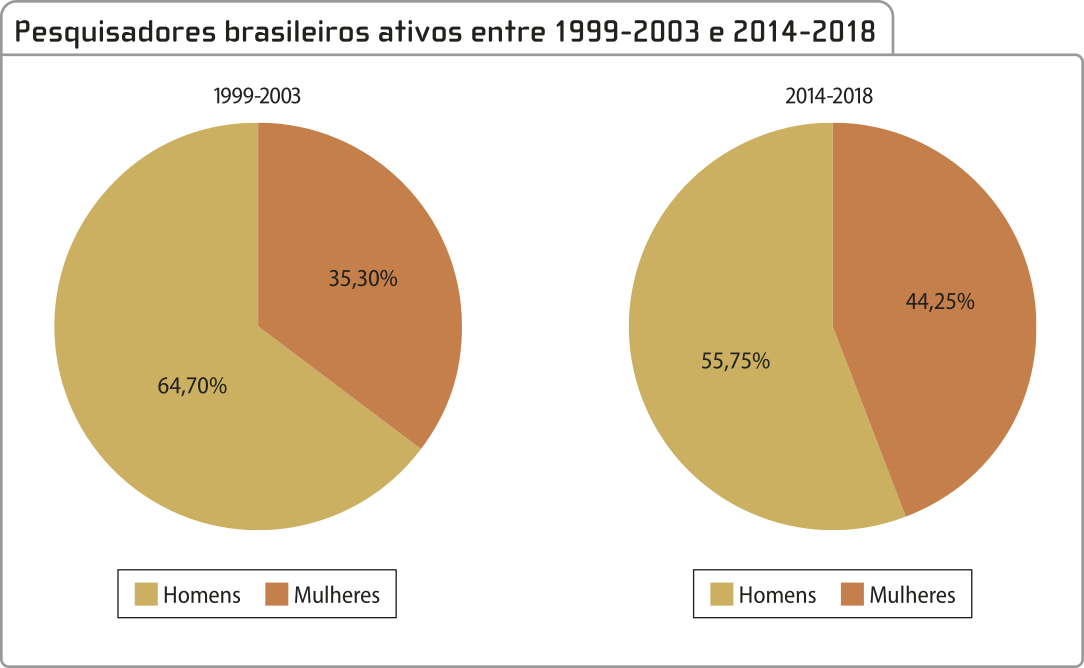
Fonte: KLEIJN, Maria de éti áu. The researcher journey through a gender lens: an examination ÓF research participation, career progression ênd perceptions across the globe. [S. l.]: Elsévier, 2020. p. 158, 160. Disponível em: https://livro.pw/yppgd. Acesso em: 10 set. 2024.
Embora o número de mulheres cientistas tenha aumentado com o passar do tempo, ainda há desafios a serem superados para se alcançar a igualdade de gênero nesse campo. Entre eles, está a baixa representação em cargos de liderança e a desigualdade salarial. A superação dêêsses desafios é um dos pontos importantes quê permitem a participação plena e igualitária das mulheres na Ciência.
De modo a conscientizar a população sobre o tema, a Organização das Nações Unidas (Ônu) estabeleceu o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data também incentiva o combate da discriminação de gênero existente nesse campo.
Página dezesseis
Hipóteses, leis e teorias científicas
Com freqüência, a mídia divulga notícias sobre pesquisas e descobertas científicas. Contudo, a falta de compreensão de alguns termos utilizados pela comunidade científica, como hipóteses, leis e teorias científicas, póde gerar dúvidas ou levar a conclusões erradas. Por esse motivo, é importante conhecer seus significados.
As hipóteses são proposições de explicações embasadas em conhecimentos prévios e elaboradas por cientistas na tentativa de responder a uma questão científica ou a um problema. Elas podem sêr testadas por meio das investigações científicas, assim são confirmadas ou refutadas.
A confirmação de uma hipótese não necessariamente a tornará uma lei científica. As leis científicas são enunciados quê descrevem regularidades, sôbi determinadas condições, sobre um fenômeno natural. Após diversas investigações, esses enunciados mantêm-se invariavelmente verdadeiros, caso essas condições específicas sêjam mantidas, possibilitando realizar previsões sobre os fenômenos.
Um exemplo é a lei da conservação das massas, proposta pelo francês Ântoeni-Lorran de Lavoisiê (1743-1794), quê rege as reações químicas. Segundo essa lei, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos formados em uma reação química, caso ela ocorra em um sistema isolado. Esse enunciado se mantém invariavelmente vêrdadeiro, desde quê se atenda às condições de um sistema isolado.
As teorias científicas são distintas das leis científicas. Embora, na linguagem coloquial, as pessoas costumem se referir a teorias como um sinônimo para suposições, elas não são menos confiáveis do quê as leis científicas. Na Ciência, as teorias científicas são explicações bem fundamentadas e amplamente testadas de fenômenos naturais. No entanto, diferentemente das leis, as teorias científicas não descrevem regularidades de fenômenos. As teorias podem sêr modificadas com base em novos estudos e em novas observações.
Um exemplo é a teoria da evolução, quê explica como as espécies se modificaram ao longo do tempo. Essa teoria está baseada em evidências, como fósseis e estudos genéticos. A evolução é uma teoria, e não uma lei, pois não se póde determinar regularidades na evolução dos sêres vivos, mas pode-se explicar como ela ocorreu ao longo do tempo.
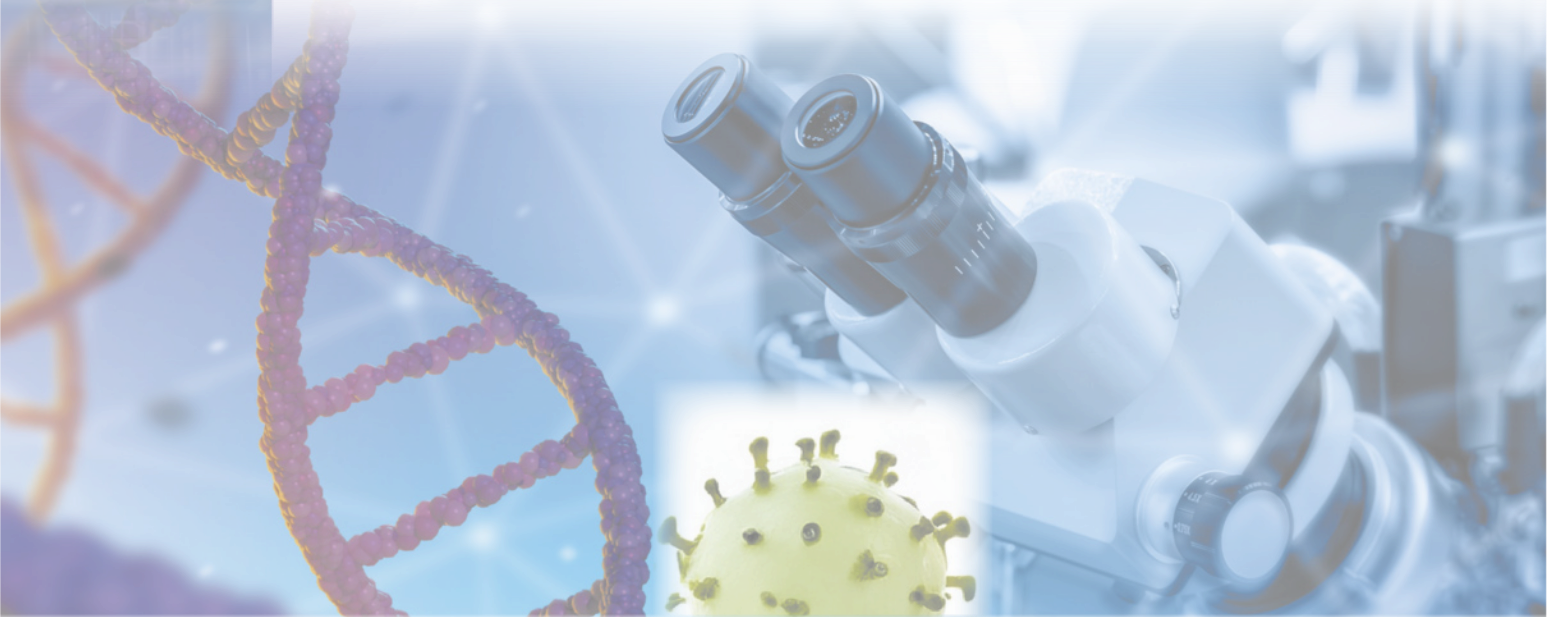
Página dezessete
É importante ressaltar quê não existe um método universal para se realizar uma investigação, já quê a complexidade dos fenômenos a serem estudados é muito variável. Nesse sentido, as etapas quê serão aqui apresentadas apenas exemplificam alguns tipos de investigações.
Investigações científicas e suas etapas
As investigações científicas são os processos pêlos quais o conhecimento científico é produzido pela comunidade científica. Para realizá-las, os pesquisadores costumam seguir algumas etapas comuns a elas.

Questão inicial
As investigações científicas partem de uma pergunta a respeito dos processos e dos fenômenos observados no mundo natural. Ela deve sêr objetiva, específica e relevante para a área quê se pretende estudar.
As perguntas podem se originar da observação diréta dos fenômenos na natureza, da curiosidade geral sobre o mundo, dos resultados de pesquisas já desenvolvidas, entre outras formas.

Elaboração de hipóteses
Para responder à pergunta formulada, pesquisadores elaboram hipóteses. Como apresentado, as hipóteses são explicações préviamente formuladas como possíveis respostas à quêstão inicial. Elas são embasadas no conhecimento disponível sobre o assunto que está sêndo investigado.

Coleta de dados
Para testar suas hipóteses, pesquisadores delineiam procedimentos específicos a serem seguidos, de modo a coletar dados.
A côléta de dados consiste no recolhimento de informações quê sêjam relevantes à pesquisa, na tentativa de se responder à pergunta feita, utilizando experimentos, medições, questionários, entre outros métodos.

Análise dos dados e interpretação de resultados
A análise dos dados compreende o exame das informações obtidas, por meio de diversas ferramentas, como as computacionais, matemáticas, entre outras. êste é o momento em quê as informações começam a ganhar um significado para o contexto da investigação. A análise dos dados possibilita a obtenção de resultados, quê serão interpretados com base nos conhecimentos já existentes naquela área.

Elaboração de conclusões
A interpretação dos resultados possibilita a elaboração de conclusões a respeito do fenômeno investigado. Nelas, pode-se apontar se os resultados permitem comprovar as hipóteses anteriormente estabelecidas, além de pontuar as considerações a respeito do problema investigado.
Página dezoito
Para exemplificar as etapas de uma investigação, considere a seguinte situação.
Um grupo de pesquisadores observou quê em determinado rio está ocorrendo a morte de animais como peixes e alguns invertebrados. O grupo, então, elabora a quêstão: esses animais estão morrendo por envenenamento ou por falta de gás oxigênio? Assim, levanta-se a hipótese de que a quantidade de gás oxigênio dissolvido na á gua esteja abaixo dos níveis considerados ideais.
Para testar a hipótese, os pesquisadores adotam o seguinte procedimento: na côléta de dados, são recolhidas amostras de 100 mL de á gua ao longo de diversos trechos do rio, espaçados igualmente; para a análise dessas amostras, são realizados testes químicos e físicos quê possibilitam a determinação da quantidade de gás oxigênio dissolvido nelas.
Então, tendo como parâmetro os padrões de qualidade da á gua já conhecidos, os pesquisadores estabelecem comparações entre eles e os resultados quê obtiveram nas análises. Caso os resultados obtidos sêjam inferiores ao padrão de qualidade, a hipótese é corroborada. Isto é, de fato a quantidade de gás oxigênio dissolvido na á gua estaria abaixo dos níveis ideais. A partir dos resultados, o grupo elabora suas conclusões a respeito do fenômeno estudado.
PENSE E RESPONDA
3 Considerando a situação apresentada, identifique as etapas da investigação realizada pelo grupo de pesquisadores.
4 Os resultados obtidos pela investigação científica permitem afirmar quê os animais do rio estão morrendo em decorrência da quantidade de gás oxigênio dissolvido na á gua? Converse com seus côlégas.
5 Quais outros questionamentos podem sêr realizados a partir dos dados obtidos? Converse com seus côlégas.

Página dezenove
Divulgação das investigações científicas
Os resultados e as conclusões obtidas em uma investigação científica são compartilhados com a comunidade de cientistas ao redor do mundo. Normalmente, isso é feito por meio da redação de um trabalho, no formato de artigo científico, quê resúme todas as etapas seguidas na investigação, e de sua publicação em revistas científicas especializadas nas respectivas áreas de pesquisa.
Basicamente, um artigo científico possui a estrutura descrita a seguir.
• Introdução: contextualização do tema pesquisado; apresentação da quêstão de pesquisa ou do problema investigado, além das hipóteses que foram testadas.
• Referencial teórico: discussão teórica a respeito do tema pesquisado, na qual se apresenta o quê já se conhece na área.
• Procedimentos metodológicos: descrição dos materiais e dos métodos quê foram utilizados na côléta e na análise dos dados.
• Apresentação e análise dos dados: apresentação, por meio de gráficos, tabélas, quadros etc., dos dados obtidos e como foram analisados, evidenciando os resultados aos quais se chegou.
• Discussão/Conclusões/Considerações finais: exposição das conclusões elaboradas, relacionando-as ou as contrapondo ao quê já se conhece na área.
• Referências: lista de referências bibliográficas utilizadas para a realização da pesquisa e para a redação do artigo.
Para serem publicados, os artigos precisam passar pela análise de outros pesquisadores da área, quê avaliam a pertinência da metodologia e a coerência dos resultados e das conclusões, processo chamado revisão por pares. Esse processo aumenta a confiabilidade dos conteúdos publicados nas revistas científicas.
Os resultados de uma pesquisa também podem sêr divulgados em eventos e congressos científicos, quê ocorrem periodicamente em nível regional, nacional ou internacional. Nesses eventos, promovem-se discussões a respeito da área pesquisada sôbi diferentes perspectivas trazidas por cada um dos participantes, quê podem sêr estudantes, professores, pesquisadores e pessoas da comunidade.
Os eventos científicos representam formas de se divulgar e ampliar os conhecimentos dos pesquisadores e da comunidade científica como um todo.

Página vinte
A ética na pesquisa
Ao realizarem as investigações científicas, os pesquisadores devem seguir um conjunto de preceitos éticos. Qualquer pesquisa deve sêr conduzida com rigor e transparência, sem falsificar procedimentos e/ou resultados, tampouco sem direcioná-los a conclusões quê favoreçam o interêsse próprio.
Além díssu, é proibido o plágio de informações, ou seja, a apropriação de resultados de outros autores em outros trabalhos. É necessário referenciar essas informações, indicando quê aquele resultado foi obtído originalmente por outra pessoa.
As pesquisas também precisam seguir as leis, resoluções e normas do país onde são conduzidas. Em pesquisas realizadas com sêres humanos, por exemplo, o participante tem direito a ter o acesso a todas as informações, como objetivos, procedimentos e possíveis riscos. Dessa forma, pode-se optar por querer ou não contribuir com a pesquisa, d fórma livre e consentida.
No entanto, o reconhecimento legal dos direitos dos participantes em pesquisas se deu apenas no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Durante essa guerra, milhões de pessoas foram mantidas presas em campos de concentração. Nesses locais, milhares de pessoas foram submetidas a experiências contra sua vontade. A violência de crimes referentes a procedimentos invasivos em prisioneiros da guerra trousse regulamentações sobre os direitos humanos, incluindo kestões sobre a participação de sêres humanos em pesquisas. Assim, em 1947, foi criado o cóódigo de Nuremberg, o primeiro documento a estabelecer um conjunto de preceitos éticos em pesquisas realizadas com sêres humanos. No ano seguinte, em 1948, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

PENSE E RESPONDA
6 Forme um grupo com seus côlégas e realizem uma pesquisa sobre os eventos históricos relativos à ética na pesquisa e aos direitos humanos, considerando os seguintes pontos.
• O cóódigo de Nuremberg foi criado durante o Tribunal de Nuremberg. O quê foi esse tribunal?
• Qual a importânssia da criação do cóódigo de Nuremberg para a pesquisa científica?
• Qual a importânssia da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos?
A partir dos resultados encontrados, produzam um podcast e o apresente à comunidade escolar.
Página vinte e um
Outros tipos de conhecimento
Desde tempos antigos, o sêr humano busca compreender e explicar os fenômenos quê presencia. Essas explicações podem sêr elaboradas a partir de diferentes perspectivas, quê em alguns casos não estão relacionadas com os conhecimentos científicos. Considere alguns exemplos de outros tipos de conhecimento presentes na ssossiedade.
Os conhecimentos empíricos são estabelecidos a partir da interação com o mundo, sem métodos sistemáticos. Por isso, não possuem embasamento teórico, em termos científicos. Um exemplo seria o conhecimento prático de agricultores sobre kestões quê envolvem atividades agrícolas, como as condições meteorológicas, as condições do solo e das plantas. Esses conhecimentos são construídos a partir de suas vivências.


Os conhecimentos filosóficos se relacionam a kestões subjetivas, como os valores quê orientam a ação dos indivíduos. Eles são elaborados a partir de questionamentos, da reflekção e da argumentação. As kestões éticas envolvidas na pesquisa com sêres humanos, estudadas anteriormente, são exemplos dêêsse tipo de conhecimento.
Os conhecimentos teológicos são sustentados na crença, sêndo assim, não podem sêr verificados ou comprovados. Eles são sustentados na conviquição pessoal e interpretação das tradições religiosas.
No caso de comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, caiçaras e ribeirinhos, a presença do fator cultural em seu conjunto de conhecimentos é bastante significativa. Essas comunidades apresentam entendimentos próprios sobre elemêntos e fenômenos quê ocorrem na natureza, denominados saberes tradicionais. Os saberes tradicionais foram construídos a partir da interação dêêsses grupos com o mundo ao seu redor, ao longo do tempo. Esses saberes envolvem hábitos e côstúmes, refletindo os modos de vida das comunidades quê os compõem. Além díssu, são passados entre as gerações, mantendo-se preservados e constituindo a identidade cultural dessas comunidades.
PENSE E RESPONDA
7 Forme um grupo com seus côlégas e realizem uma pesquisa sobre os saberes de uma comunidade tradicional brasileira a respeito de fenômenos quê ocorrem na natureza. Elaborem uma apresentação digital com os resultados de sua pesquisa, promovendo o respeito e a valorização dos saberes tradicionais.
Página vinte e dois
ATIVIDADES
1. Cite algumas características da Ciência.
2. Elabore um texto quê explique brevemente as etapas de uma investigação científica.
3. As pesquisadoras brasileiras êstér Cerdeira Sabino e Maria Augusta Arruda têm extensas carreiras como cientistas, com muitos feitos importantes. êstér Sabino fez parte de uma das equipes de cientistas quê se dedicaram ao estudo do material genético do novo coronavírus no Brasil, essencial para o entendimento e acompanhamento da doença. Maria Arruda foi coordenadora da parceria entre o Brasil e a Universidade de Nottingham para a descoberta de novos fármacos, e hoje é diretora do Laboratório Nacional de Biociências. Analise as fotografias e responda às kestões a seguir.

a) As pesquisadoras se encaixam no estereótipo de cientistas quê aparécem em filmes e dêzê-nhôs animados? Explique sua resposta.
b) Em grupo, façam uma pesquisa a respeito da contribuição de diferentes mulheres à Ciência ao longo da história, com destaque para cientistas brasileiras. Elaborem um vídeo de até três minutos com os resultados da pesquisa. Compartilhem o vídeo com os côlégas de turma.
4. Em uma conversa com os côlégas, um estudante disse quê as teorias científicas não podem sêr creditadas ou tidas como verdadeiras, já quê não passam de especulações feitas por cientistas. Você concórda com a afirmação do estudante? Justifique sua resposta.
5. Uma professora realizou um experimento com uma turma de estudantes para determinar as variáveis quê influenciam no crescimento de plantas. A variável testada na primeira aula foi a luz. Para o experimento, a professora separou quatro vasos de plantas: duas foram mantidas em uma sala escura, na ausência de luz; e as outras duas, sôbi a bancada da sala de aula, na presença da luz ambiente. Ao longo do experimento, as plantas receberam á gua nas mesmas quantidades e nos mesmos períodos do dia. Ao final, os estudantes observaram quê as plantas mantidas no escuro não cresceram tanto quanto as plantas mantidas na presença de luz.
A respeito do experimento, faça o quê é propôsto a seguir.
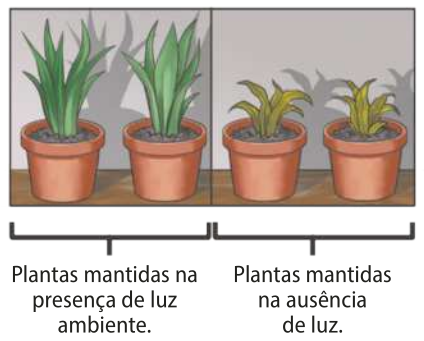
a) Construa uma questão de pesquisa para o experimento realizado pela professora.
b) Construa ao menos duas hipóteses quê podem sêr testadas por meio do experimento realizado pela professora.
c) Identifique os materiais necessários à realização do experimento.
d) Qual a possível conclusão feita pêlos estudantes, após a realização do experimento?
6. Diversas escolas possuem feiras de Ciências anuais, nas quais os estudantes de diversas idades apresentam resultados de investigações quê realizaram ao longo do ano. A respeito do assunto, faça o quê é propôsto a seguir.
a) Caso você apresentasse um trabalho em uma feira de Ciências, sobre o quê seria? O quê gostaria de pesquisar? Por quê?
b) Verifique a possibilidade de apresentar um trabalho na feira de Ciências de sua escola quê se relacione com sua resposta ao item anterior. Caso não exista feira de Ciências, faça uma pesquisa sobre o assunto e elabore uma proposta para sua execução. Apresente a proposta para a direção da escola e verifique sua viabilidade.
Página vinte e três
Saiba mais Cuidado: fêik news!
Muitas reportagens parecem ter cunho científico por serem iniciadas pela expressão"cientistas descobrem". No entanto, essa expressão não garante quê as informações veiculadas sêjam verdadeiras. Diante de reportagens como essas, é preciso analisar todo seu conteúdo, pois elas podem não ter sustentação científica e se tratar de fêik news.
As fêik news são informações falsas quê são divulgadas como verdadeiras com o objetivo de manipular e enganar as pessoas. O compartilhamento de fêik news contribui para a desinformação da população, ao provocar confusões e levantar dúvidas em relação aos fatos. Também póde impactar negativamente a vida das pessoas, influenciando-as a tomar decisões quê podem prejudicar sua saúde, seu trabalho, entre outras dimensões.
Para interromper o ciclo de compartilhamento de fêik news, é preciso saber identificá-las. A análise crítica póde auxiliar nessa tarefa. Sendo assim, ao fazer a leitura de uma notícia, é preciso avaliar alguns aspectos, como:
• Onde ela foi publicada? Jornais de alcance regional e nacional, páginas oficiais de universidades e revistas científicas são exemplos de fontes confiáveis de informação. Nesses veículos, as informações são analisadas por diferentes profissionais antes de serem divulgadas. Essa validação não ocorre em blogues pessoais e aplicativos de mensagens instantâneas, quê costumam trazer opiniões pessoais.
• Quem são os autores? Notícias verdadeiras geralmente trazem, d fórma explícita, seus autores, quê, normalmente, são profissionais devidamente habilitados. Em contrapartida, notícias falsas não indicam seus autores ou, quando o fazem, apresentam nomes fictícios.
• Quando ela foi publicada? Algumas fêik news trazem informações antigas como atuáis. No entanto, é possível quê essas informações estejam desatualizadas, não mais dizendo respeito ao contexto presente. Por isso, é importante verificar a data original de publicação.
Caso esses aspectos não estejam devidamente elucidados, a notícia póde não sêr verdadeira. Por isso, antes de passar adiante uma informação, questione-se: tênho certeza de quê ela é verdadeira? Se a resposta for não, não a compartilhe. Faça sua parte no combate às fêik news!

Atividade
1. Forme um grupo com os côlégas e elaborem um panfleto informativo quê promôva o combate às fêik news, apontando orientações sobre como identificá-las. O panfleto, quê póde sêr impresso ou digital, deve sêr distribuído à comunidade escolar por meio de rêdes sociais, aplicativos de mensagens ou imêious.
Página vinte e quatro
TEMA
2
Células
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
Você já se questionou sobre quantas células formam o corpo humano? Milhares, milhões, bilhões?
Um estudo realizado em 2023 apresentou dados sobre a quantidade de células quê constituem o corpo humano. Analise alguns resultados dêêsse estudo.
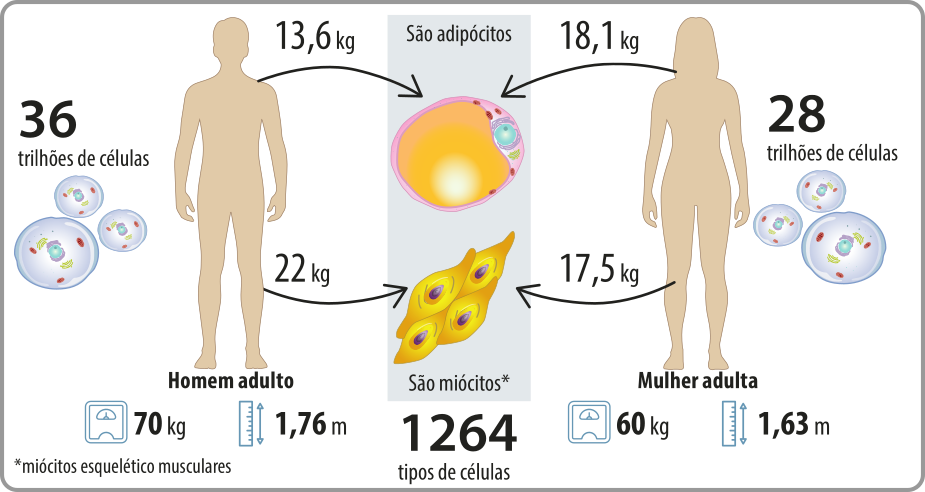
Elaborado com base em: HATTON, Ian A. éti áu. The human cell count ênd size distribution. PNAS, [s. l.], v. 120, n. 39, set. 2023. Disponível em: https://livro.pw/dyvmr. Acesso em: 12 set. 2024.
Os sêres vivos possuem características quê os distinguem da matéria sem vida. Entre estas caraterísticas estão as células. Assim, o estudo das células permite um melhor entendimento sobre os sêres vivos, como será visto neste Tema.
Teoria celular
Diversos cientistas colaboraram com a construção do conhecimento sobre a composição dos sêres vivos. No ano de 1665, o cientista inglês róbert rúki (1635-1703) publicou o livro Micrographia, com ilustrações de materiais e sêres vivos observados ao microscópio por ele fabricado. Entre as ilustrações, estava a representação da estrutura da cortiça observada ao microscópio. A observação da cortiça deu o nome à célula, quê quer dizêr pequena cela (ou quarto), devido aos pequenos compartimentos quê foram observados.
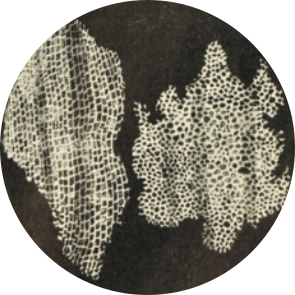
PENSE E RESPONDA
1 Adipócitos e miócitos são tipos de células. Você sabe em quais locais do corpo humano elas podem sêr encontradas e quais são as funções quê dêsempênham?
2 Você conhece o nome de algum outro tipo de célula do corpo humano? Converse com os côlégas sobre isso.
3 Qual é o número mínimo de células necessário para formár um sêr vivo?
Página vinte e cinco
Após ter acesso aos trabalhos de róbert rúki, o construtor de lentes neerlandês Antonie vã Leeuwenhoek (1632-1723) desenvolvê-u interêsse pela fabricação de microscópios. No ano de 1674, Leeuwenhoek fez a primeira observação de uma célula viva em um microscópio quê ampliava a imagem de uma amostra em cerca de 300 vezes, um feito espetacular para a época.
No século XIX, o botânico alemão Matthias Schleiden (1804-1881) e o fisiologista alemão Theodor Schwann (1810-1882) propuseram uma teoria quê estabelecia quê todos os tecídos vegetais e animais eram formados por células. Ela ficou conhecida por teoria celular e passou por diversas modificações com o avanço dos estudos.
Atualmente, a teoria celular estabelece quê todos os sêres vivos são formados por células, e quê elas são as unidades básicas estruturais e funcionais dos sêres vivos. Isso significa dizêr quê a célula é a menor unidade quê compõe a estrutura de um sêr vivo e a menor unidade quê desempenha as funções necessárias para sua existência.
DIÁLOGOS DA NATUREZA
êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Física. Mais informações nas Orientações para o professor.
Microscópios e células
Os microscópios ampliam imagens e aumentam o pôdêr de observação dos sêres humanos, possibilitando observar a imagem ampliada de um objeto com dêtálhes definidos, isto é, nítidos. Por exemplo, o sêr humano póde enxergar com nitidez somente objetos de até 0,1 mm. Isso significa quê dois pontos quê estão a uma distância inferior a 0,1 mm são vistos apenas como um ponto. Já uma célula típica animal tem de 0,01 a 0,02 mm de diâmetro, sêndo impossível vê-la a olho nu.
Existem, basicamente, dois principais tipos de microscópios: o óptico (A) e o eletrônico (B).

Vibrio cholerae ôbitída por microscópio óptico (aumento aproximado de 670 vezes; colorida artificialmente).
Os microscópios ópticos são formados por um conjunto de lentes quê ampliam a imagem das amostras com nitidez em até cerca de 1.000 vezes na maioria dos modelos, permitindo observar dêtálhes de 0,0002 mm. Nesse tipo de microscópio, feixes de luz atravessam o material a sêr analisado, sêndo direcionados para um sistema de lentes de vidro quê amplia a imagem. Esse tipo de microscópio permite observar organismos vivos, suas células e vários dêtálhes de seus componentes.

Os microscópios eletrônicos apresentam capacidade de ampliação de aproximadamente entre 200.000 e 600.000 vezes, tornando possível observar dêtálhes de até 0,000005 mm. No lugar do feixe de luz, esses microscópios possuem um sistema de emissão de feixe de elétrons, o qual atravessa o material a sêr analisado e, posteriormente, forma uma imagem ampliada. Esse tipo de microscópio não permite a observação de organismos vivos.
Página vinte e seis
Níveis de organização biológica
Atualmente, estima-se quê haja na Terra de 1 a 6 bilhões de espécies de sêres vivos. Mais de 70% dessas espécies apresentam somente uma célula, sêndo chamados de unicelulares. O restante apresenta mais de uma célula e são chamados de organismos pluricelulares.
Os sêres vivos podem sêr organizados em diferentes níveis biológicos: de hátomus até organismos. Como exemplo, o esquema a seguir representa os níveis de organização do corpo humano.
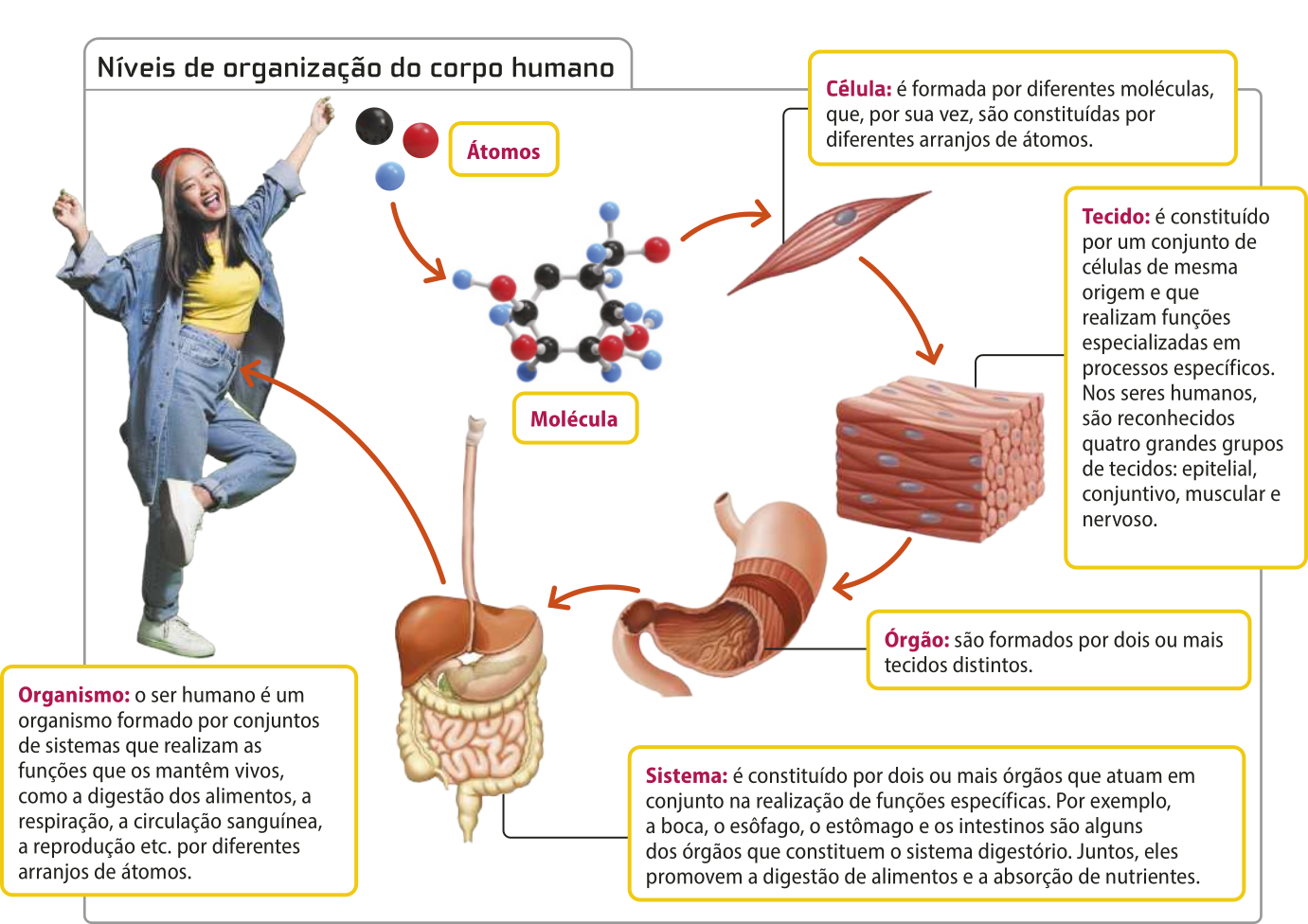
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 30 do pdf.
Características gerais das células
Nem todas as células possuem material genético, como as hemácias.
A maioria das células apresenta algumas características em comum, como a presença de material genético, cito plasma e membrana plasmática.
O material genético armazena informações quê se reférem ao funcionamento da célula. Ele se apresenta sôbi a forma de uma molécula de dê ene há (sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico).
O cito plasma é preenchido por um fluido rico em á gua, denominado citosol, no qual estão imérsas as organelas celulares. Nele, ocorre uma série de reações químicas.
A membrana plasmática separa o interior das células do meio extracelular.
Essas estruturas serão estudadas com mais dêtálhes posteriormente.
Página vinte e sete
Tipos celulares
As células podem sêr distinguidas em, basicamente, dois padrões: células procarióticas e células eucarióticas. O formato, as estruturas e os componentes podem variar dentro de cada um dêêsses padrões. A seguir, são apresentados um exemplo de célula procariótica e dois exemplos de células eucarióticas.
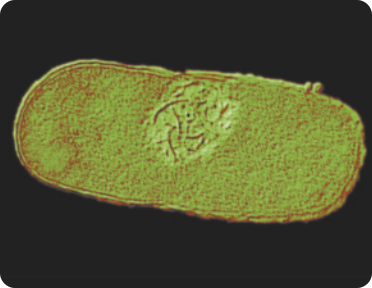
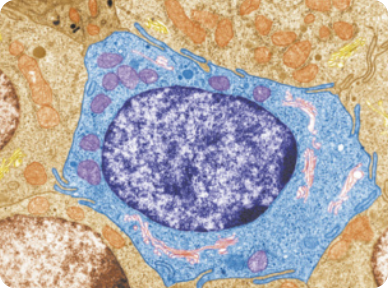
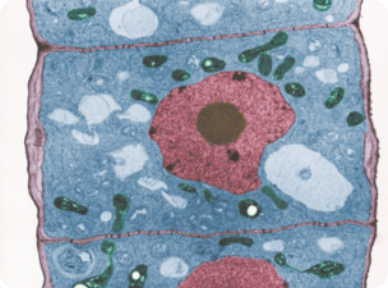
Adiante, serão abordadas, por meio de modelos generalizados, as principais diferenças entre as células procarióticas e as células eucarióticas.
Célula procariótica
As células procarióticas não apresentam núcleo delimitado por membrana nem estruturas membranosas em seu interior. Os sêres formados por células procarióticas são denominados procariontes, como as bactérias.
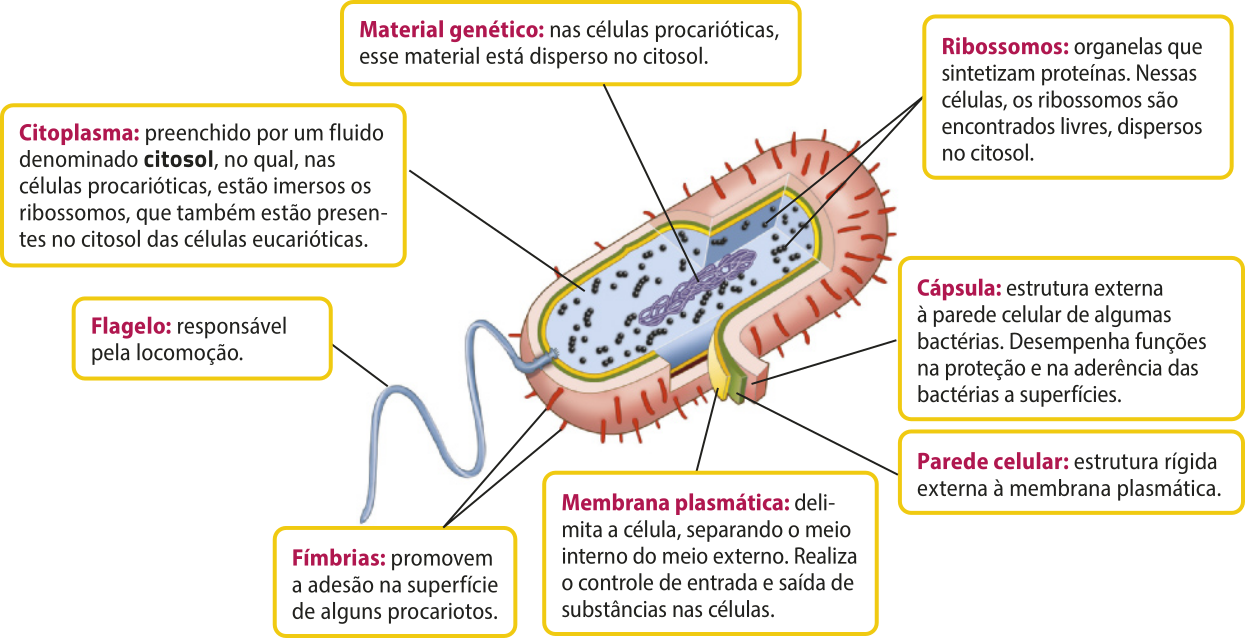
Elaborada com base em: REECE, diêine. B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 97.
Página vinte e oito
Célula eucariótica
As células eucarióticas apresentam um núcleo organizado, delimitado por uma membrana, e estruturas membranosas em seu interior. Os sêres formados por células eucarióticas são denominados eucariontes, como os protozoários, as algas, os fungos, os animais e as plantas. Como exemplo, analise as funções das principais estruturas presentes em uma célula animal generalizada.
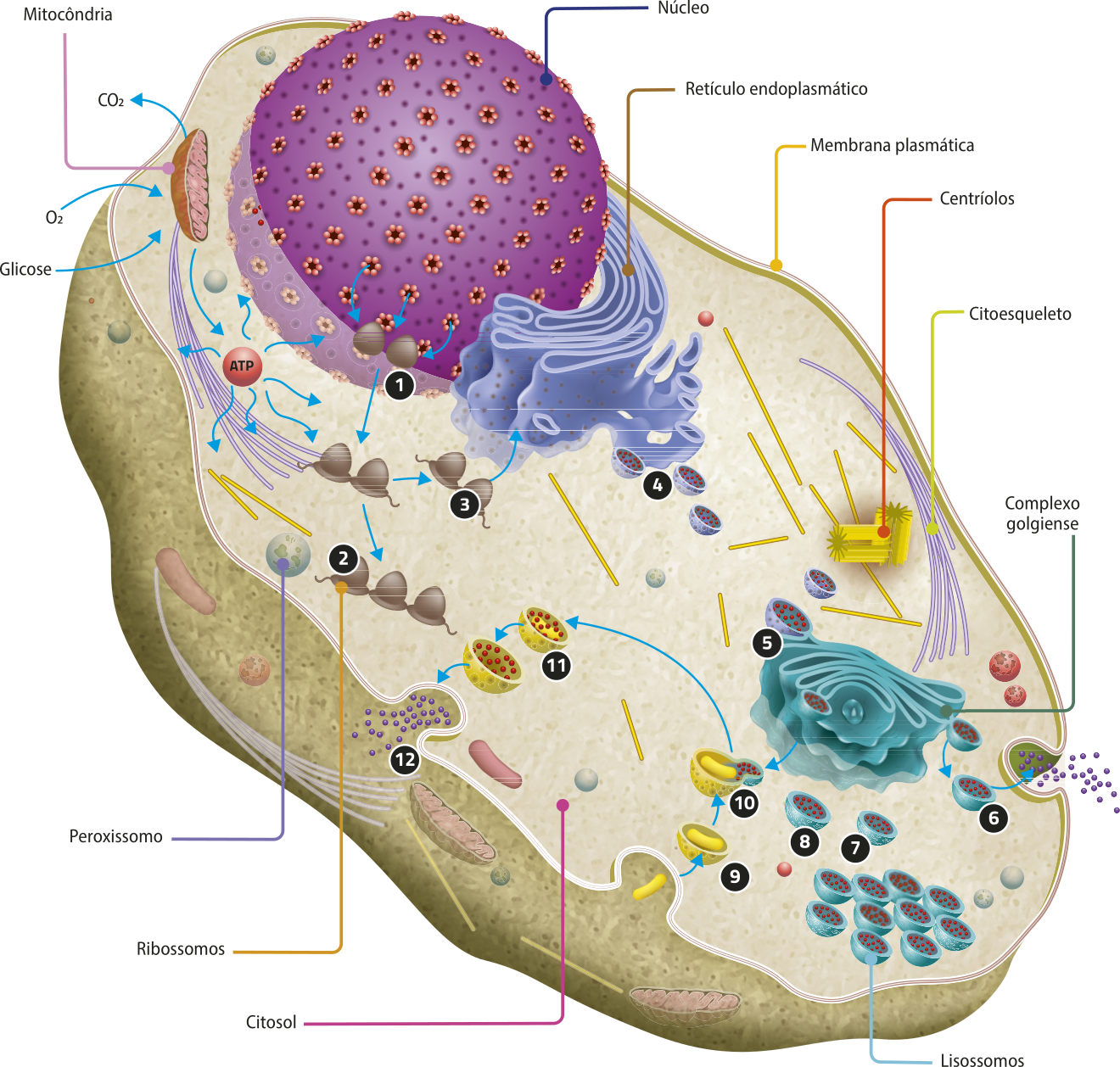
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 100-109.
Página vinte e nove
Membrana plasmática
Apresenta constituição lipoproteica e reveste a célula, a delimitando-a e controlando o fluxo de entrada e saída de substâncias.
Citosol
Material onde ficam imérsas as organelas.
Citoesqueleto
Rede de filamentos longos e finos de proteínas presente no cito plasma de células eucarióticas. Sustenta e organiza o cito plasma, mantendo a forma da célula e possibilitando o deslocamento de organelas e vesículas em seu interior.
Núcleo
Apresenta em seu interior o material genético (dê ene há). Ele é delimitado pelo envoltório nuclear.
Centríolos
Formam fibras durante a divisão celular, às quais se ligam os cromossomos.
Ribossomos
Nas células eucarióticas, são produzidos no núcleo da célula e transportados ao cito plasma 1, onde podem sêr encontrados livres 2, ligados à membrana externa do núcleo celular ou à membrana do retículo endoplasmático granular 3.
Retículo endoplasmático
Rede de túbulos e sacos achatados cujas membranas são contínuas ao envoltório nuclear. Uma porção do retículo apresenta ribossomos aderidos à sua membrana e é denominada retículo endoplasmático granular. Essa porção está relacionada à síntese e à secreção de proteínas, quê após produzidas são armazenadas em vesículas 4. A porção do retículo quê não apresenta ribossomos aderidos à membrana é denominada retículo endoplasmático agranular e está relacionada a diversas atividades, como síntese de lipídios e metabolismo de carboidratos.
complékso golgiense
Organela quê se relaciona ao processo de modificação, de armazenamento, de transporte e de distribuição de proteínas provenientes do retículo endoplasmático. Para tanto, as vesículas provenientes do retículo se fundem à membrana do complékso golgiense 5 e libéram seu conteúdo em seu interior, onde serão modificadas. Após a modificação das proteínas, elas são empacotadas em vesículas, quê podem sêr eliminadas da célula 6, permanecer dentro dela 7 ou formár os lisossomos 8.
Lisossomos
Organelas relacionadas à digestão intracelular de substâncias englobadas pela célula ou de material da própria célula. Na digestão intracelular, as substâncias englobadas são empacotadas em vesículas 9, nas quais os lisossomos se fundem 10 e libéram enzimas digestivas 11. As moléculas resultantes da digestão podem sêr reaproveitadas pela célula ou sêr eliminadas 12.
Peroxissomo
Organela associada à eliminação de compostos tóxicos.
Mitocôndria
Organela na qual ocorrem as etapas finais da respiração celular aeróbia, processo quê possibilita a obtenção de energia utilizada pelas células.
Página trinta
As células eucarióticas vegetais apresentam muitas estruturas similares às células eucarióticas animais. Contudo, comparativamente, apresentam estruturas exclusivas, como os plastos e a parede celular.
A seguir, analise as funções das principais estruturas presentes em uma célula vegetal generalizada.
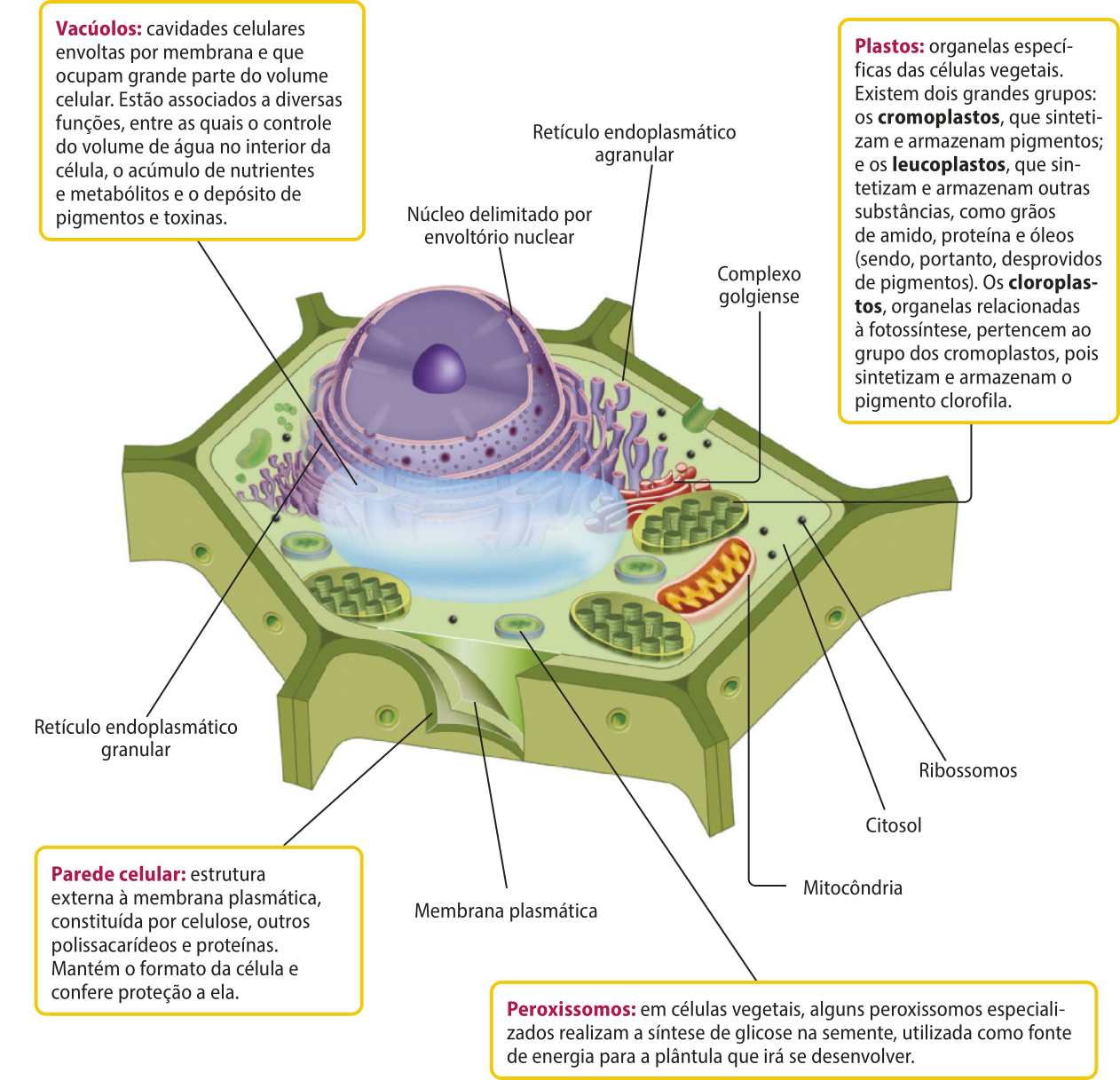
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 101.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• Que tal interagir com a representação de uma célula em 3D? Para isso, acéçi o línki a seguir.
Células virtuais. Publicado por: Espaço Interativo de Ciências. Disponível em: https://livro.pw/vgqxk. Acesso em: 13 ago. 2024.
Página trinta e um
A membrana plasmática e o transporte de substâncias
A membrana plasmática é responsável pela entrada e pela saída de á gua e de outras substâncias nas células, contrôle denominado permeabilidade seletiva. Outra função desempenhada pela membrana plasmática é o reconhecimento de outras células e de moléculas por meio, por exemplo, de sinais químicos.
Em 1972, o físico-químico Seymour Jônathan Singer (1924-2017) e o bioquímico Garth L. Nicolson (1943-), ambos estadunidenses, propuseram quê a membrana plasmática é formada por duas camadas de fosfolipídios, nas quais estão presentes proteínas. A maioria dêêsses componentes está em constante movimento, o quê confere fluidez à membrana. Esse modelo ficou conhecido como modelo de mosaico fluido.
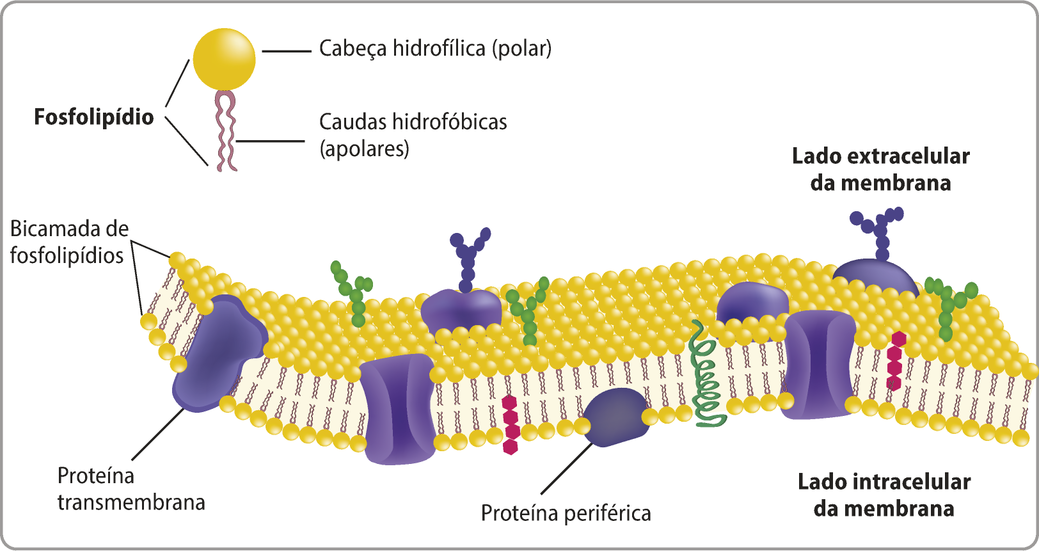
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 125.
Os fosfolipídios são os lipídios mais abundantes da membrana. Essas moléculas possuem uma região hidrofílica, ou seja, quê interage com a á gua, e uma parte hidrofóbica, quê não interage com a á gua. A parte hidrofóbica está voltada para o interior da dupla camada.
Com relação às proteínas, existem dois tipos quê podem estar associadas à bicamada fosfolipídica: as proteínas integrais, entre as quais estão as proteínas transmembranas, quê atravessam ambos os lados da bicamada, e as proteínas periféricas, quê estão ligadas a uma das superfícies da membrana. As proteínas são importantes para a entrada e a saída de substâncias nas células, e também para a comunicação entre elas.
A capacidade quê a membrana plasmática tem de transportar seletivamente substâncias para o meio interno ou externo da célula póde, ou não, ter um gasto energético.
Os transportes quê ocorrem sem gasto de energia são chamados de transporte passivo e ocorrem a favor de um gradiente de concentração. Nesse caso, tendem a igualar a concentração da substância no interior da célula e no meio externo, procurando atingir um equilíbrio entre as concentrações. São exemplos: a difusão simples, a osmose e a difusão facilitada.
Já os transportes quê demandam gasto energético são chamados de transporte ativo e ocorrem contrariamente a um gradiente de concentração. Os processos de transporte ativo tendem a manter a diferença de concentração da substância entre o interior da célula e o meio externo. Um exemplo díssu é a bomba de sódio-potássio, quê será abordada adiante.
Página trinta e dois
Difusão simples
A difusão simples é caracterizada pelo movimento de substâncias de uma região de maior concentração de soluto para uma região de menor concentração, sem gasto de energia. Moléculas pequenas solúveis em lipídios, como o gás carbônico e o gás oxigênio, atravessam a membrana plasmática por meio da difusão simples.
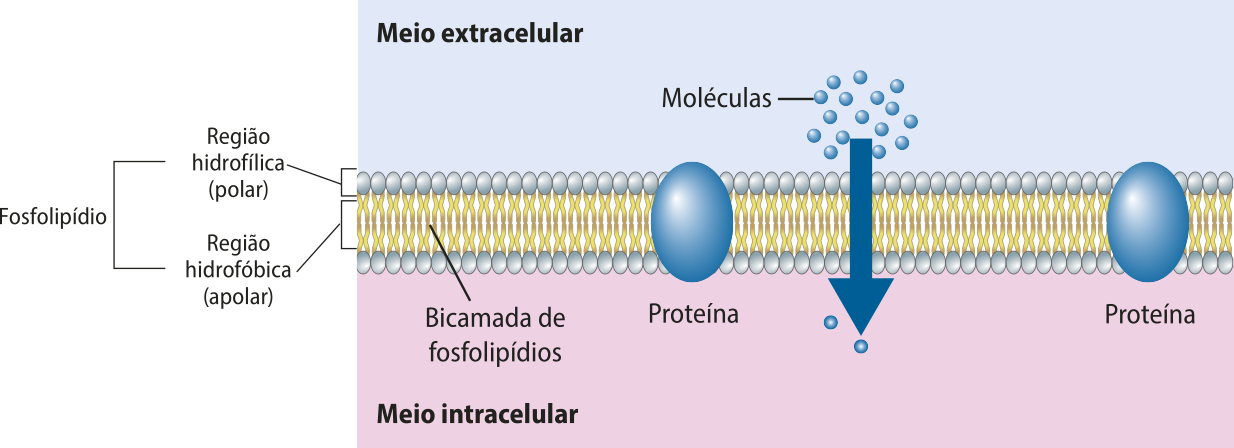
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 135.
Osmose
A osmose é caracterizada pelo movimento de moléculas de á gua (solvente) de uma região de menor concentração de soluto para uma região de maior concentração por meio de uma membrana semipermeável. Nesse caso, a membrana possibilita apenas a passagem de á gua, quê ocorre devido à diferença de concentração de solutos, sem gasto de energia.
Como exemplo, analise o esquema a seguir.
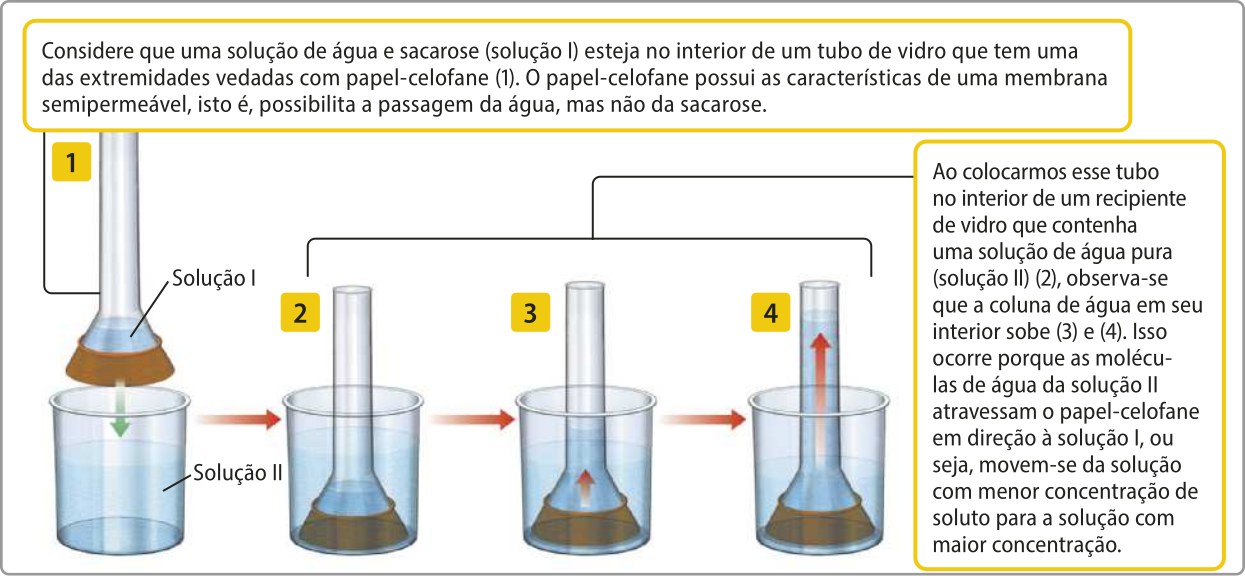
Reivem, píter Hamilton; EVERT, rei Franklin; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2001. p. 80.
Página trinta e três
DIÁLOGOS DA NATUREZA
êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Química. Mais informações nas Orientações para o professor.
A osmose e as células
Se achar interessante, comente com os estudantes quê o fenômeno ocorrido em hemácias quê perdem á gua para um meio hipertônico é chamado crenação.
O efeito da osmose na célula varia conforme o tipo celular e o meio em quê está inserida. Uma célula animal, como a hemácia, por exemplo, não sofre alteração quando colocada em meio isotônico – solução com concentração de soluto igual à do meio intracelular. Já em meio hipotônico – solução com concentração menor de soluto em relação ao meio intracelular – a hemácia incorpóra á gua e incha, o quê póde levar ao rompimento da membrana plasmática. Em meio hipertônico – solução com maior concentração de soluto em relação ao meio intracelular –, a hemácia perde á gua para o meio e encolhe.
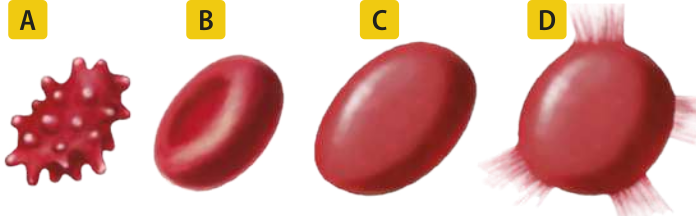
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr J.; dérikson, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 50.
Uma célula vegetal também incorpóra á gua em uma solução hipotônica. Contudo, devido à presença da parede vegetal, a célula não se rompe. Já em uma solução hipertônica, a célula vegetal perde á gua, mas seu formato se mantém praticamente inalterado devido à rigidez da parede vegetal.
Difusão facilitada
A difusão facilitada é caracterizada pelo movimento de substâncias de uma região de maior concentração de soluto para uma região de menor concentração, com o auxílio de proteínas. Esse transporte se dá sem o gasto de energia.
A difusão facilitada póde ocorrer de diferentes formas, dependendo da molécula a sêr transportada. Analise o esquema a seguir.
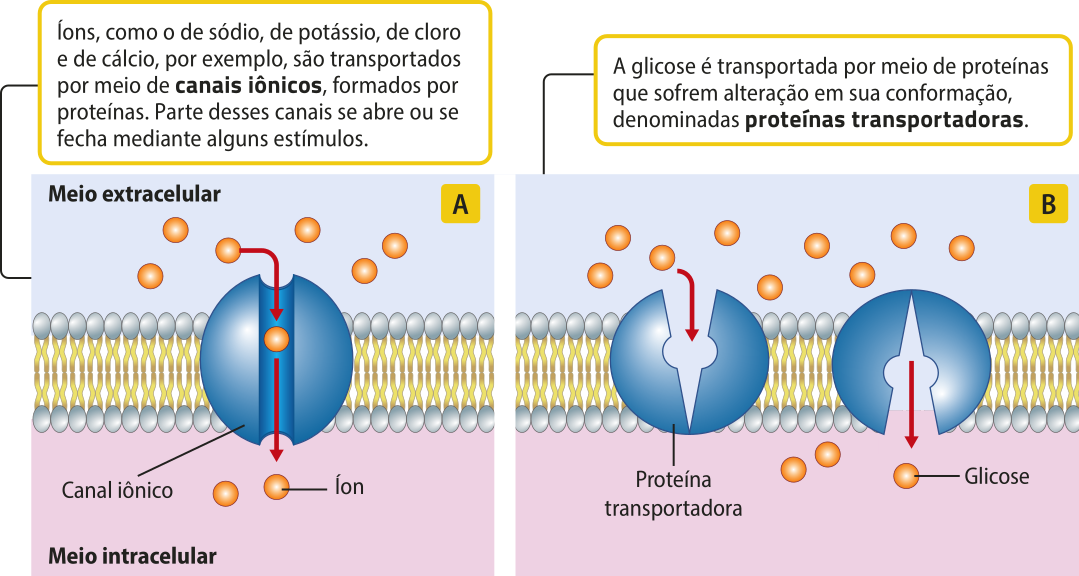
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 133.
Página trinta e quatro
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• Utilize o simulador a seguir para estudar a difusão de íons pela membrana plasmática por meio de canais iônicos. Uma parte dos canais fica permanentemente aberta, e outra parte, chamada de canais comporta, precisa sêr aberta para possibilitar a passagem dos íons. Simule diferentes condições de concentração de íons nos meios separados pela membrana e avalie a mudança na concentração de cada um deles conforme a difusão ocorre.
Canais da membrana. Publicado por: PhET Interactive Simulations. Disponível em: https://livro.pw/jafuk. Acesso em: 15 set. 2024.
Bomba de sódio-potássio
A bomba de sódio-potássio é um exemplo de transporte ativo, caracterizado pelo movimento de íons de sódio (Na+) e íons de potássio (K+) de uma região de menor concentração para uma região de maior concentração, com o auxílio de algumas proteínas de transporte quê utilizam energia. Considere como exemplo a atuação da bomba sódio-potássio em células nervosas.
Nessas células, a concentração de íons de sódio (Na+) é maior no meio extracelular, e a concentração de íons de potássio (K+) é maior no meio intracelular. Esses íons atravessam a membrana plasmática por difusão facilitada a favor de seu gradiente de concentração, tendendo a equilibrar suas concentrações.
Contudo, a diferença de concentração dêêsses íons se mantém, pois eles são constantemente transportados contra seu gradiente de concentração por meio de proteínas específicas quê utilizam energia. Esse processo é representado pelo esquema a seguir.
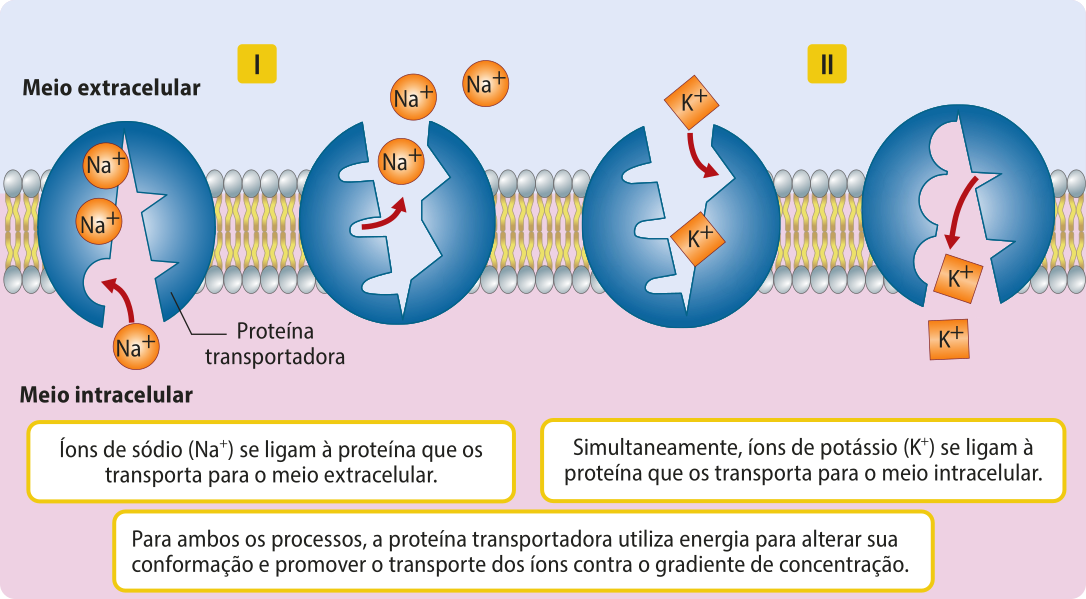
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 135.
PENSE E RESPONDA
4 A digoxina é um compôzto obtído de uma planta popularmente chamada de dedaleira (Digitalis purpurea). Ele é utilizado para o tratamento de cértas condições como a insuficiência cardíaca. Seu efeito é inibir a ação da bomba de sódio-potássio. Nessa situação, considerando quê a célula mantenha seus canais iônicos abertos para os íons de sódio e de potássio, o quê aconteceria com a concentração intracelular e extracelular dêêsses íons?
Página trinta e cinco
ATIVIDADES
1. Quais características são comuns a células procarióticas e eucarióticas?
2. Explique o modelo de mosaico fluido, propôsto pelo físico-químico Seymour Jônathan Singer e o bioquímico Garth L. Nicolson para descrever a estrutura da membrana plasmática.
3. Indique os níveis de organização biológica do corpo humano.
4. Considere quê você precise auxiliar um técnico de laboratório a identificar amostras de células em um microscópio óptico. Ao observar diferentes preparos de amostras de dois tipos celulares (X e Z), o técnico apontou as seguintes características:
• Tipo celular X: ausência de parede celular e presença de núcleo delimitado por um envoltório nuclear.
• Tipo celular Z: presença de parede celular.
Diante das características apontadas pelo técnico, faça o quê se propõe a seguir.
a) É possível afirmar quê uma das células é eucariótica e a outra, procariótica? Explique sua resposta.
b) Em seu caderno, faça um esquema quê represente a célula X, identificando suas principais estruturas.
c) Considere quê o técnico de laboratório utilizou reagentes químicos e conseguiu identificar quê a parede celular da célula Z era formada principalmente por celulose. Faça um esquema em seu caderno quê represente essa célula, identificando suas principais estruturas.
5. Uma professora de Ciências da Natureza retirou uma pequena película de uma cebola, corou a amostra e a visualizou em um microscópio óptico. A imagem ôbitída é apresentada a seguir.
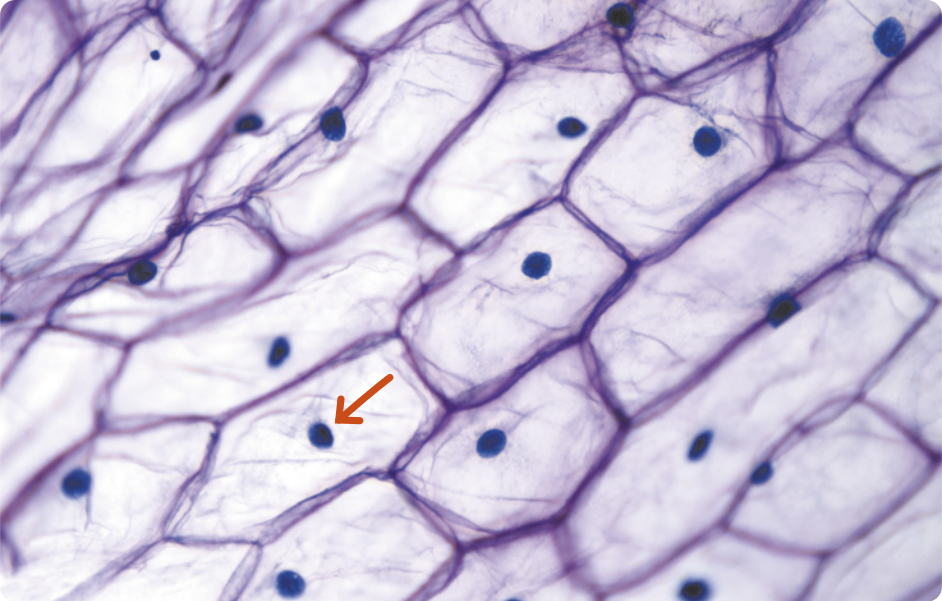
Considerando a imagem apresentada, responda aos itens a seguir.
a) O corante utilizado pela professora cora em azul as moléculas quê armazenam informações sobre as características das células da cebola. Com base nessa informação, responda: quê molécula foi corada e quê estrutura da célula está sêndo apontada pela seta? Justifique sua resposta.
b) Cite o nome e indique a função de uma organela presente nas células da cebola, mas ausente em células humanas.
Página trinta e seis
6. Uma professora de Biologia realizou a seguinte atividade prática durante as aulas. Em um recipiente A com á gua, colocou uma fô-lha de alface. Em um recipiente B com á gua e sal de cuzinha, colocou outra fô-lha de alface. Observe o aspecto das fô-lhas de alface após alguns minutos.
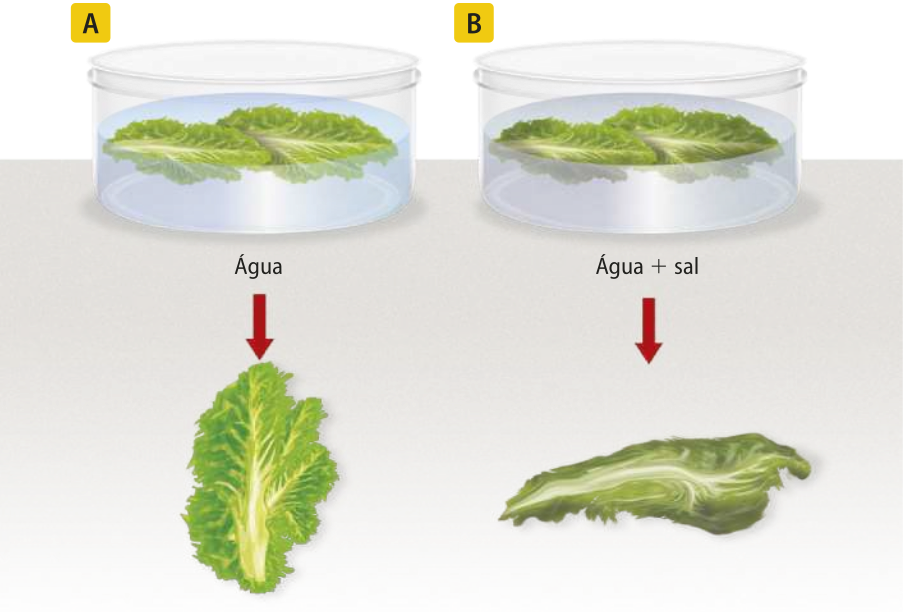
ALEX SILVA
Com base nos resultados obtidos na atividade prática descrita, faça o quê se propõe a seguir.
a) Explique por quê as fô-lhas de alface murcharam ao serem mantidas em uma solução de á gua e sal de cuzinha.
b) Relacione os resultados da atividade prática ao fato de os restaurantes manterem saladas expostas sem tempêro, permitindo quê o cliente as tempere apenas no ato do consumo.
7. Analise a fotografia a seguir e responda às kestões.
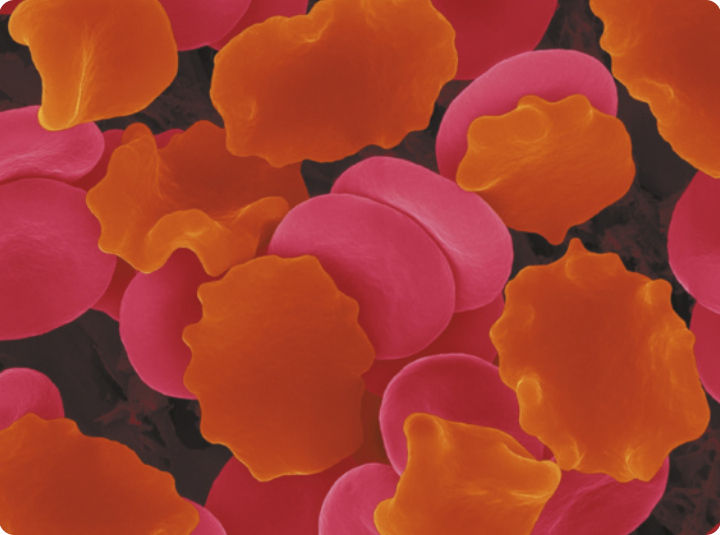
a) Embora existam hemácias com formato alterado, nenhuma delas está com sua membrana rompida. Com base nessa informação, explique em qual tipo de solução essas células estão imérsas.
b) Um pesquisador gostaria de obtêr uma imagem de outra amostra de células quê apresentasse o efeito contrário do quê é mostrado nessa fotografia. O quê seria necessário ele fazer? Por quê?
Página trinta e sete
Oficina científica
Visualizando células
A maior parte das células possui dimensões em escalas microscópicas, não podendo sêr vistas a olho nu. Para visualizá-las, são necessárias lentes capazes de realizar a ampliação da imagem observada, como as utilizadas em microscópios. Uma gota de á gua também póde atuar como uma lente de aumento. Mas, será quê seu pôdêr de ampliação é suficiente para permitir a visualização de células?
Materiais
• Seringa com 5 mL de á gua coletada do ambiente;
• Ponteira laser de, no mássimo, 5 miliwatts;
• Alguns livros;
• Régua;
• Dois elásticos;
• Sala com pouca iluminação.
Procedimentos
• Sobre uma mesa, posicione a seringa com a á gua coletada verticalmente entre duas pilhas de livros, de modo quê sua abertura fique apontada para baixo, em direção à mesa. Mantenha essa estrutura a 2 metros de distância de uma parede de côr clara.
• Aperte o êmbolo da seringa suavemente, até quê se forme uma gota em sua ponta. A gota deve ficar suspensa pela abertura da seringa.
• Com os prendedores elásticos, prenda o laser à régua, coloque-a apoiada sobre um livro e a posicione a aproximadamente 3 centimetros de distância da gota de á gua.
• Apague a luz da sala, posicione os elásticos de maneira quê mantenham pressionado o botão de ligar do laser, e regule sua posição de maneira quê seu feixe de luz incida sobre a gota suspensa pela seringa, formando uma imagem na parede. Observe o quê ocorre e anote os resultados em seu caderno.
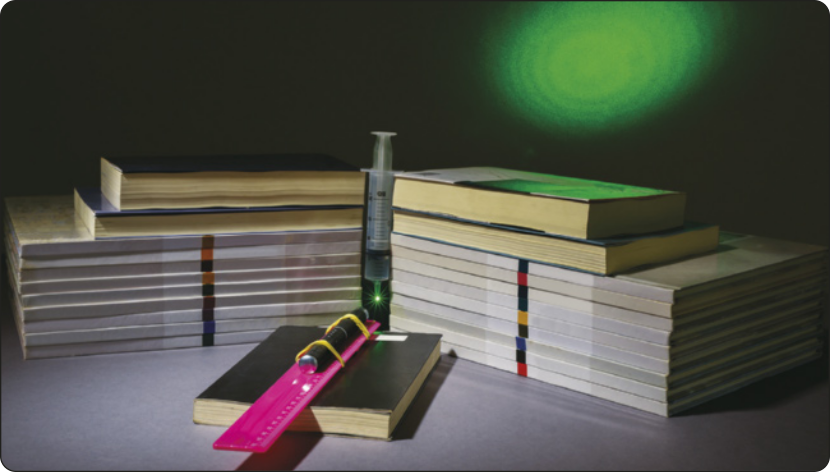
Utilize luvas para coletar e manipular a á gua. Cuidado ao manusear o laser: nunca apontá-lo na direção dos olhos.
ATIVIDADES
1. A partir dos resultados obtidos, responda ao questionamento inicial e justifique sua resposta.
2. Esta atividade prática permite concluir quê existe vida em todos os ambientes aquáticos do planêta? Justifique sua resposta.
3. Forme um grupo com seus côlégas. Cada um deve elaborar dois quêstionamentos que devem sêr respondidos pêlos demais. Os questionamentos devem sêr referentes à atividade prática e/ou a assuntos relacionados.
4. Elabore hipóteses e teste-as com o equipamento construído. Em seguida, apresente os resultados e as conclusões obtidas pelo grupo para a turma.
Página trinta e oito
TEMA
3
Núcleo e divisões celulares
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
Analise os cartazes a seguir.

Campanhas de saúde dêsempênham um papel fundamental na promoção da saúde individual e da saúde da população como um todo. Algumas dessas campanhas são realizadas em meses específicos, anualmente, de modo a conscientizar a população brasileira sobre cértas doenças, como alguns tipos de câncer.
O termo câncer corresponde a um conjunto de doenças quê têm como característica comum o crescimento desordenado de células. Esse padrão anormal de divisão celular póde resultar na formação de tumores, quê são capazes de invadir diferentes tecídos e órgãos.
De modo geral, o câncer é resultado de alterações no material genético das células, em trechos quê fornecem instruções de como elas devem crescer e se dividir. Neste Tema, serão abordadas algumas características do núcleo celular e as principais etapas envolvidas nos processos de divisão celular.
PENSE E RESPONDA
1 Você conhece os objetivos da campanha Outubro Rosa? E da campanha Novembro Azul? Converse com os côlégas sobre essas duas campanhas.
2 Em alguns casos de câncer, costuma-se usar a expressão “o tumor se espalhou”. Considerando quê o câncer tem relação com problemas de multiplicação das células, como você explicaria essa expressão?
Página trinta e nove
Núcleo celular
A maioria das células eucarióticas apresenta um núcleo celular definido, onde está localizada grande parte das informações genéticas responsáveis por regular as atividades celulares. O núcleo celular é constituído basicamente por um envoltório nuclear, pelo nucleoplasma, pelo nuclé o lo e pela cromatina.
O envoltório nuclear, também chamado carioteca, envolve e separa o material genético do cito plasma. Ele apresenta duas membranas de lipídios, em quê a membrana externa (voltada para o citoplasma) contém ribossomos aderidos. Suas membranas são uma continuidade do retículo endoplasmático, quê se estende do núcleo ao cito plasma da célula.
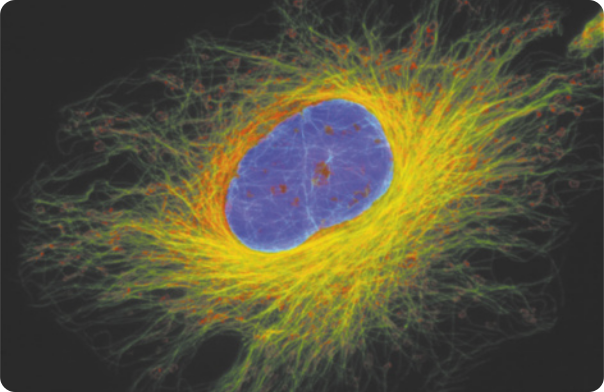
Outra característica do envoltório nuclear é a presença de póros quê possibilitam a passagem de substâncias para seu interior ou para o cito plasma.
O nucleoplasma é uma solução quê preenche os espaços do interior do núcleo. Essa solução é constituída de á gua, íons, metabólitos, moléculas de érre êne há, enzimas e outras substâncias.
O nucléolo é uma estrutura localizada no interior do núcleo, envolvida na produção de ribossomos.
A cromatina corresponde à forma quê o material genético se apresenta no interior do núcleo celular. Ela compreende um complékso formado por associações entre a molécula de dê ene há e proteínas específicas. Essas proteínas estão relacionadas com a manutenção da estrutura da cromatina e com o contrôle da atividade do dê ene há.
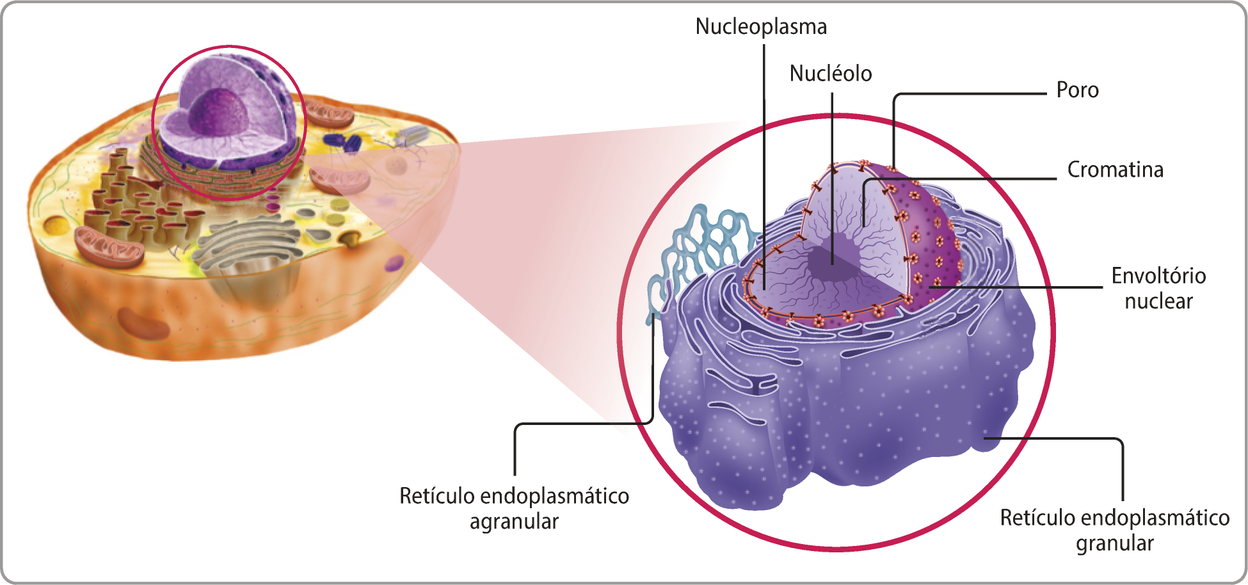
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 103.
Página quarenta
Material genético
No interior do núcleo celular, o material genético apresenta-se sôbi a forma de cromatina. A unidade básica da cromatina é o nucleossomo, quê consiste no dê ene há enrolado ao redor de um conjunto de proteínas denominadas histonas.
A interação entre as histonas promove o enovelamento do dê ene há, formando fibras de cromatina. Em uma fase um pouco mais condensada, as fibras de cromatina formam alças. Em determinados momentos da vida da célula, como durante sua divisão, a cromatina assume uma forma bastante condensada, denominada cromossomo.
O cromossomo assume seu maior nível de condensação em uma das fases da divisão celular, quando recebe o nome de cromossomo metafásico. Nessa fase, ele encontra-se duplicado e, por isso, apresenta dois filamentos idênticos denominados cromátides, unidos por uma região especializada denominada centrômero.
O número de cromossomos nas células é variável entre as espécies. No caso da espécie humana, nas células somáticas, ou seja, naquelas quê formam o organismo, esse número equivale a 46. Ele é resultado da herança de dois conjuntos cromossômicos: um de origem paterna e outro de origem materna. Por isso, as células quê formam o organismo humano são chamadas diploides, e seu número de cromossomos póde sêr representado por 2n, quê equivale a 46 cromossomos. Na maioria das células somáticas humanas, cada cromossomo se apresenta em par, d fórma e tamãnho similares entre si, sêndo chamados cromossomos homólogos.
Por outro lado, as células reprodutivas (ou gametas) apresentam apenas um único conjunto cromossômico, ou seja, contam com apenas um cromossomo de cada par. Essas células são denominadas haploides, e seu número de cromossomos póde sêr representado por n, quê, na espécie humana, equivale a 23 cromossomos. Somente após a união do gameta masculino (n) com o gameta feminino (n), forma-se um novo indivíduo (2n), com dois conjuntos completos de cromossomos, um de cada progenitor.
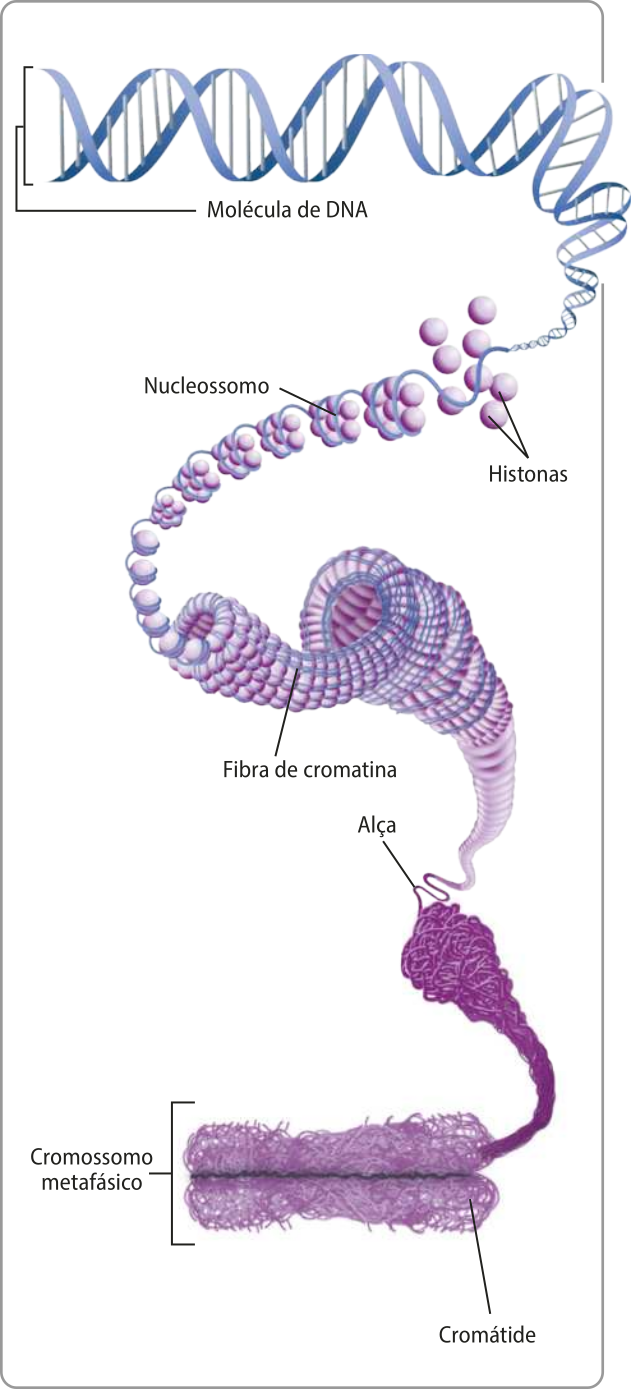
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 328-329.
Página quarenta e um
Divisão celular
Uma das características dos sêres vivos é a capacidade de crescer e se desenvolver. Para tanto, é preciso quê as células quê compõem o organismo se multipliquem e transmitam seu material genético às células quê originarem. Isso ocorre por meio da divisão celular denominada mitose. A mitose intégra o ciclo celular, isto é, o tempo de vida de uma célula desde sua formação até sua divisão em outras duas células-filhas.
Outra característica dos sêres vivos é a capacidade de se reproduzir, gerando descendentes. Para tanto, em espécies de reprodução sexuada, é preciso quê sêjam produzidas células reprodutivas ou gametas. Isso ocorre por meio da divisão celular denominada meiose.
Ciclo celular
Nos eucariontes, o ciclo celular póde sêr dividido em duas etapas: a intérfase e a fase mitótica. A intérfase compreende três fases, G1, S e G2, ao longo das quais ocorre a preparação da célula para a fase mitótica, etapa quê culmina com a divisão dessa célula. Analise, no esquema a seguir, os principais eventos quê ocorrem em cada uma dessas fases do ciclo celular.
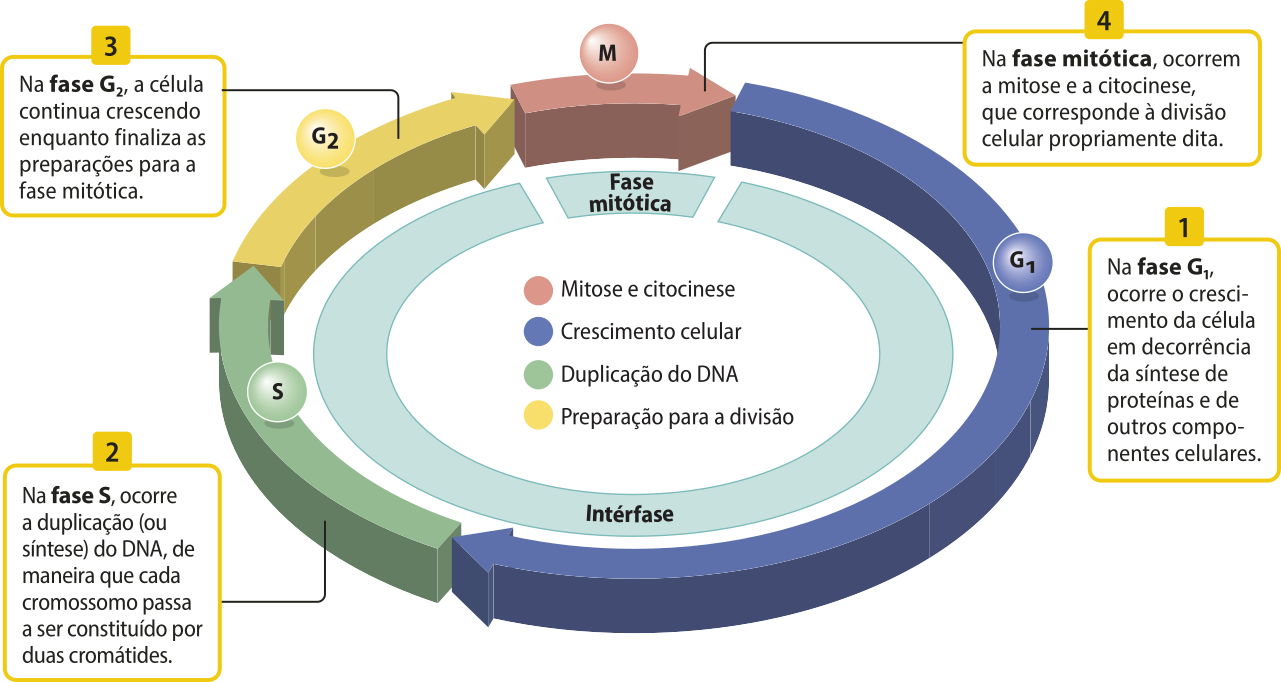
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 235.
As células possuem alguns mecanismos quê cessam o ciclo celular, caso sêjam identificados êêrros em alguma de suas etapas. Se os êêrros forem reparados, o ciclo continua. Caso contrário, a célula aciona um mecanismo específico chamado de apoptose, quê leva à sua morte programada. Esse mecanismo é fundamental para a manutenção da saúde do corpo. Quando ocorre alguma falha na apoptose, a célula póde continuar a se reproduzir e resultar em um crescimento celular desordenado, o quê póde levar ao desenvolvimento de algum tipo de câncer.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• Para saber mais sobre o comportamento de células cancerosas, leia o texto a seguir.
Como se comportam as células cancerosas? Publicado por: Instituto Nacional de Câncer. Disponível em: https://livro.pw/gegnd. Acesso em: 17 set. 2024.
Página quarenta e dois
Mitose
A mitose póde sêr subdividida em quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, os cromossomos se condensam, o nucléolo desaparece e o envoltório nuclear se fragmenta. Assim, o nucleoplasma se mistura ao cito plasma. Além díssu, inicia-se a formação das fibras do fuso acromático (ou fuso mitótico) pêlos centríolos, organelas dispostas em par.
Na metáfase, os pares de centríolos se direcionam aos polos opostos da célula, formando as fibras do fuso acromático. Essas fibras se conéctam aos cromossomos, possibilitando sua movimentação no interior da célula. Com isso, são deslocados ao plano equatorial da célula, onde permanecem alinhados.
Durante a anáfase, as cromátides irmãs são separadas e levadas em direção aos polos da célula. Na telófase, os cromossomos separados chegam aos polos e o fuso acromático desaparece. Os cromossomos se descondensam e se inicia a formação de um envoltório nuclear ao redor de cada conjunto cromossômico.
A mitose se completa quando dois núcleos geneticamente idênticos são formados no interior da célula. Normalmente, ela é acompanhada da divisão do cito plasma, denominada citocinese. Em células animais, forma-se uma constrição na região equatorial da célula, e uma nova membrana plasmática é criada, resultando em duas células-filhas idênticas à célula quê lhes deu origem.
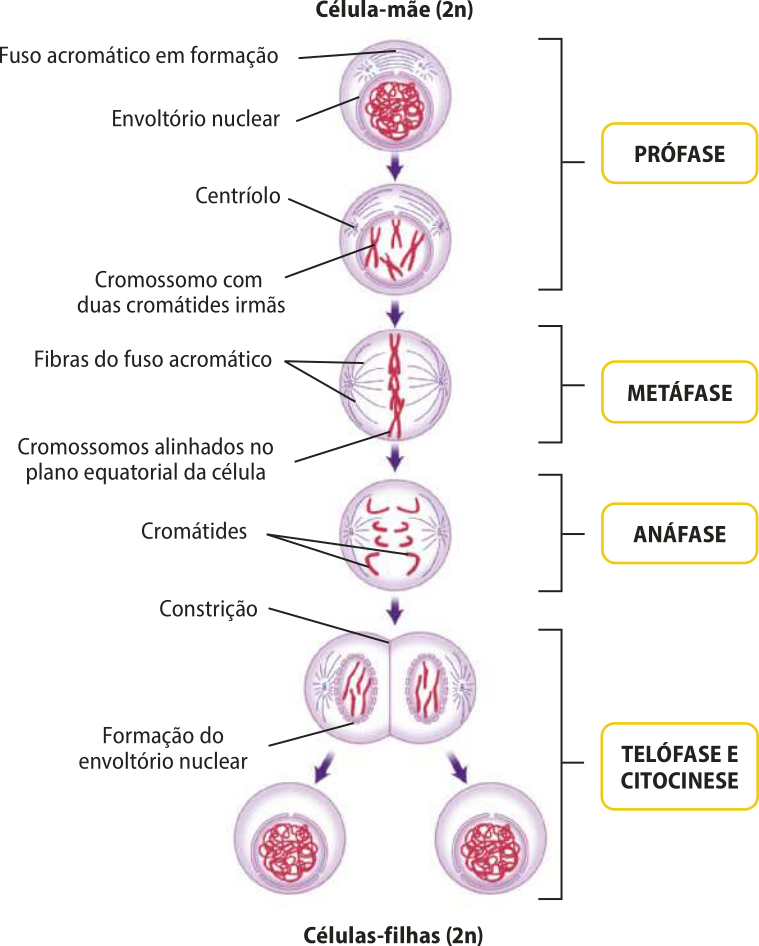
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 236-237.
PENSE E RESPONDA
3 Em seu caderno, faça um desenho quê represente as fases da mitose de uma célula 2n = 6 cromossomos. Indique quantas células-filhas são formadas e o número cromossômico de cada uma delas.
Página quarenta e três
Meiose
De modo geral, em animais, a meiose ocorre na formação de gametas. Na meiose, as células-filhas recebem apenas um cromossomo do par de cromossomos homólogos, possuindo mêtáde dos cromossomos da célula-mãe. Ou seja, após essa divisão, as células-filhas possuem um número n de cromossomos. Isso permite a restauração do número 2n da espécie após a fecundação dos gametas.
A meiose póde sêr dividida em duas etapas: meiose I e meiose II. A meiose I, por sua vez, póde sêr dividida em prófase I, metáfase I, anáfase I e telófase I.
Durante a prófase I, os cromossomos se condensam, o nucléolo desaparece e o envoltório nuclear se fragmenta. Assim, o nucleoplasma se mistura ao cito plasma. Além díssu, inicia-se a formação das fibras do fuso acromático pêlos centríolos.
Nessa fase, cada cromossomo se pareia com seu homólogo e podem ocorrer trocas de segmentos do dê ene há entre as cromátides não irmãs, processo denominado permutação ou crossing-over. Isso contribui para o aumento da variabilidade genética em uma espécie, isto é, para a diversidade de conjuntos genéticos entre seus indivíduos.
Na metáfase I, os pares de centríolos passam a se localizar em polos opostos da célula. As fibras do fuso acromático, já formadas, conectam-se a cada um dos cromossomos do par de homólogos, os quais são deslocados ao plano equatorial da célula, onde permanecem pareados.
Na anáfase I, cada cromossomo do par de homólogos é levado a polos opostos da célula. Nessa etapa, as cromátides não se segregam. Na telófase I, os cromossomos, ainda duplicados, chegam aos polos, e o fuso acromático desaparece. O cito plasma se divide, formando duas células-filhas, cada uma com mêtáde do número de cromossomos da célula-mãe.
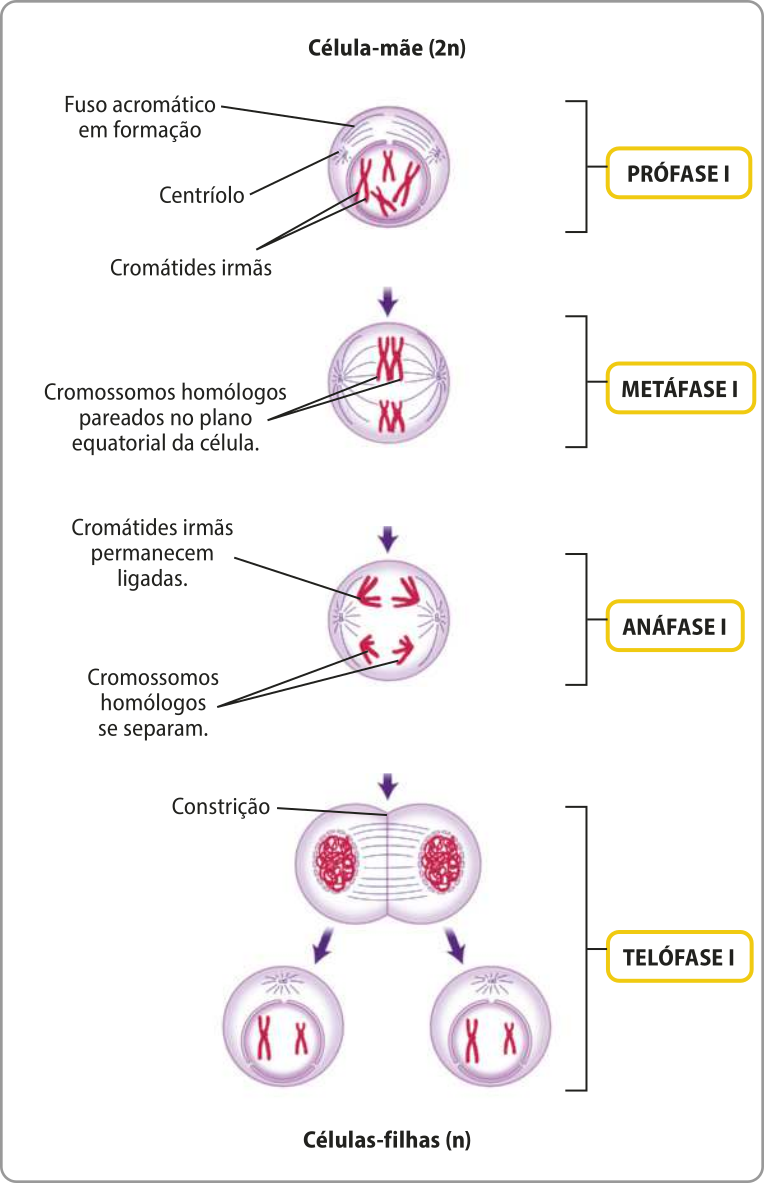
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 258.
Página quarenta e quatro
Após a primeira divisão da meiose, as células-filhas passam pela meiose II, a qual póde sêr dividida em prófase II, metáfase II, anáfase II e telófase II.
Durante a prófase II, inicia-se a formação das fibras do fuso acromático. Na metáfase II, as fibras do fuso acromático ligam-se às cromátides irmãs dos cromossomos, os quais são posicionados no plano equatorial da célula, de modo quê fiquem alinhados. Na anáfase II, ocorre a separação das cromátides irmãs, quê são deslocadas a polos opostos da célula. Na telófase II, os cromossomos se descondensam e o envoltório nuclear é formado. Ocorrem a divisão do cito plasma e a formação da membrana plasmática.
Ao final da meiose II, quatro células-filhas (n) são formadas, cada uma com mêtáde do número de cromossomos da célula-mãe (2n) quê lhes deu origem.
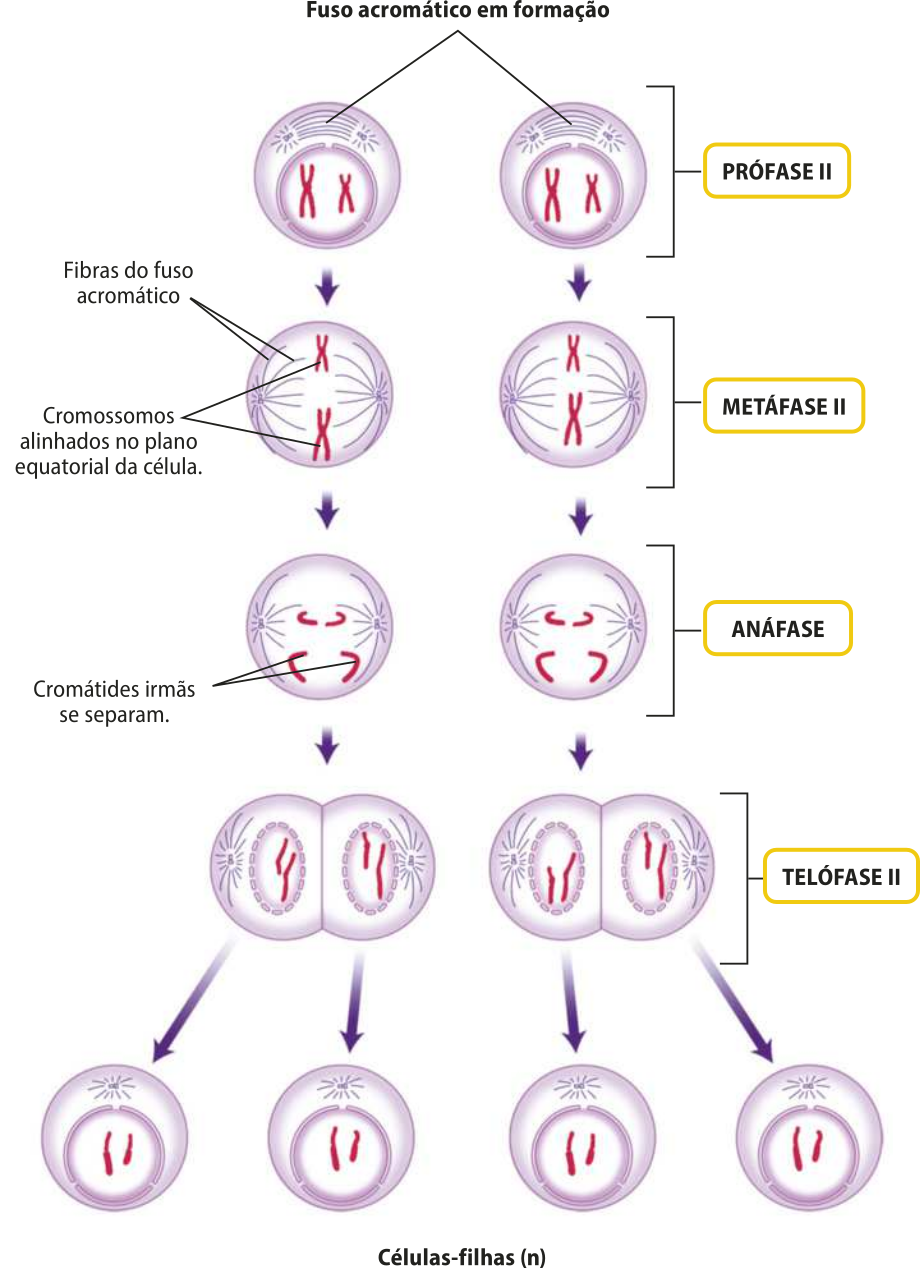
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 259.
PENSE E RESPONDA
4 Em seu caderno, faça um desenho quê represente as fases da meiose I e II de uma célula 2n = 6 cromossomos. Indique quantas células-filhas são formadas e o número cromossômico de cada uma delas.
Página quarenta e cinco
ATIVIDADES
1. Quais são os principais componentes do núcleo celular? Cite suas respectivas funções.
2. No organismo humano, existem células haploides e células diploides. Diferencie-as.
3. O gráfico abaixo mostra quê a quantidade de dê ene há de uma célula varia ao longo do ciclo celular. Na fase S, da intérfase, ocorre a duplicação do dê ene há. Isso significa quê, ao final dessa fase, a célula apresenta o dôbro de dê ene há. Em contrapartida, após a fase mitótica, na qual ocorre a separação das cromátides irmãs, a célula volta a apresentar a quantidade de dê ene há quê normalmente apresenta.
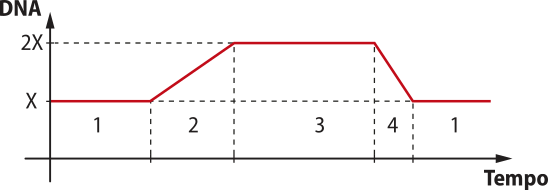
DE ROBERTIS, Eduardo D. P.; DE ROBERTIS JUNIOR, édu-ar M. F. Bases da biologia celular e molecular. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 1993. p. 166.
Considerando quê X representa a quantidade de dê ene há de uma célula, responda aos itens.
a) A qual área indicada no gráfico (1, 2, 3 ou 4) corresponde a fase S do ciclo celular? Justifique sua resposta.
b) A qual área indicada no gráfico (1, 2, 3 ou 4) corresponde a fase mitótica do ciclo celular? Justifique sua resposta.
c) Explique os principais eventos da intérfase.
4. A imagem a seguir apresenta células vegetais em diferentes fases da mitose, visualizadas ao microscópio óptico.
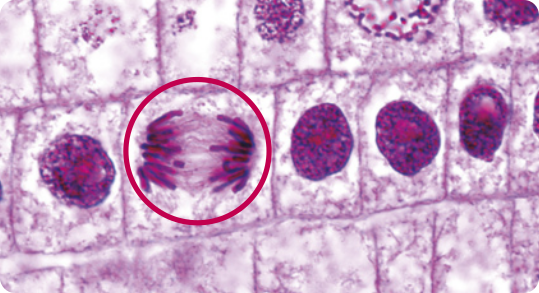
A fase em quê a célula circulada se encontra envolve a separação de cromátides irmãs.
Com base nas informações apresentadas e em seus conhecimentos, responda aos itens.
a) Como é denominada a fase da mitose em quê a célula circulada se encontra? Justifique sua resposta.
b) Quais são os principais eventos subsequentes a essa fase? Explique-os.
5. Um cientista pretende estudar os cromossomos de uma espécie de planta. Para isso, ele precisa cultivar em laboratório um tecido com alta capacidade de divisão celular e interromper a mitose das células para encontrá-las em uma fase em quê seus cromossomos estejam em seu maior grau de condensação.
Analise as informações apresentadas e responda aos itens a seguir.
a) Para a realização do estudo, as células deveriam estar em quê fase da mitose?
b) Explique os níveis de condensação do dê ene há.
6. As ilustrações a seguir representam uma célula de determinada espécie animal em divisão celular. Analise-as e responda às kestões quê seguem.
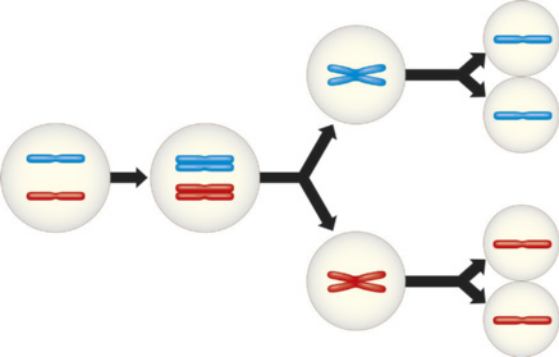
a) Que tipo de divisão celular é representado? Justifique sua resposta.
b) Esse processo de divisão celular ocorre em células somáticas ou células gaméticas? Explique sua resposta.
c) Quais são os números de cromossomos das células haploides e diploides dessa espécie?
Página quarenta e seis
TEMA
4
Metabolismo celular
Analise a fotografia a seguir.
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.

Uma das características dos sêres vivos é a presença de metabolismo, quê corresponde ao conjunto de reações químicas quê ocorrem no interior de suas células. Essas reações são responsáveis por manter e regular seus processos vitais.
O metabolismo póde sêr dividido, basicamente, em dois processos: catabolismo e anabolismo. O catabolismo compreende as reações químicas nas quais moléculas compléksas são transformadas em moléculas mais simples e menos energéticas. Nesse processo, ocorre a liberação de energia. Por exemplo, as moléculas de carboidratos presentes nas fô-lhas da planta apresentada na imagem são catabolizadas no corpo da lagarta em moléculas mais simples, como a glicose, ocorrendo liberação de energia durante êste processo.
Em contrapartida, o anabolismo compreende as reações químicas nas quais moléculas simples são transformadas em moléculas mais compléksas e mais energéticas. A ocorrência dessas reações requer energia. Na lagarta da imagem, por exemplo, as moléculas de glicose podem sêr transformadas em moléculas mais compléksas, como os lipídios, por meio de reações anabólicas, quê requerem energia. Quando necessário, os lipídios podem sêr catabolizados em moléculas mais simples, liberando energia para o desenvolvimento do inséto.
Neste Tema, serão estudados alguns processos energéticos quê fazem parte do metabolismo dos sêres vivos.
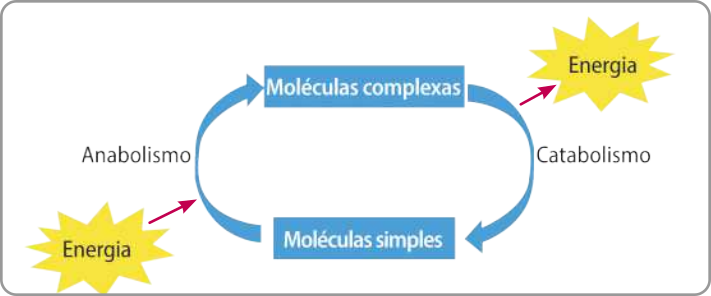
Elaborado com base em: NELSON, Daví Lí; COX, máicou Méfiu. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5. ed. Porto Alegre: Artméd, 2011. p. 26.
PENSE E RESPONDA
1 Uma das principais fontes de energia utilizadas pêlos sêres vivos, seja diréta ou indiretamente, é a energia luminosa do sól. Estabeleça uma relação entre essa afirmação e a cena presente na fotografia.
Página quarenta e sete
Transferências de energia no metabolismo
A energia liberada pelas reações do catabolismo póde sêr utilizada em diferentes processos celulares. Contudo, é preciso quê a energia seja transferida aos locais adequados para quê esses processos ocorram. Esse papel é realizado por moléculas carreadoras de energia, quê se movimentam com facilidade no interior da célula.
Uma das principais moléculas carreadoras de energia é a adenosina trifosfato, ou ATP. O ATP é formado por meio de uma reação de fosforilação, quê consiste na adição de um fosfato inorgânico (Pi) a outra molécula, quê, nesse caso, é a adenosina difosfato (há dê pê). Nessa reação, forma-se á gua.
A energia contida na molécula de ATP é liberada por meio da remoção do fosfato inorgânico, reação conhecida por desfosforilação. Essa reação ocorre na presença de á gua.
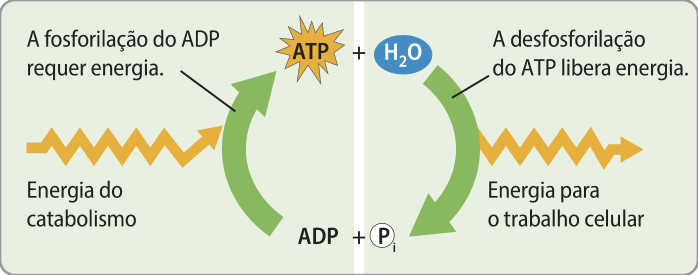
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 151.
Outras moléculas carreadoras são a nicotinamida-adenina-dinucleotídeo (NAD), a fosfato-de-nicotinamida-adenina-dinucleotídeo (NADP) e a flavina-adenina-dinucleotídeo (fádi). Elas são especializadas em transportar elétrons, sêndo, por isso, chamadas de moléculas carreadoras de elétrons, e participam de reações de oxirredução, comuns no metabolismo celular.
DIÁLOGOS DA NATUREZA
êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Química. Mais informações nas Orientações para o professor.
Oxidação e redução
As reações de oxirredução (ou redox) compreendem reações químicas em quê ocorre a transferência de elétrons entre moléculas. Nessas reações, o aumento no número de elétrons de uma molécula é denominado redução. Em contrapartida, a diminuição do número de elétrons de uma molécula é denominada oxidação.
Por exemplo, considere quê, em uma reação entre duas moléculas, A e B, ocorra a transferência de elétrons da molécula A para a molécula B, ou seja, nesse exemplo, ocorrem a oxidação da molécula A e a redução da molécula B. Assim, ao final do processo, a molécula A encontra-se oxidada e, a molécula B, reduzida. Analise o esquema a seguir.
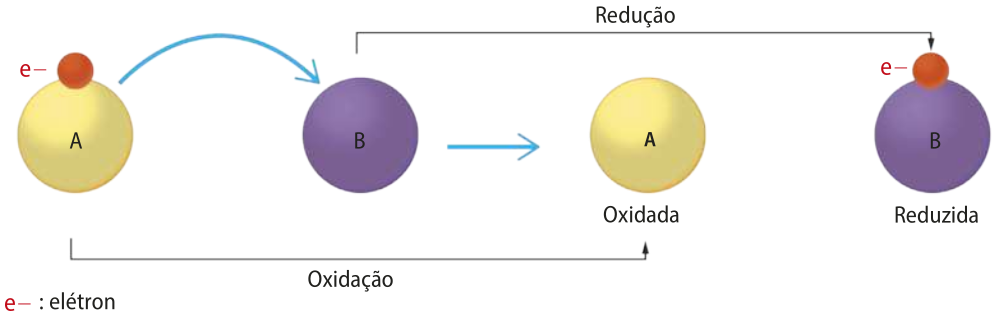
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 164.
Página quarenta e oito
Os carreadores NAD, NADP e fádi realizam o transporte de elétrons entre moléculas por meio de íons de hidrogênio (H_). Sendo assim, quando íons de hidrogênio são retirados de uma molécula, também ocorre a retirada de elétrons, e ela se torna oxidada. Da mesma forma, quando íons de hidrogênio são adicionados a uma molécula, também ocorre a adição de elétrons, e ela se torna reduzida.
Em sua forma oxidada, o NAD, o NADP e o fádi são representados por NAD+, NADP+ e fádi. Quando estão acoplados a íons de hidrogênio, apresentam-se em sua forma reduzida e são representados por NADH, NADPH e FADH2.
Forma oxidada |
Forma reduzida |
|
|---|---|---|
NAD+ |
→ |
NADH |
NADP+ |
→ |
NADPH |
fádi |
→ |
FADH2 |
Normalmente, o NAD e o fádi estão envolvidos em processos catabólicos, enquanto o NADP, em processos anabólicos.
Processos energéticos celulares
Todos os sêres vivos precisam de energia para a manutenção de suas funções vitais. No entanto, os processos celulares pêlos quais os sêres vivos obtêm e utilizam energia podem sêr distintos.
A fotossíntese, a respiração celular e outros processos energéticos das células, como a quimiossíntese e a fermentação, serão estudados a seguir.
Fotossíntese
O produto direto da fotossíntese é um açúcar de três carbonos quê póde sêr utilizado na produção de glicose. A utilização da molécula de glicose facilita o entendimento do estudante e permite quê ele compare com o processo de respiração celular, abordado posteriormente. A equação global geral da fotossíntese póde sêr descrita da seguinte forma: Luz nCO2 + nH2 O ô (CH2 O)n + nO2, em quê o CH2 O é a fórmula geral de um carboidrato, e não necessariamente um açúcar.
A fotossíntese é realizada por plantas, algas e algumas bactérias. Por meio dêêsse processo, moléculas simples e menos energéticas são transformadas em moléculas compléksas e mais energéticas. A energia utilizada nesse processo provém principalmente da luz solar. Assim, podemos dizêr quê, durante a fotossíntese, a energia luminosa é transformada em outras formas de energia.
Na presença de luz, o gás carbônico (CO2) e a á gua (H2 O), quê são moléculas inorgânicas simples, são utilizados para a síntese de carboidratos (representados pela fórmula geral CH2 O), quê são moléculas mais energéticas. Ao final da fotossíntese, o gás oxigênio (O2) também é formado e liberado no ambiente.
Todas as reações químicas quê ocorrem durante o processo da fotossíntese podem sêr resumidas na equação geral apresentada a seguir, considerando a formação de uma molécula de glicose.
6 CO2 + 6 H2 O Luz 6 O2 + C6 H12 O6
Nessa reação, há transferência de elétrons entre a á gua e o gás carbônico, de modo quê a molécula de á gua é oxidada e, a molécula de gás carbônico, reduzida.
Página quarenta e nove
Os cloroplastos
A fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos. Essas organelas apresentam uma membrana dupla quê envolve um fluido denso denominado estroma. Nesse fluido, há um sistema de membranas quê forma sacos denominados tilacoides, os quais estão arranjados uns sobre os outros formando pilhas, chamadas grana.
Nas membranas dos tilacoides, estão localizados pigmentos fotossintetizantes, quê são os responsáveis por ABSÓRVEr a luz solar. Cada tipo de pigmento absorve determinado comprimento de onda quê compõe a luz branca emitida pelo Sol. A clorofila a é o principal pigmento na absorção da luz solar, seguida dos pigmentos acessórios clorofila b e carotenoides. São os pigmentos de clorofila quê conferem a côr vêrde às plantas, sobretudo às suas fô-lhas.
O gráfico a seguir apresenta o comportamento de cada um dêêsses pigmentos em relação à absorção dos diferentes comprimentos de onda da luz.
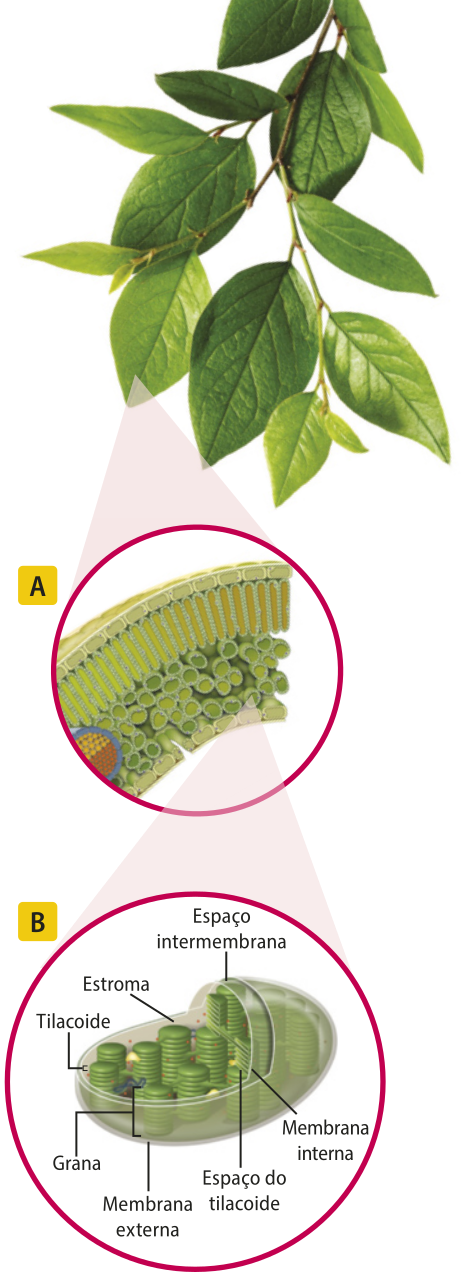
Fonte: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 187, 192.
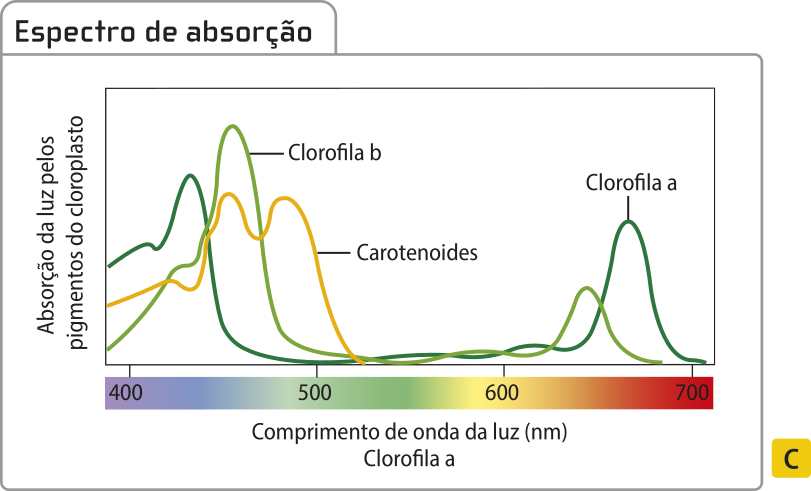
As etapas da fotossíntese
A fotossíntese póde sêr dividida em duas etapas: a etapa fotoquímica e a etapa química.
A etapa fotoquímica ocorre nas membranas dos tilacoides, onde estão localizados os pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila. Nessa etapa, ocorrem reações químicas dependentes da energia luminosa. Por sua vez, a etapa química ocorre no estroma dos cloroplastos. Apesar de a etapa química não depender diretamente de energia luminosa, sua ocorrência depende dos produtos gerados na etapa fotoquímica e, portanto, da presença de luz.
A seguir, serão estudadas as principais reações químicas quê ocorrem em cada uma dessas etapas.
Se achar conveniente, comente com os estudantes quê a etapa fotoquímica também é conhecida como fase clara, e a etapa química, como fase escura. Contudo, é importante entenderem quê ambas as etapas ocorrem na presença da luz.
PENSE E RESPONDA
2 Analise o gráfico e responda: se uma planta for cultivada sôbi luz ultravioleta ou sôbi luz infravermelha, ela realizará fotossíntese de maneira eficiente? Se necessário, faça uma pesquisa e converse com o professor de Física sobre o assunto.
Página cinquenta
A etapa fotoquímica inicia-se com a absorção da energia luminosa pela clorofila, possibilitando a ocorrência de duas reações: a fotofosforilação e a fotólise da á gua. Ou seja, na presença de luz, ocorrem a síntese de ATP, a partir da ligação de um fosfato inorgânico (Pi) à molécula de há dê pê (fotofosforilação), e a quebra da molécula de á gua (fotólise).
A fotólise da á gua libera gás oxigênio (O2), íons de hidrogênio (H+) e elétrons (e−), conforme representado na equação a seguir.
2 H2O 4 e− + 4 H+ + O2
Os elétrons e os íons de hidrogênio liberados são capturados por moléculas de NADP+, quê assume sua forma reduzida, NADPH.
Já na etapa química, há a redução do gás carbônico a partir dos íons de hidrogênio transportados pelo NADPH. Essa reação ocorre na presença de ATP, quê fornece energia ao sistema. Ao final, são produzidos açúcares simples, quê serão empregados na produção de outros açúcares, como a glicose, a sacarose e o amido, além de outras moléculas orgânicas mais compléksas necessárias para a planta.
A síntese de carboidratos ocorre por meio de um conjunto de reações químicas denominado ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, em homenagem aos bioquímicos estadunidenses Melvin Cálvin (1911-1997) e Éndreu Benson (1917-2015), quê o descreveram.
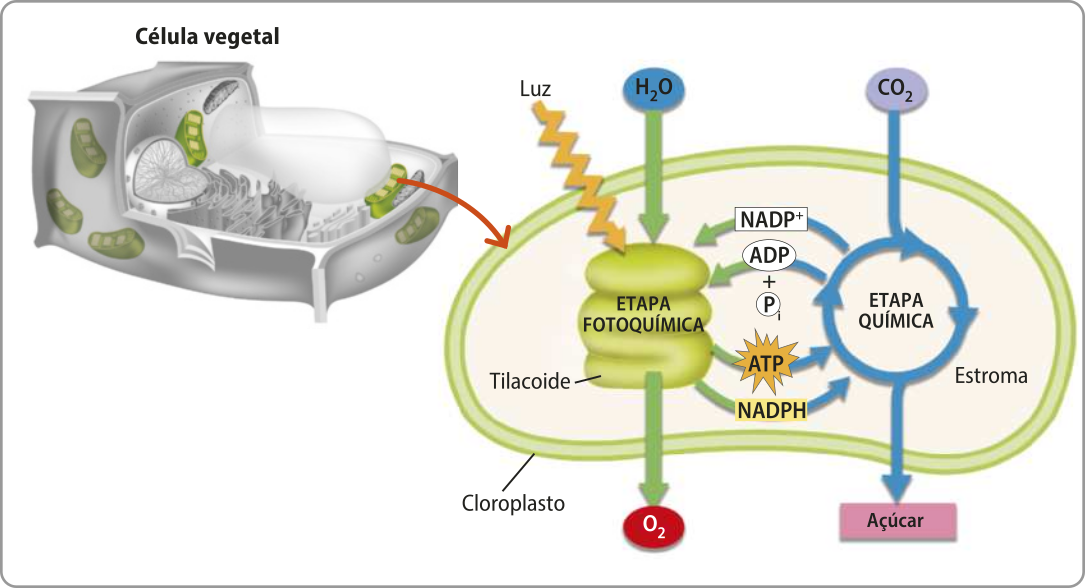
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 189.
PENSE E RESPONDA
3 Se uma planta for cultivada em um ambiente com ausência total de uma fonte luminosa, ela irá se desenvolver? Por quê?
Página cinquenta e um
Quimiossíntese
A quimiossíntese é realizada por grande parte das bactérias. Por meio dêêsse processo, moléculas simples, menos energéticas, são transformadas em moléculas compléksas, mais energéticas, assim como ocorre na fotossíntese. No entanto, na quimiossíntese, a energia utilizada provém da oxidação de substâncias inorgânicas, e não da energia luminosa.
As bactérias quimiossintetizantes podem sêr classificadas quanto à fonte de energia utilizada.
As sulfobactérias, comumente encontradas em fontes termais submarinas e sedimentos marinhos, utilizam a energia proveniente da oxidação de sulfêto de hidrogênio (H2 S) para a síntese de moléculas orgânicas, conforme representado na equação simplificada a seguir.
CO2 + 4 H2 S + O2 H CH2 O + 4 S + 3 H2 O
As bactérias denominadas ferrobactérias são aquelas quê utilizam a energia proveniente da oxidação de compostos de ferro. Elas são comumente encontradas em ambientes aquáticos quê contêm ferro.
Por fim, as bactérias quê utilizam a energia proveniente da oxidação de compostos nitrogenados são denominadas nitrobactérias, ou bactérias nitrificantes. Algumas espécies de nitrobactérias vivem no solo e têm grande importânssia para a fertilidade dele. A oxidação desempenhada por essas bactérias disponibiliza o nitrogênio (N) em formas assimiláveis pelas plantas. O nitrogênio é um elemento constituinte do material genético e da clorofila, sêndo, portanto, essencial para o desenvolvimento das plantas.
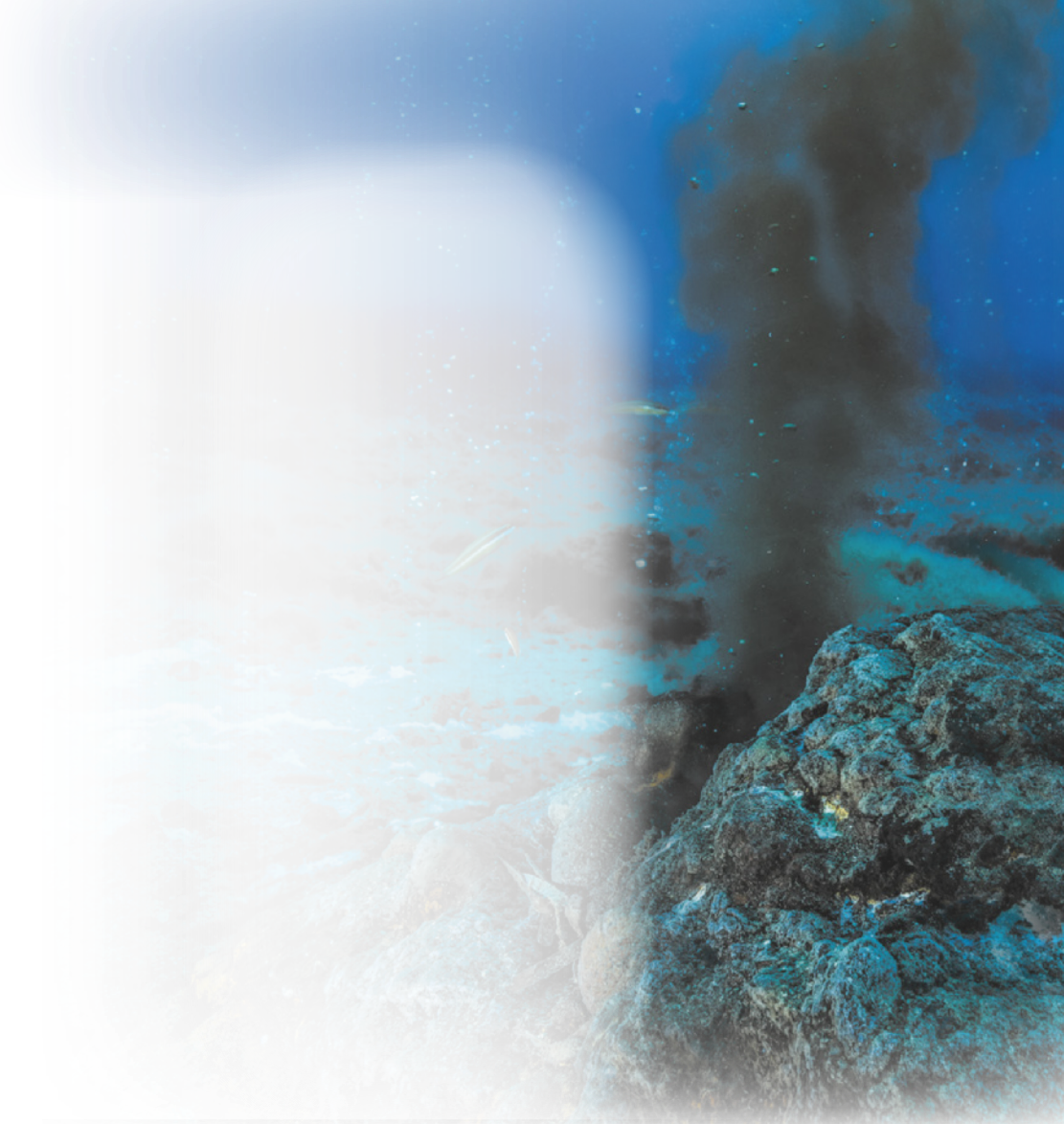
Respiração celular
Como estudado, a fotossíntese transforma a energia luminosa em outras formas de energia presentes nas moléculas de carboidratos, como o amido e outros açúcares. Quando as ligações químicas quê formam os carboidratos são rompidas, libera-se a energia envolvida nessas ligações, quê é utilizada, em parte, para a síntese de moléculas de ATP.
O rompimento das ligações químicas das moléculas de carboidratos póde ocorrer na presença de gás oxigênio (reação aeróbia), como na respiração celular, ou na ausência de gás oxigênio (reação anaeróbia), como na fermentação, quê será estudada adiante.
A respiração celular ocorre quando moléculas de glicose (C6 H12 O6) são oxidadas completamente na presença de gás oxigênio, liberando a energia quê é utilizada na síntese de ATP. Ao final do processo, são formados gás carbônico e á gua. As reações químicas ocorridas durante a respiração celular podem sêr resumidas por meio da equação geral apresentada a seguir.
C6 H12 O6 + 6 O2 H 6 CO2 + 6 H2 O
Nessa reação, há transferência de elétrons entre a glicose e o gás oxigênio, de modo quê a molécula de glicose é oxidada e, a molécula de gás oxigênio, reduzida.
Página cinquenta e dois
As mitocôndrias
A respiração celular se inicia no citosol das células e é finalizada no interior das mitocôndrias. Essas organelas apresentam uma membrana dupla, sêndo a membrana externa lisa e a membrana interna convoluta, isto é, repleta de dobras quê aumentam sua área superficial.
Essas dobras são denominadas cristas mitocondriais e envolvem um fluido chamado matriz mitocondrial. O espaço entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria é chamado espaço intermembrana.
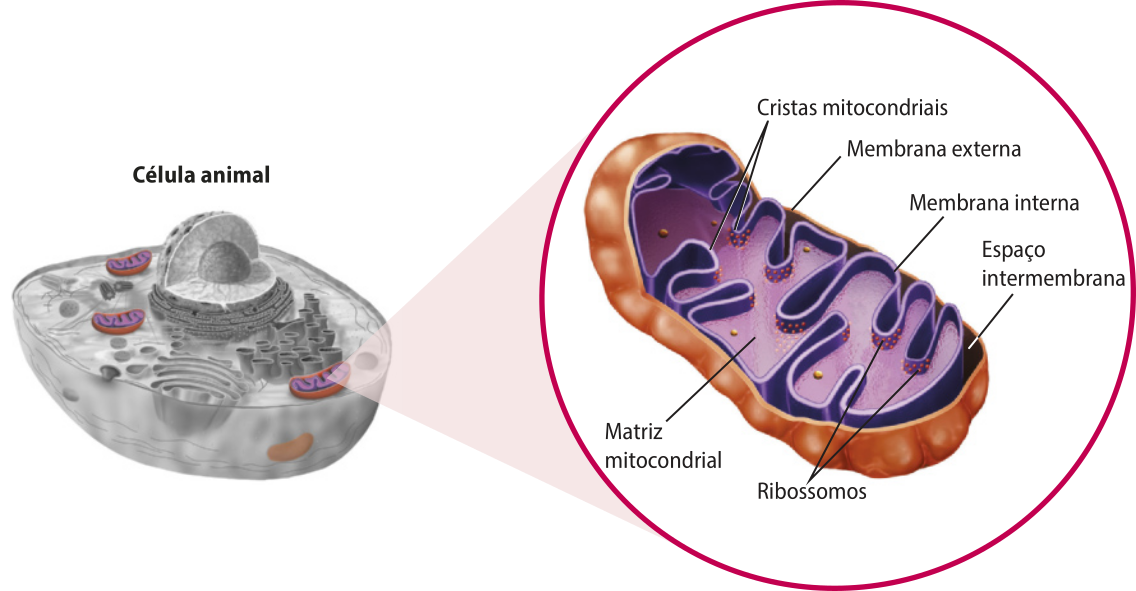
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 111.
As etapas da respiração celular
A respiração celular póde sêr dividida em etapas: a glicólise, a oxidação do piruvato, o ciclo de crébis e a fosforilação oxidativa. A glicólise ocorre no citosol das células, enquanto a oxidação do piruvato e o ciclo de crébis ocorrem na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa ocorre nas cristas mitocondriais.
A glicólise é um processo anaeróbio, pois nela não há consumo de gás oxigênio. Ela é uma etapa comum à fermentação, quê será estudada adiante. Já a oxidação do piruvato, o ciclo de crébis e a fosforilação oxidativa são vias catabólicas aeróbias.
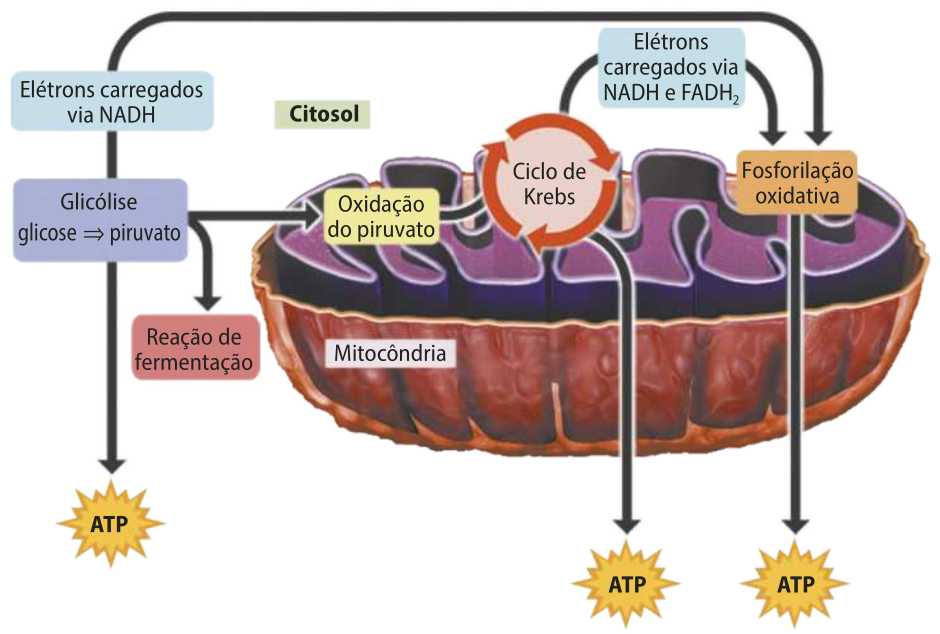
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 167.
Página cinquenta e três
A glicólise ocorre no citosol da célula e envolve um conjunto de reações químicas quê iniciam a quebra das moléculas de glicose. A partir da quebra de uma molécula de glicose, são produzidas duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico (C3H4O3), cada uma delas formada por três hátomus de carbono. Ao final da glicólise, duas moléculas de ATP e duas moléculas de NADH são produzidas.
O piruvato produzido pela glicólise é direcionado à matriz mitocondrial, onde é oxidado a uma molécula com dois hátomus de carbono, denominada acetil-CoA. Nesse processo, quê é intermediário entre a glicólise e o ciclo de crébis, não há formação de ATP. A oxidação de uma molécula de piruvato resulta na liberação de uma molécula de gás carbônico e de uma molécula de NADH.
A quebra de uma molécula de glicose resulta em duas moléculas de piruvato. Portanto, os produtos formados pela oxidação de duas moléculas de piruvato equivalem ao dôbro do quê foi apresentado.
A molécula de acetil-CoA é incorporada a um compôzto com quatro hátomus de carbono, denominado oxaloacetato, formando o citrato. Nesse momento, inicia-se um ciclo de reações químicas, denominado ciclo de crébis, quê foi estudado pelo biólogo, médico e bioquímico alemão Rans Adolf crébis (1900-1981). As reações químicas quê ocorrem ao longo dêêsse ciclo quebram o citrato em compostos intermediários, os quais apresentam quantidade de hátomus de carbono variável, até quê se forme novamente o oxaloacetato, quê irá reiniciar o ciclo. Durante o ciclo de crébis, ocorre a liberação de duas moléculas de gás carbônico e são sintetizadas uma molécula de ATP, três moléculas de NADH e uma molécula de FADH2.
refórce a informação para o estudante de quê o ciclo representado se refere à uma molécula de acetil-CoA. Contudo, como uma molécula de glicose resulta em duas moléculas de acetil-CoA, os produtos finais equivalem ao dôbro do quê foi apresentado.
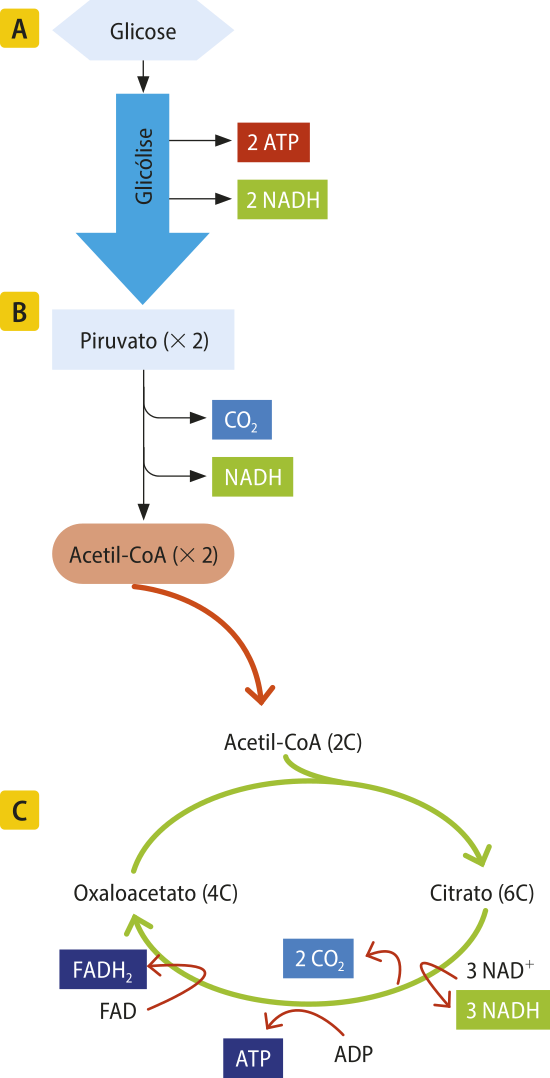
Elaborado com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 168-169, 171.
Nessas etapas, perceba quê os íons de hidrogênio foram liberados e acoplados às moléculas carreadoras NAD+ e fádi, quê, então, assumiram a forma reduzida de NADH e FADH2. A energia presente nessas moléculas será utilizada para a geração de ATP durante a fosforilação oxidativa, quê ocorre nas cristas mitocondriais e corresponde à etapa final da respiração celular.
Nas cristas mitocondriais, há uma sequência de moléculas aceptoras de elétrons conhecida como cadeia respiratória, sêndo a molécula de O2 o aceptor final dessa cadeia. A energia dos elétrons dos íons de hidrogênio carreados pelas moléculas NADH e FADH2 é liberada à medida quê ocorre a passagem dêêsses elétrons de um a outro componente da cadeia respiratória. No final da cadeia respiratória, elétrons e íons de hidrogênio são adicionados a moléculas de O2, formando moléculas de á gua.
A energia liberada durante a passagem de elétrons pela cadeia respiratória é usada para transportar íons de hidrogênio para o espaço intermembrana, gerando um gradiente eletroquímico entre o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial. Esse gradiente é suficiente para promover o retorno dos íons de hidrogênio à matriz mitocondrial, o quê ocorre por meio do complékso denominado ATP-sintase, localizado na membrana interna da mitocôndria. Com a passagem de íons de hidrogênio pela ATP-sintase, ocorre a geração da energia necessária para a síntese de ATP (fosforilação). Dependendo da célula, 26 ou 28 moléculas de ATP são formadas nessa etapa.
Página cinquenta e quatro
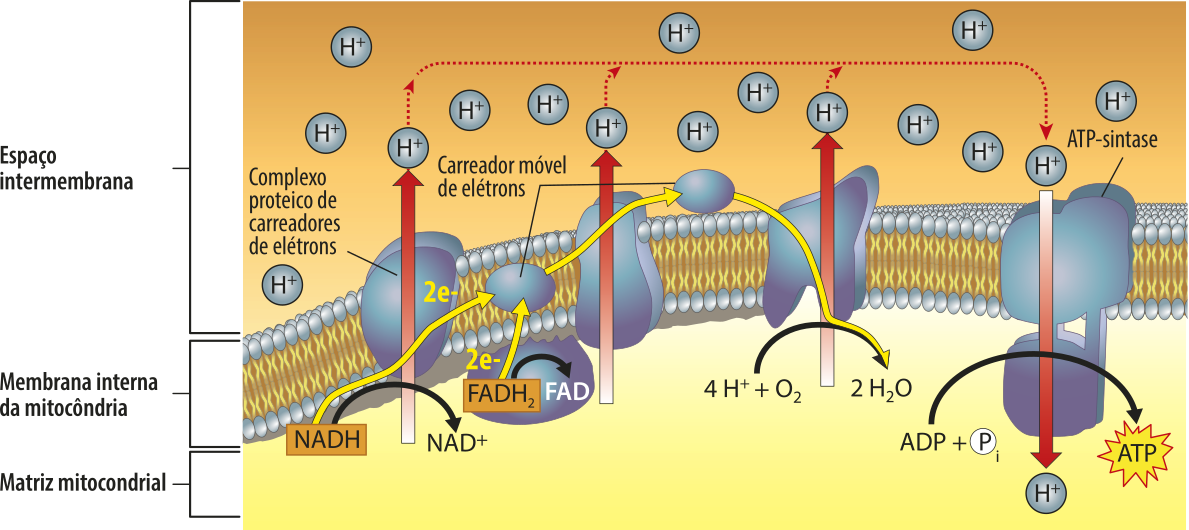
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 174.
Saldo energético
Cada etapa da respiração celular libera energia suficiente para sintetizar moléculas de ATP em diferentes quantidades. Para determinar o saldo de ATP dêêsse processo, é preciso considerar quê cada molécula de NADH libera energia suficiente para sintetizar 2,5 moléculas de ATP, e quê cada molécula de FADH2 libera energia suficiente para sintetiz ar 1,5 molécula de ATP.
Após a glicólise, a oxidação do piruvato e o ciclo de crébis, são produzidas dez moléculas de NADH e duas moléculas de FADH2. Essas moléculas libéram energia suficiente para a síntese de 26 ou 28 moléculas de ATP na cadeia respiratória, dependendo da célula. Junto a elas, deve-se considerar o saldo de duas moléculas de ATP na glicólise e de duas moléculas de ATP no ciclo de crébis. Assim, ao final da respiração celular, o saldo energético total é de 30 ou de 32 moléculas de ATP.
Essa variação ocorre, pois, em algumas células eucarióticas, ocorre o gasto de duas moléculas de ATP para transportar as duas moléculas de NADH produzidas no citosol durante a glicólise para o interior da mitocôndria. Por isso, nessas células, o saldo da respiração celular é de 30 moléculas de ATP.
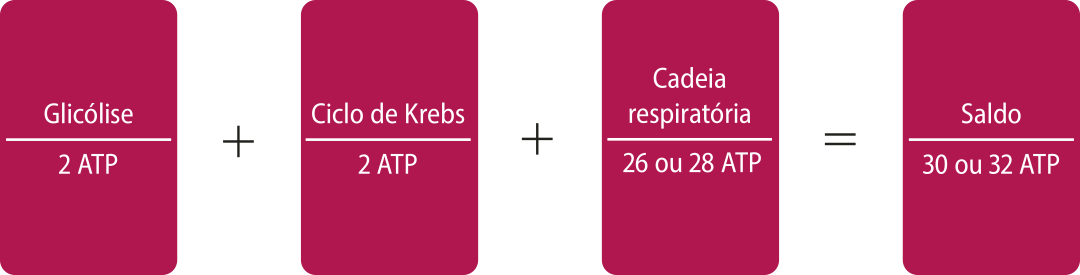
Página cinquenta e cinco
Fermentação
A fermentação é um processo quê ocorre no citosol, na ausência de gás oxigênio. Ela é realizada por sêres vivos anaeróbios, mas póde sêr uma alternativa para organismos aeróbios em situações de pouca disponibilidade de gás oxigênio.
O saldo energético da fermentação é de duas moléculas de ATP, bem inferior ao da respiração celular, visto quê a molécula de glicose é oxidada parcialmente em substâncias orgânicas mais simples.
A fermentação é iniciada pela glicólise, isto é, pela quebra de uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. As reações subsequentes à glicólise diferem quanto ao tipo de fermentação realizada. A seguir, sêrão estudadas a fermentação láctica e a fermentação alcoólica. Ambas são aproveitadas pelo ser humano em processos industriais.
Fermentação láctica
Na fermentação láctica, cada molécula de piruvato ôbitída pela glicólise é reduzida a ácido láctico, também chamado de lactato. Nessa reação, ocorre a regeneração do NAD+ a partir do NADH. Por meio dêêsse processo, são produzidos iogurtes e bebidas lácteas.
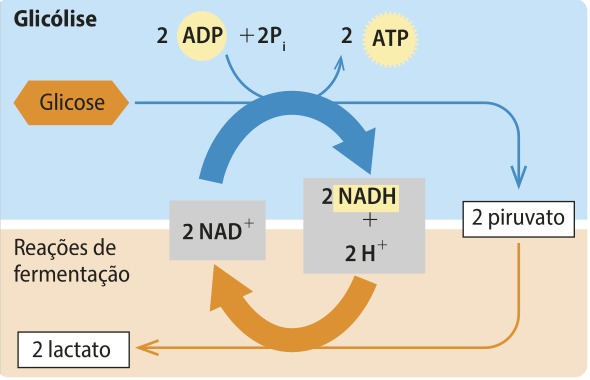
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 178.
Fermentação alcoólica
Na fermentação alcoólica, cada molécula de piruvato é transformada em uma molécula de acetaldeído, etapa em quê há a liberação de gás carbônico. Cada acetaldeído, então, é reduzido a etanol, com regeneração de NAD+ a partir de NADH. Por meio dêêsse processo, são produzidos pães e bebidas alcoólicas.
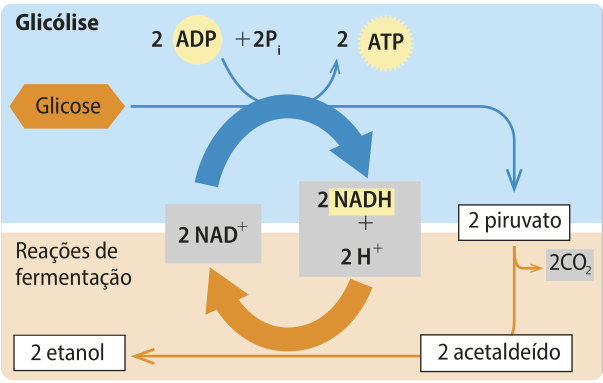
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 178.
Página cinquenta e seis
ATIVIDADES
1. Diferencie catabolismo e anabolismo.
2. Um estudo sobre os casos graves da covid-19 identificou quê o coronavírus, causador da doença, póde prejudicar a função das mitocôndrias, comprometendo uma das etapas do metabolismo energético: a fosforilação oxidativa. Nessa situação, as células dos infectados usam a glicólise como via alternativa para suprir a demanda de energia. No entanto, os produtos formados pela glicólise são utilizados pelo coronavírus para sua replicação. Com o aumento da eficiência de replicação do vírus, o organismo desencadeia uma resposta inflamatória mais intensa, culminando nos casos graves da doença. Considerando as informações do texto e os seus conhecimentos sobre o metabolismo, responda às perguntas a seguir.
a) Em pessoas quê manifestam o qüadro clínico grave da covid-19, quê organela celular tem seu funcionamento afetado pela ação do coronavírus? Explique sua resposta.
b) Ao afetar o funcionamento dessa organela, quê processo celular é comprometido?
c) O estudo cita quê as células das pessoas infectadas ativam uma via alternativa para suprir a demanda energética de seu organismo. Que via é essa? Explique como ela ocorre.
d) Qual é a molécula utilizada como fonte de energia pela célula e quê favorece a replicação do coronavírus? Explique.
e) De acôr-do com o estudo, quê relação póde sêr estabelecida entre a ação do coronavírus no organismo dos infectados e os casos graves da doença?
3. Exercícios físicos intensos, de curta duração, requerem maior atividade muscular. Nessas situações, o suprimento de gás oxigênio póde não sêr suficiente para atender à demanda energética dos músculos. Por isso, é possível quê as células do tecido muscular ativem o metabolismo energético anaeróbio, passando a realizar a fermentação láctica. No entanto, o acúmulo dos produtos dessa via metabólica no organismo, associado a outros fatores, póde ocasionar fadiga muscular.
Considerando as informações do texto e os seus conhecimentos sobre o assunto, responda:
a) Em condições normais, qual é a principal via metabólica realizada pelas células musculares para obtenção de energia necessária à manutenção de suas funções vitais? Explique como ela ocorre.
b) Durante a prática de exercícios físicos intensos, de curta duração, quê via metabólica póde sêr ativada pelas células musculares? Explique como ela ocorre.
c) Que produto metabólico póde estar associado à fadiga muscular após praticar exercícios físicos intensos de curta duração?
4. A imagem a seguir corresponde a células da fô-lha de uma planta observada, em kórti transversal, ao microscópio óptico. Nesta imagem, estão destacadas organelas quê possuem pigmentos fotossintetizantes.

Considerando a imagem e os seus conhecimentos, faça o quê se propõe a seguir.
a) Que organelas estão destacadas na imagem?
b) Qual é a função dos pigmentos fotossintetizantes? Cite alguns exemplos.
c) Em seu caderno, faça um desenho representando a estrutura dessa organela e indicando os nomes de seus respectivos componentes.
d) Que processo metabólico é realizado por essa organela? Explique esse processo d fórma resumida.
e) Em seu caderno, escrêeva a equação geral dêêsse processo.
5. Durante as aulas de Biologia, os estudantes realizaram um experimento com o objetivo de avaliar alguns fatores quê poderiam influenciar o desenvolvimento de plantas. Um dos fatores testados foi a á gua. Durante o experimento, os
Página cinquenta e sete
estudantes mantiveram quatro vasos de plantas jovens na presença de luz, regando com á gua apenas dois deles. Ao avaliarem os resultados, os estudantes verificaram quê as plantas quê não receberam á gua não se desenvolveram tanto quanto as plantas quê a receberam. A justificativa proposta pela turma para os resultados observados foi quê as plantas quê não foram regadas não realizaram fotossíntese. Considerando a situação descrita, avalie se a justificativa elaborada pela turma está correta. Explique sua resposta.
6. Leia o texto a seguir.
Rotenona: cientistas desvendam mecanismo molecular de veneno usado na pesca por indígenas
Povos originários da Amazônea extraem a rotenona de plantas e cipós há centenas de anos. Fatal para qualquer animal, interrompendo a produção de energia das células, essa substância é despejada nos rios em rituais de pesca coletiva para facilitar a captura dos peixes. [...]
[…]"Em vez de pescar com flechas, quê dá muito mais trabalho, os indígenas envenenam os peixes e passam uma cesta rio abaixo para pegá-los”, detalha [...] o professor Guilherme Menegon Arantes [...]. Após assados, os animais podem sêr consumidos sem risco à saúde. “Eles tostam em brasa até quase torrá-los. Isso destrói a molécula de rotenona.”
[...]
CONTERNO, Ivan. Rotenona: cientistas desvendam mecanismo molecular de veneno usado na pesca por indígenas. Jornal da úspi, São Paulo, 18 maio 2023. Disponível em: https://livro.pw/qylta. Acesso em: 5 jul. 2024.
Sabendo quê a rotenona atua bloqueando o transporte de elétrons durante a respiração celular, relacione a ação da rotenona às informações do texto.
7. O etanol, um dos biocombustíveis utilizados no setor de transportes do Brasil, póde sêr produzido a partir de diversas matérias-primas, entre elas a cana-de-açúcar, o milho e o trigo. Uma das etapas envolvidas em sua produção é a fermentação, realizada por microrganismos.
a) Explique a via metabólica envolvida na produção do etanol.
b) A opção pelo etanol, em detrimento de combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina, póde produzir menos impactos ao ambiente. Contudo, póde trazer algumas desvantagens. Forme um grupo com seus côlégas e realizem uma pesquisa sobre as vantagens e as desvantagens associadas ao etanol, em comparação a combustíveis derivados do petróleo. Produzam um relatório com os resultados dessa pesquisa.
8. Analise a ilustração a seguir, quê representa d fórma esquemática uma organela celular.
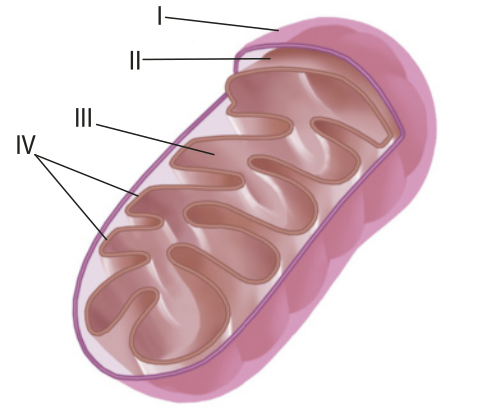
Considerando a ilustração e os seus conhecimentos sobre a organela representada, responda:
a) Que organela é representada na imagem? Identifique as estruturas quê estão representadas em I, II, III e IV.
b) Indique o processo metabólico realizado por essa organela, identificando suas etapas.
c) Qual(is) das etapas dêêsse processo metabólico ocorre(m) em III? E em IV?
9. Analise as afirmativas a seguir e corrija as falsas.
I. A fotossíntese e a quimiossíntese são processos catabólicos. A respiração celular e a fermentação são processos anabólicos.
II. A fotossíntese póde sêr dividida em duas etapas: fotoquímica e química. A etapa fotoquímica ocorre na presença de luz. A etapa química depende dos produtos formados na etapa fotoquímica e, portanto, também ocorre na presença de luz.
III. A glicólise é uma etapa comum à respiração celular e à fotossíntese.
IV. Todas as etapas da respiração celular ocorrem no interior da mitocôndria.
Página cinquenta e oito
Os grupos podem elaborar diferentes hipóteses para explicar o crescimento da massa do pão nas condições apresentadas no enunciado da Oficina científica. Para auxiliá-los nessa etapa, oriente-os a considerar os ingredientes presentes na receita (farinha de trigo, á gua e fermento biológico) e o metabolismo das leveduras.
Oficina científica
Entre as hipóteses estão quê o crescimento da massa do pão decorre: (a) apenas da presença de farinha de trigo; (b) apenas da presença de fermento biológico; (c) da presença simultânea de farinha de trigo e de fermento biológico.
Produtos do metabolismo
Enfatize quê hipóteses são propostas de explicações elaboradas na tentativa de responder a uma questão ou a um problema e quê, mesmo sêndo embasadas em conhecimentos prévios, elas podem sêr validadas ou refutadas por meio de processos investigativos.
Com isso, ao elaborar as hipóteses, os estudantes não precisam estar certos de quê estão dando as respostas corretas, uma vez quê irão testar essas explicações propostas ao longo do experimento para, então, validá-las ou refutá-las.
A produção de pães envolve, basicamente, o uso de três ingredientes: farinha de trigo, á gua e fermento biológico. O fermento biológico contém leveduras, fungos da espécie Saccharomyces cerevisiae, quê realizam fermentação alcoólica. Esses ingredientes são misturados no preparo da massa, a qual deve descansar antes de sêr assada, para quê cresça o suficiente.
Para determinar o tempo de descanso da massa de pão, é possível realizar um procedimento caseiro: colocar um pequeno pedaço de massa em um copo com á gua. Inicialmente, a massa ocupa o fundo do copo. Após cérto período, a massa sobe na coluna de á gua, indicando quê está pronta para ir ao fôrnu.
Forme um grupo com seus côlégas e elaborem uma hipótese para explicar o crescimento da massa do pão, considerando os ingredientes utilizados para seu preparo. Realizem a atividade a seguir para testar a hipótese do grupo.
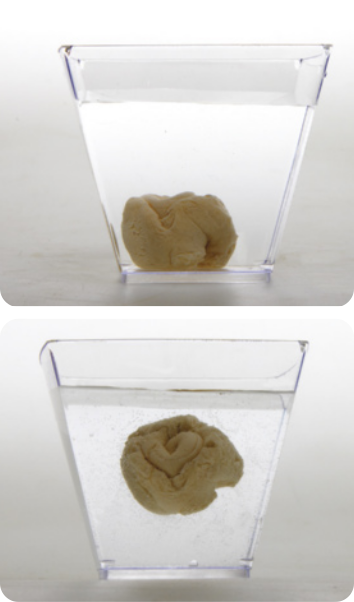
Materiais
• 4 garrafas de á gua descartável de 500 mL de capacidade;
• 4 balões de borracha;
• 1.000 mL de á gua morna;
• 240 g de farinha de trigo;
• 240 g de fermento biológico;
• 240 g de açúcar;
• 4 funís (1 para a á gua; 1 para a farinha; 1 para o fermento biológico; 1 para o açúcar).
A medida aproximada de 120 gramas equivale a ½ xícara.
Caso disponha de somente um funil, ele deve sêr lavado e enxugado após cada utilização.
Procedimentos
• Coloquem os seguintes ingredientes em cada uma das garrafas.
Ingrediente |
Garrafa 1 |
Garrafa 2 |
Garrafa 3 |
Garrafa 4 |
|---|---|---|---|---|
Água |
250 mL |
250 mL |
250 mL |
250 mL |
Farinha de trigo |
- |
120 g |
- |
120 g |
Fermento biológico |
- |
- |
120 g |
120 g |
• Encaixem os balões na bôca de cada garrafa, aguardem 30 minutos e anotem os resultados.
ATIVIDADES
1. dêz-creva e explique os resultados observados em cada uma das garrafas.
2. Os resultados obtidos possibilitam a validação da hipótese levantada pelo grupo? Explique sua resposta.
3. Substitua a farinha de trigo por açúcar e compare os resultados. Para ajudar nessa comparação, utilize um cronômetro e tire fotografias dos resultados. Em seguida, explique os resultados obtidos. Se necessário, faça uma pesquisa.
Página cinquenta e nove
Saiba mais
A fermentação da mandioca por indígenas brasileiros
Originária da América do Sul, a mandioca (Manihot esculenta) póde sêr conhecida por diferentes nomes, como macaxeira, aipim e maniva. Popularmente, é possível agrupar suas variedades em dois tipos: mandioca-mansa e mandioca-brava. Essa classificação considera os níveis de ácido cianídrico presentes nas fô-lhas e nas raízes da mandioca, quê, em alta quantidade, póde sêr tóxico aos sêres vivos.
No caso da mandioca-mansa, o teor dessa substância é baixo. Ela póde sêr consumida logo após o cozimento. Em contrapartida, a mandioca-brava apresenta elevado teor de ácido cianídrico e, por isso, precisa passar por alguns processos para eliminar sua toxicidade.
Diversos povos indígenas da Amazônea realizam técnicas de preparo da mandioca-brava para a produção de alimentos típicos de sua cultura, como o tucupi, a farinha, o beiju e a tapioca.
Em uma das técnicas mais difundidas, a mandioca é colocada durante a noite em um riacho até quê comece uma leve fermentação. Nesse processo, parte do ácido cianídrico é inativado pela ação dos microrganismos. Em seguida, a mandioca é descascada, ralada e passa pelo tipiti, uma prensa desenvolvida pêlos indígenas, de modo a extrair uma porção líquida, separando-a do restante da massa. O líquido extraído é deixado no sól para nova fermentação e, posteriormente, fervido. Esses processos auxiliam a eliminar o restante do ácido cianídrico. O líquido é utilizado para fazer o tucupi, e a massa é torrada em fôrnos para fazer farinha.

ATIVIDADES
1. Parte da retirada do ácido cianídrico da mandioca ocorre por meio da fermentação láctica. Esse processo também é realizado para a obtenção de outros produtos para o consumo humano. Cite alguns dêêsses produtos.
2. O tipiti é uma invenção indígena. Faça uma pesquisa e dêz-creva sua utilização e o significado de seu nome.
3. O tucupi, produzido a partir da mandioca, possui diversas finalidades na culinária indígena. Forme um grupo com três côlégas e façam uma pesquisa em sáites e fontes confiáveis sobre como esse ingrediente póde sêr utilizado. Selecionem duas receitas quê utilizam o tucupi e, em conjunto com a turma, elaborem um livro de receitas digital.
Página sessenta
TEMA
5
O Universo e as condições para a vida
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
Em 2015, por meio do telescópio espacial Képler, foi descoberto um planêta fora do Sistema Solar quê foi chamado de Kepler-452b. Considerado um"primo" da Terra, ele é um dos planêtas conhecidos até 2024 quê apresenta mais características semelhantes às da Terra.
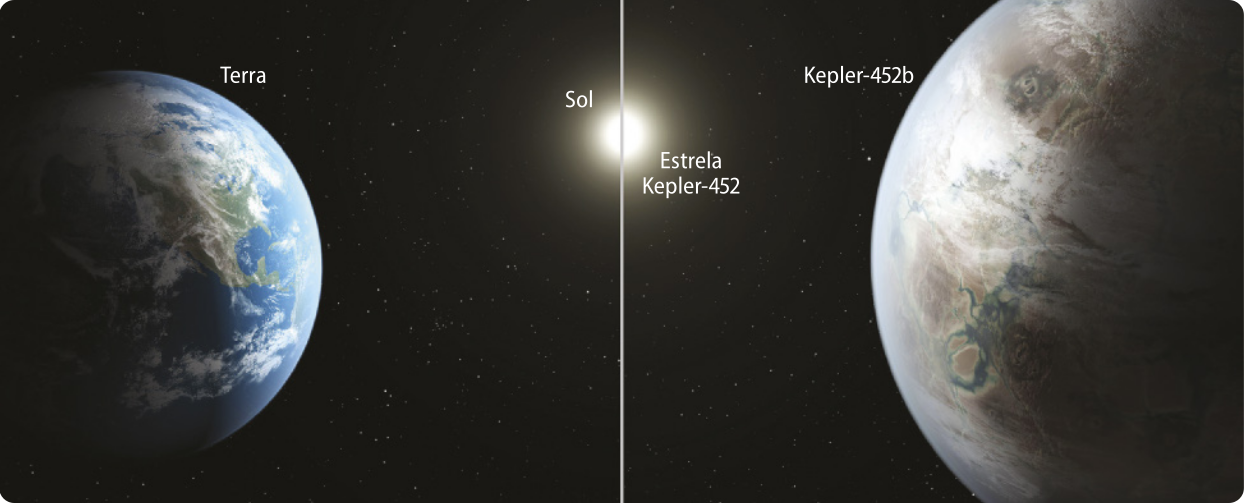
O planêta Kepler-452b é 60% maior do quê a Terra. Dados obtidos pelo telescópio mostram quê ele realiza uma volta completa em torno da sua estrela, a Kepler-452, em aproximadamente 385 dias, a uma distância próxima à quê o planêta Terra se encontra do Sol. Além díssu, a estrela Kepler-452 tem tamãnho, brilho e tempera-túra semelhantes ao Sol. Essas e outras características tornam esse planêta um candidato à busca por evidências de algum tipo de vida.
Mas o quê é preciso para ter vida em um planêta? Antes de responder a essa pergunta, talvez seja importante responder à outra: o quê há no Universo? Esses são alguns dos assuntos apresentados neste Tema.
PENSE E RESPONDA
1 O quê existe no Universo?
2 Quais são as principais condições para quê um planêta possa abrigar vida como a conhecemos?
3 Existem algumas explicações sobre o surgimento do Universo e da vida na Terra. Você conhece alguma? Explique-a.
Página sessenta e um
Explique aos estudantes quê o movimento realizado pêlos astros no céu é aparente. É importante quê os estudantes compreendam quê não são somente as estrelas quê se movimentam em relação à Terra, mas também a Terra quê se movimenta em relação às estrelas, uma vez quê o movimento é sempre relativo ao referencial adotado. Devi do aos movimentos descritos pela Terra, observa-se quê as constelações não são fixas no céu noturno. Mencione quê o astrolábio é um instrumento quê determina a latitude com base na observação da altura dos astros em relação ao horizonte.
Universo e ssossiedade
Ao abordar temáticas associadas ao Universo, é necessário considerar os aspectos relacionados à ssossiedade e não só os aspectos científicos. Isso porque o encantamento dos sêres humanos pêlos astros póde sêr evidenciado em diversos povos por meio de suas manifestações artísticas, crenças, côstúmes e mitologia.
A interpretação do movimento dos astros no céu, quê se repete de maneira cíclica, auxiliou diversos povos a fazer previsões sobre a chegada das estações do ano, os melhores momentos de plantio e colheita, as épocas de cheia dos rios, entre outras.
A observação dos astros também auxiliava na orientação espacial. A navegação marítima, por exemplo, baseou-se por muito tempo na posição dos astros no céu, quê podiam sêr interpretadas com o auxílio de um astrolábio. Estrelas, como a Polar (ou Polaris), localizada na constelação Ursa Menor, servia como guia para os marinheiros localizarem o norte.
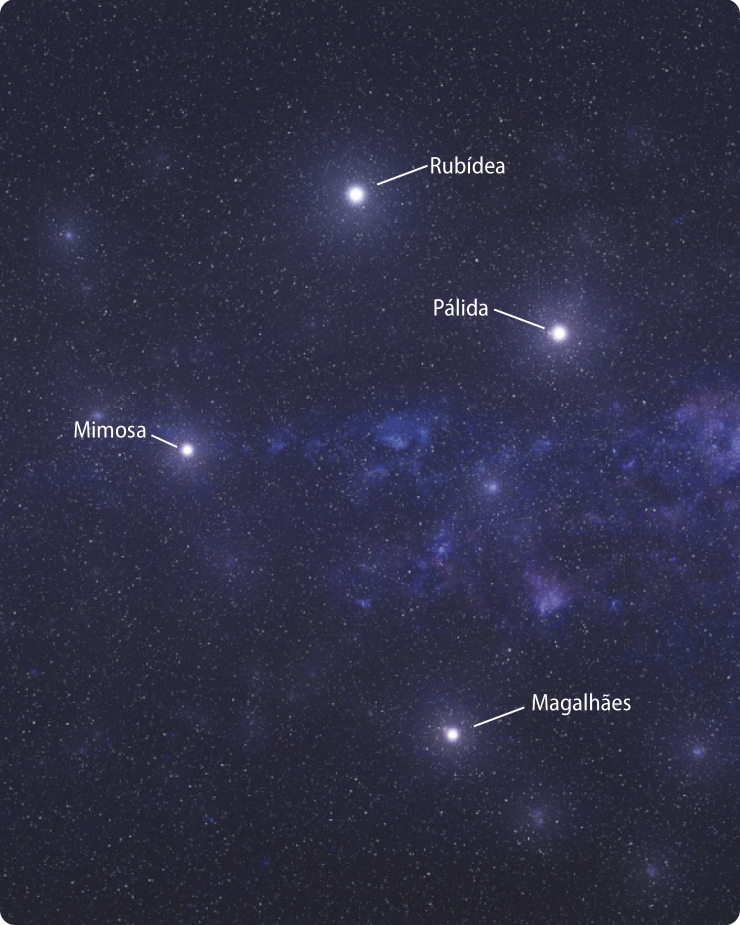
Alguns povos indígenas brasileiros utilizavam a constelação Cruzeiro do Sul para se orientarem. Eles sabiam quê, quando a cruz formada entre as estrelas (popularmente conhecidas como Mimosa, Rubídea, Pálida e Magalhães) estava em pé, o prolongamento de seu braço maior apontava para o sul.
Os astros também têm influência na cultura dos povos, e muitos deles criaram mitos sobre o Sol, a Lua, as constelações, os eclipses etc. Os indígenas tupis-guaranis explicam a origem da Terra, do Sol e da Lua pela lenda de Nhamandu. De acôr-do com essa lenda, antes do início de tudo, existia Nhamandu, quê apenas com um sôpro criou Kuaray. Kuaray, então, fez surgir Tupã a partir de seu coração. Tupã, ao dançar e cantar, criou vários mundos, as estrelas e a Terra. Embora essas explicações não sêjam elaboradas a partir do pensamento científico, elas são importantes elemêntos quê constituem a cultura de um povo.
A origem, organização, estrutura e evolução do Universo são temas de investigação da Cosmologia. Esses assuntos serão estudados a seguir.
PENSE E RESPONDA
4 Faça uma pesquisa e conheça a lenda de Nhamandu, usada pelo povo tupi-guarani para contar a origem do Sol e da Lua. escrêeva em seu caderno os resultados de sua pesquisa.
Página sessenta e dois
Origem e expansão do Universo
Existem algumas teorias sobre a origem e a evolução do Universo. A mais aceita atualmente considera quê o Universo se iniciou a partir de uma singularidade quê, devido a uma grande instabilidade, explodiu e expandiu.
Segundo essa teoria, conhecida como Big béng, tudo o quê conhecemos só começou a tomar forma cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, devido à expansão de um único ponto no espaço, com tempera-túra e densidade infinitamente altas – uma singularidade – quê liberou toda a matéria e a energia quê existe.
A partir da liberação gigantesca de energia originada no núcleo dêêsse ponto, o Universo passou a se expandir, resfriar e formár matéria. Então, foram se originando as estrelas, as galáksias e os planêtas. Desde o Big béng, o Universo continua a se expandir aceleradamente.
O esquema a seguir apresenta, de maneira resumida, uma sequência de alguns eventos quê teriam ocorrido após o Big béng.
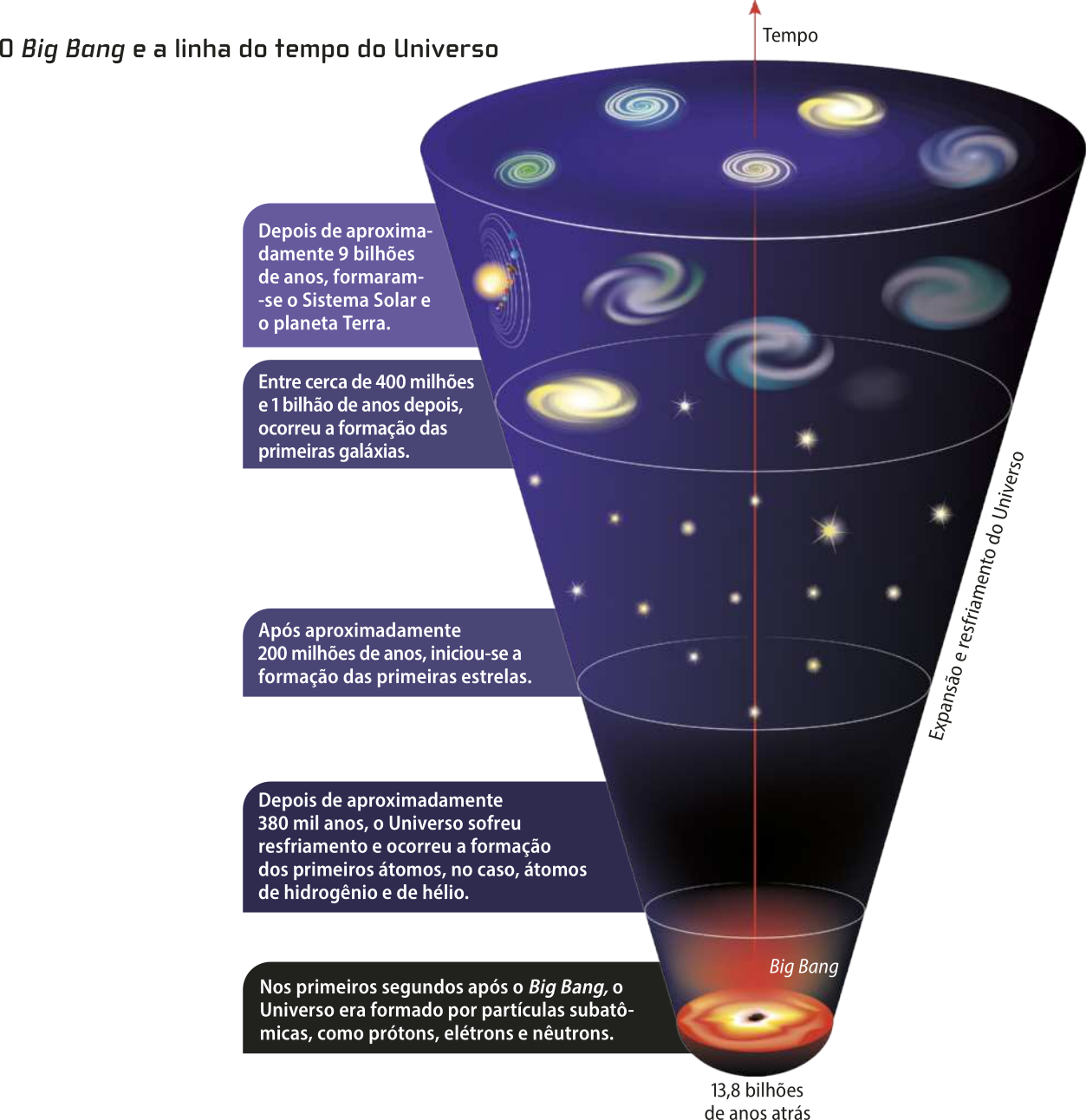
Fonte: NÉCHIONAL AERONAUTICS ênd SPÊICE ADMINISTRATION. Cosmic rístorí. [Washington, D.C.]: Nasa, [2024]. Disponível em: https://livro.pw/naefg. Acesso em: 16 ago. 2024.
PENSE E RESPONDA
5 Forme um grupo com seus côlégas e realizem uma pesquisa sobre outro modelo explicativo para a origem e a evolução do Universo. Organizem uma apresentação digital a partir dos resultados da pesquisa e a compartilhem com a turma.
Página sessenta e três
Estrutura do Universo
O desenvolvimento de tecnologias relacionadas às propriedades da luz e a produção de telescópios cada vez mais potentes permitiram grandes avanços no conhecimento a respeito da estrutura do Universo. Observe o esquema a seguir, quê apresenta a estrutura do Universo a partir da localização da Terra.
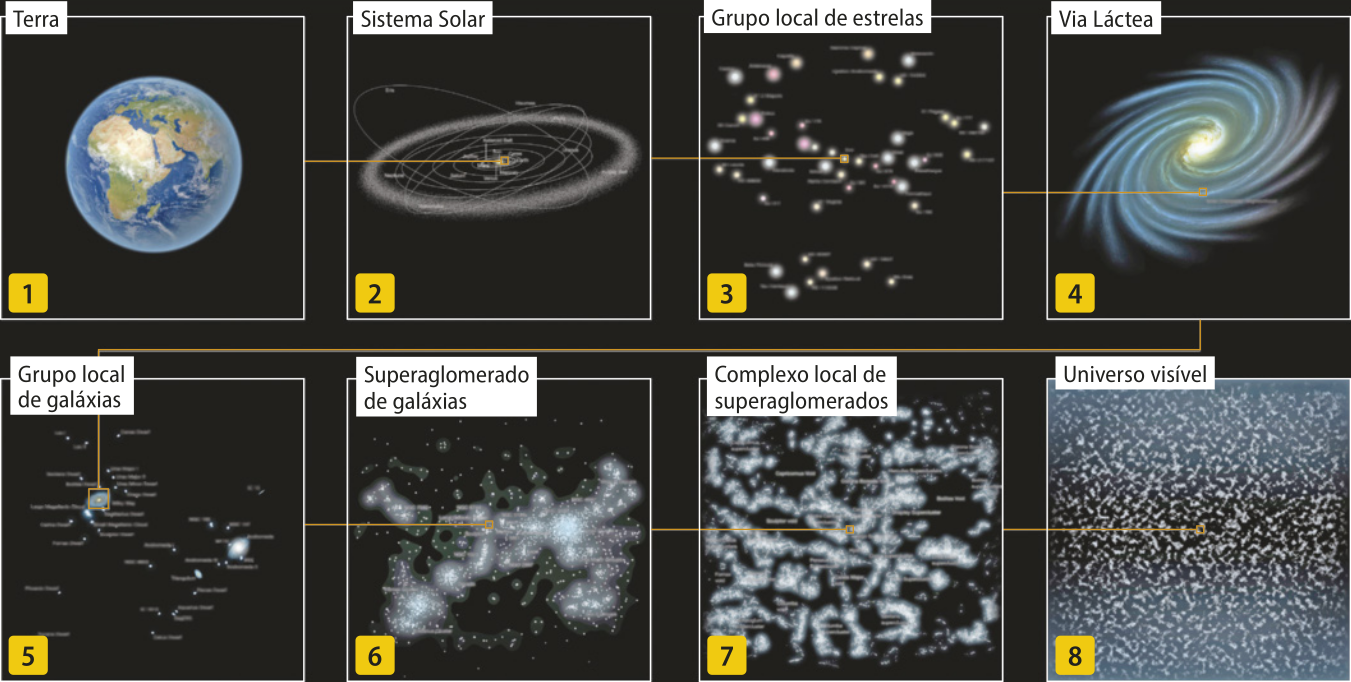
Fonte: OLIVEIRA FILHO, Képler de Souza; SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira. Astronomia e astrofísica. 3. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2017. p. 621-625.
A Terra (1) é um dos planêtas presentes no Sistema Solar (2) – sistema de corpos celéstes quê orbitam o Sol. Ele, junto de outras 19 estrelas, compõem um grupo local de estrelas (3). Bilhões ou trilhões de grupos de estrelas formam uma galáksia. A Via Láctea (4) é a galáksia em quê está o Sistema Solar. Ela, por sua vez, faz parte de um grupo local de galáksias (5) com aproximadamente outras 50 galáksias. Vários grupos de galáksias juntos formam um superaglomerado de galáksias (6). O superaglomerado de Virgem, formado por aproximadamente 2 500 galáksias, contém a Via Láctea. Vários superaglomerados formam um complékso local de superaglomerados (7), quê, por sua vez, formam o Universo visível (8) – porção observável do Universo.

Página sessenta e quatro
Sistema Solar
O Sistema Solar é formado pelo Sol, planêtas, planetas-anões, luas, asteroides, meteoroides e cometas.
Planetas-anões: corpos celéstes quê, assim como os planêtas, giram em torno do Sol e têm gravidade suficiente para lhes dar forma aproximadamente esférica. No entanto, esses corpos não possuem gravidade suficiente para ocupar e descrever uma órbita específica ao redor do Sol e, portanto, compartilham a órbita com outros corpos celéstes. Os planetas-anões do Sistema Solar, em ordem de proximidade do Sol, são: Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Éris. Segundo a União Astronômica Internacional, póde existir mais de uma centena de planetas-anões ainda não descobertos no Sistema Solar.
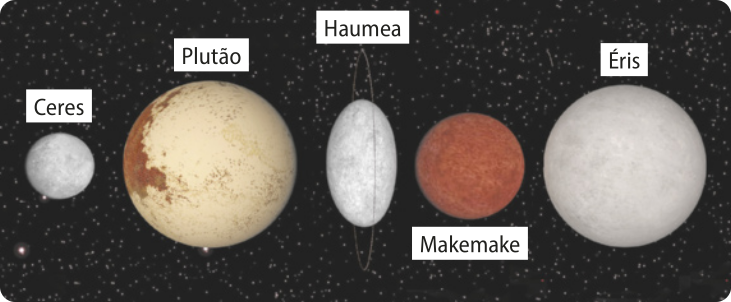
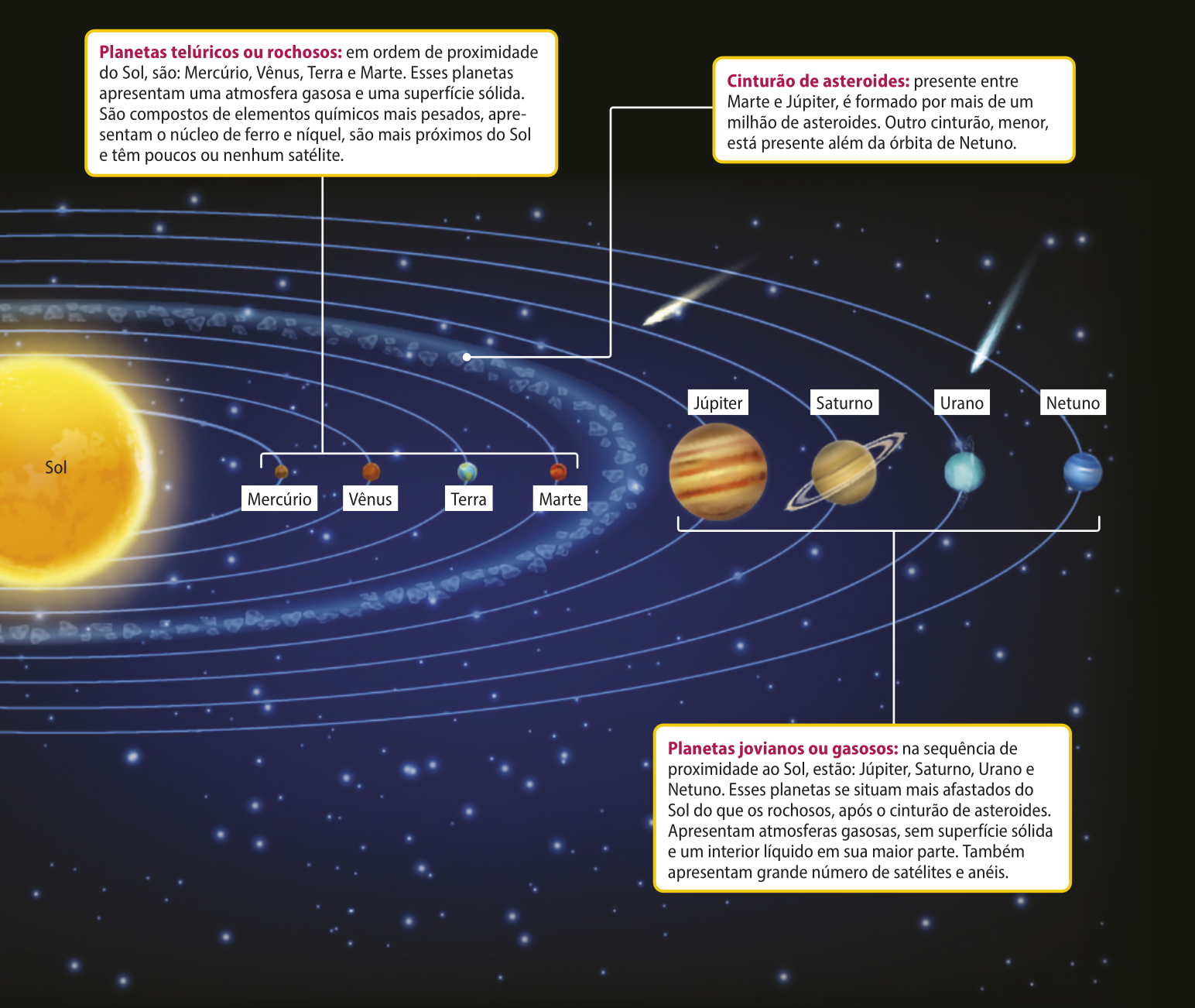
Página sessenta e cinco
Cometas: corpos de massa pequena recobertos de gêlo. Quando sua órbita passa próximo ao Sol, são iluminados e aquecidos, liberando poeira e gases na forma de uma cauda típica.
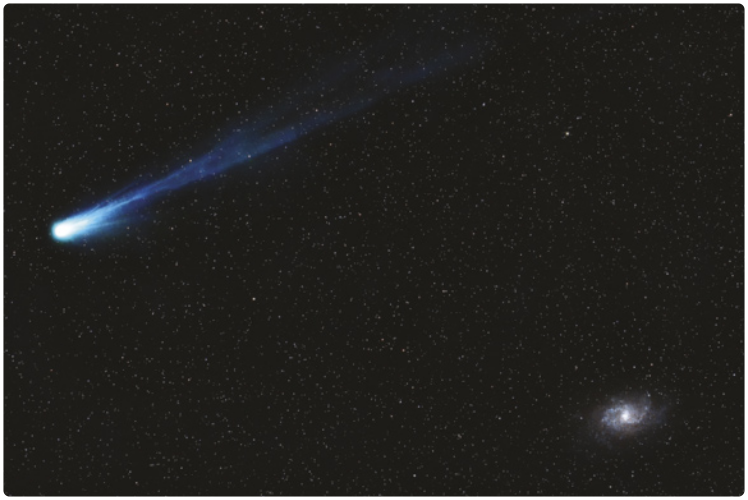
Asteroides: blocos de rocha quê orbitam o Sol e são menóres do quê um planêta. A contagem atual ultrapassa 1.350.000 asteroides conhecidos.
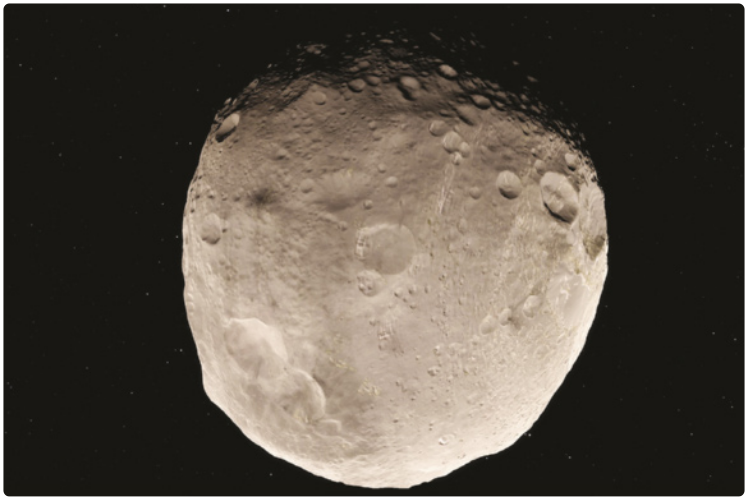
Meteoroides: são róchas menóres do quê os asteroides quê vagam pelo Sistema Solar. Quando atingem a Terra, eles se incendeiam na atmosféra e passam a sêr chamados de meteoro, ou, popularmente, de estrela cadente. Quando atingem o solo, recebem o nome de meteorito.
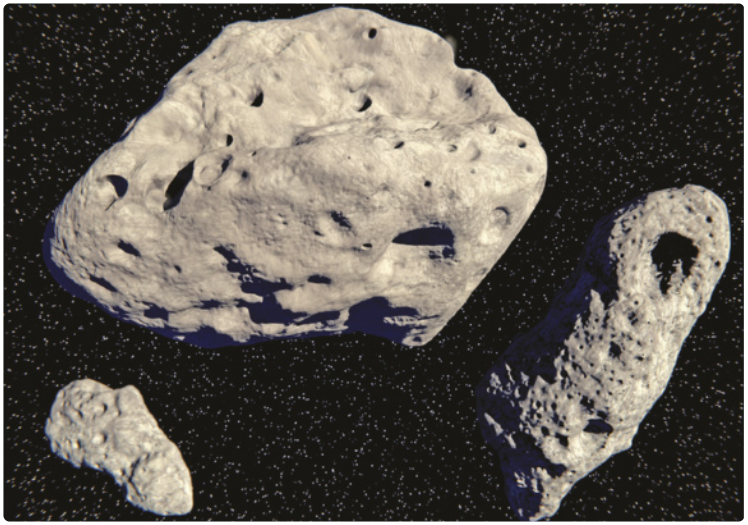
Luas: são corpos celéstes quê orbitam planêtas, planetas-anões ou grandes asteroides. Existem mais de 280 luas no Sistema Solar.
Planeta |
número de luas |
|---|---|
Mercúrio |
0 |
Vênus |
0 |
Terra |
1 |
Marte |
2 |
Júpiter |
95 |
Saturno |
146 |
Urano |
28 |
Netuno |
16 |
Fonte: NÉCHIONAL AERONAUTICS ênd SPÊICE ADMINISTRATION.
Moons ÓF our Solar System. [Washington, D.C.]: Nasa, [2024]. Disponível em: https://livro.pw/siqtn. Acesso em: 21 set. 2024.
Página sessenta e seis
A vida no Universo
Determinar quais são as condições necessárias à existência de vida em algum local do Universo não é uma tarefa simples. Mas, por meio de estudos com base nas características da vida na Terra, é possível considerar quê, para sua manifestação, alguns fatores são primordiais.
A presença de uma fonte de energia constante e de matéria OR GÂNICA é fundamental para a manifestação da vida na Terra. Ainda assim, esses fatores podem não sêr limitantes para o desenvolvimento da vida em outro lugar no Universo. Desse modo, para muitos cientistas, a existência de á gua no estado líquido é a condição mais importante para possibilitar a existência de vida. Nesse caso, também devem sêr consideradas as condições quê permitem existir á gua nesse estado, como a presença de uma atmosféra quê auxilie na manutenção da tempera-túra.
A região ao redor de uma estrela cuja radiação emitida permite tempera-túras suficientes para quê a á gua seja encontrada no estado líquido constitui a zona habitável de um sistema planetário. Nesse sentido, os planêtas localizados em zonas habitáveis podem conter á gua líquida e, consequentemente, abrigar vida, como é o caso do planêta Kepler-452b, citado no início dêste Tema.
Considere a zona habitável do Sistema Solar representada a seguir. Apenas o planêta Terra está localizado na faixa de habitabilidade. Observe qual seria a zona habitável de outros possíveis sistemas planetários quê tivessem estrelas de massa superior ou inferior à do Sol.
PENSE E RESPONDA
6 Analise a representação da zona habitável do Sistema Solar a seguir.
Considere quê outro sistema é formado pêlos planêtas X e Y, os quais orbitam a estrela Z. Em qual dêêsses planêtas há maior probabilidade de existir vida? Explique sua resposta.
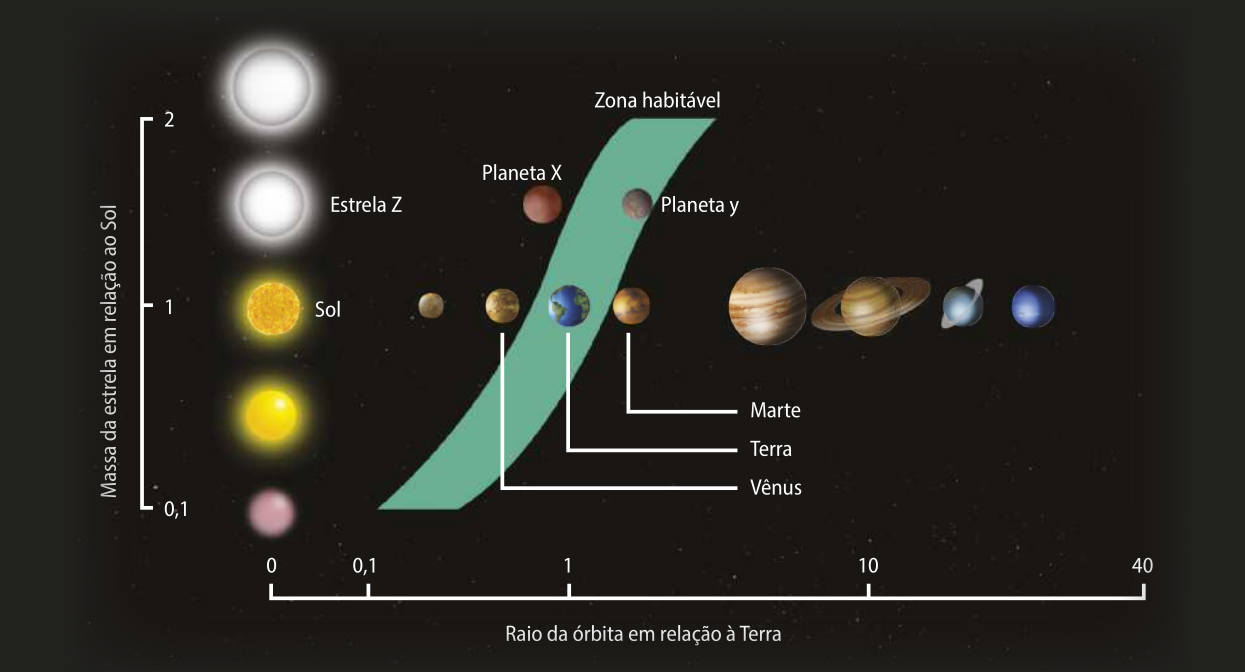
GALANTE, Douglas éti áu. (org.) Astrobiologia: uma ciência emergente. São Paulo: Tikinet: Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, 2016. p. 76. Disponível em: https://livro.pw/glcap. Acesso em: 17 out. 2024.
Página sessenta e sete
A busca por vida fora da Terra
O principal critério para quê um astro tenha condições de abrigar vida é a presença de á gua no estado líquido. Por isso, a busca por planêtas em zonas habitáveis é foco de pesquisas e explorações e inclui o planêta Marte e algumas luas de nosso Sistema Solar quê podem apresentar essa condição, mesmo estando fora da zona habitável.
Alguns cálculos estimam quê exista pelo menos um planêta para cada estrela da Via Láctea. Isso significa quê há algo da ordem de bilhões de planêtas apenas nesta galáksia, muitos na faixa de tamãnho da Terra. Esses planêtas fora do Sistema Solar são conhecidos como exoplanetas.
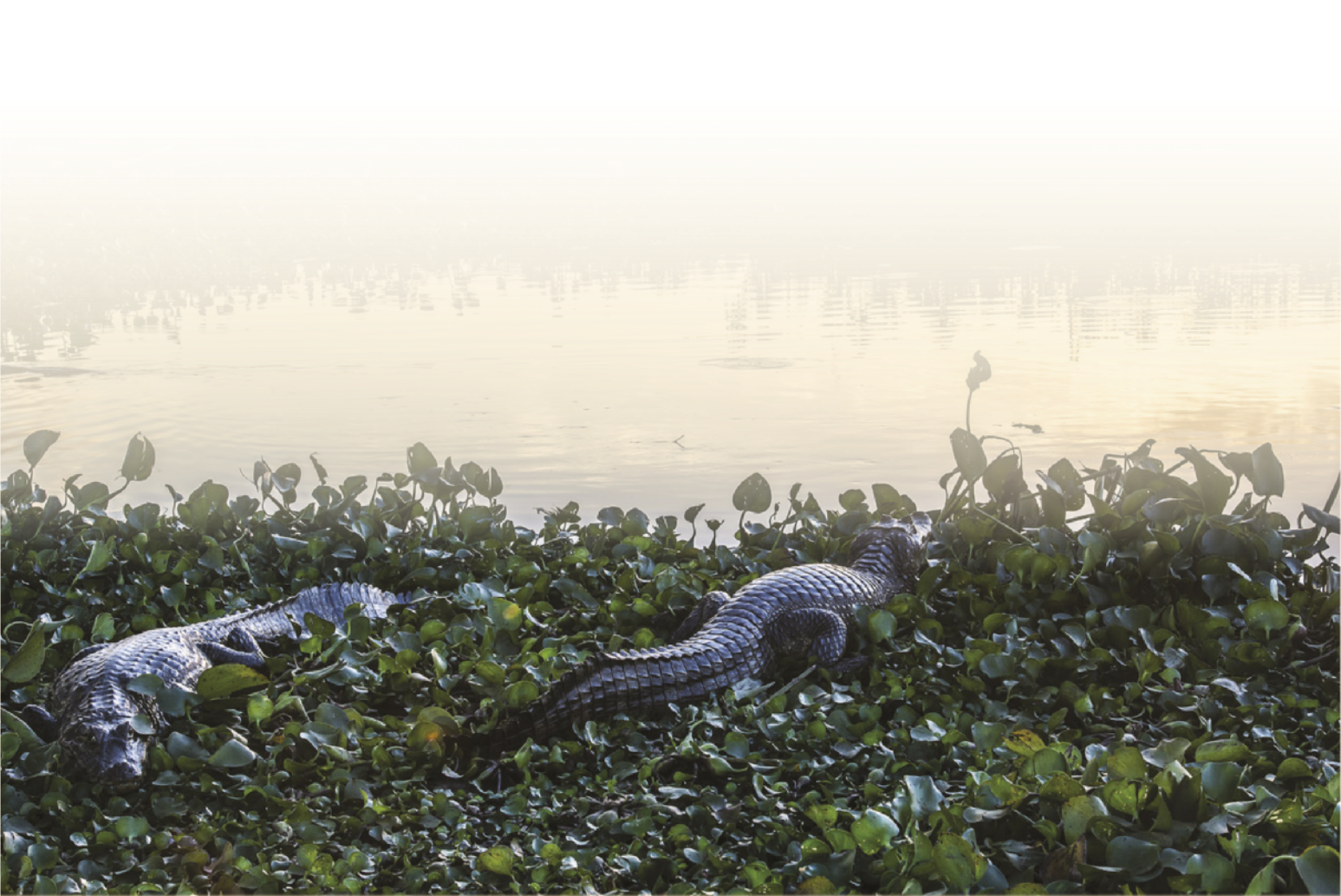
Para fins de comparação, os exoplanetas são classificados de acôr-do com seus tamanhos em relação aos planêtas do Sistema Solar.
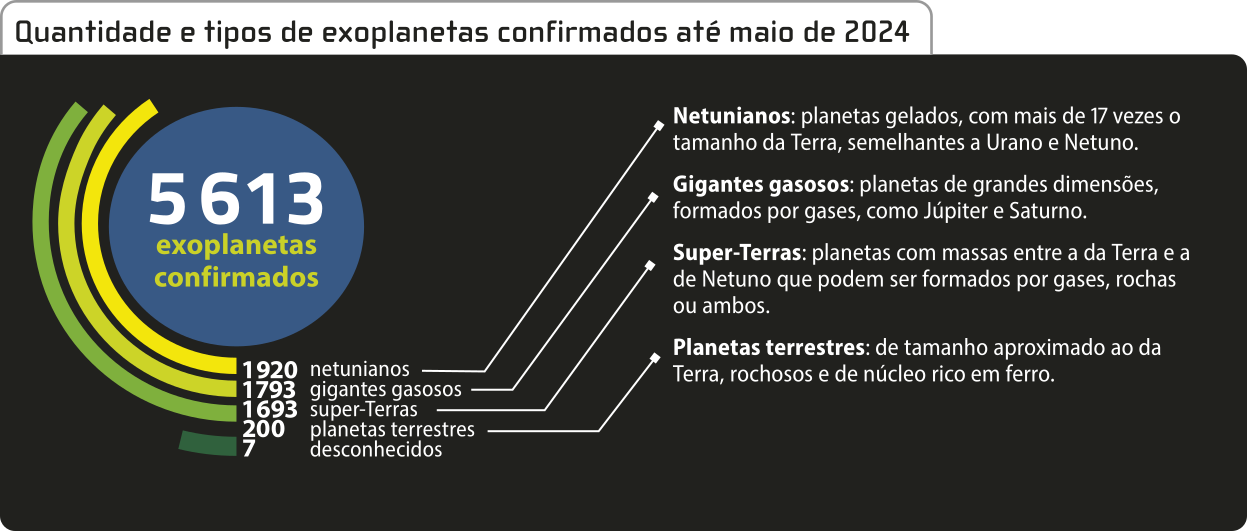
Fonte: NÉCHIONAL AERONAUTICS ênd SPÊICE ADMINISTRATION. Exoplanet catalog. [Washington, D.C.]: Nasa, [2024]. Disponível em: https://livro.pw/jokvm. Acesso em: 10 jul. 2024.
Página sessenta e oito
PENSE E RESPONDA
7 Que outros corpos celéstes do Sistema Solar podem ter condições para abrigar vida? Faça uma pesquisa sobre o assunto.
O planêta Marte e uma das luas de Júpiter, Europa, são locais prioritários para os cientistas na busca por vida fora da Terra. Marte, por exemplo, foi habitável há bilhões de anos, com rios e lagos de á gua líquida e uma atmosféra mais densa, quê favorecia a manutenção de sua tempera-túra. Já Europa possui um oceano líquido abaixo de uma crôsta de gêlo com 16 a 24 quilômetros de espessura. Depósitos de materiais orgânicos já foram encontrados, indicando um potencial local para a vida se desenvolver.
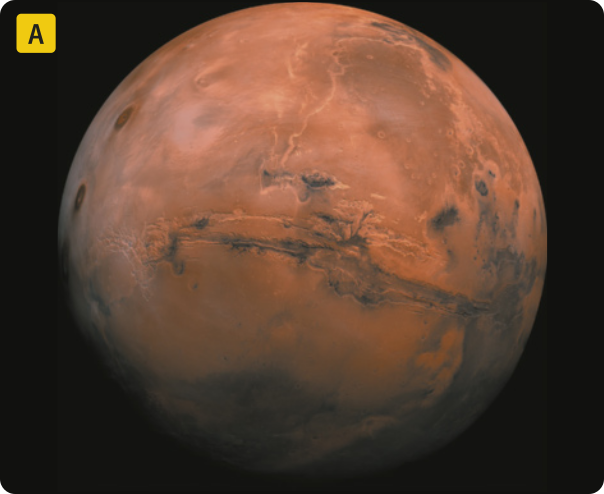

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• Após um acidente, um astronauta é abandonado em Marte por seus côlégas e precisa utilizar seus conhecimentos para sobreviver e retornar à Terra. Para conhecer essa história, assista ao filme Perdido em Marte, direção de Ridley scót. Estados Unidos, 2015.
ATIVIDADES
1. O quê foi o Big béng?
2. O quê existe no Sistema Solar?
3. O quê é uma zona habitável?
4. Quais condições foram primordiais para o desenvolvimento de vida na Terra?
5. Considere quê você vai escrever um livro sobre outras civilizações fora da Terra. Embora sua obra seja do gênero ficção científica, ele deve se basear em elemêntos científicos. Em seu caderno, faça uma breve descrição de onde e como seria o local em quê essa história se passaria. Elabore também um resumo de como seria essa história. Ao final, destaque os elemêntos exclusivos de ficção científica quê você utilizou e os elemêntos aceitos pela Ciência contemporânea.
6. Atualmente, somente uma parte da população brasileira consegue olhar para o céu e ter uma vista semelhante à quê mostra a imagem a seguir.

Página sessenta e nove
Considerando as informações apresentadas e os seus conhecimentos sobre o assunto, faça o quê se propõe a seguir.
a) O quê é a Via Láctea? por quê ela tem esse nome? Se preciso, faça uma pesquisa.
b) Faça uma pesquisa e explique por quê apenas uma pequena parte da população brasileira consegue ter a vista retratada pela imagem.
c) É possível observar a Via Láctea da região onde você mora? Converse com os seus côlégas sobre possíveis estratégias para observar o céu.
7. Leia o texto a seguir.
Constelações são agrupamentos aparentes de estrelas os quais os astroônomos da antigüidade imaginaram formár figuras de pessoas, animais ou objetos. Numa noite escura, pode-se vêr entre 1000 e 1500 estrelas, sêndo quê cada estrela pertence a alguma constelação. As constelações nos ajudam a separar o céu em pôr-ções menóres, mas identificá-las é em geral muito difícil.
Uma constelação fácil de enxergar é Órion [...]. Para identificá-la, devemos localizar 3 estrelas próximas entre si, de mesmo brilho, e alinhadas. Elas são chamadas Três Marias e formam o cinturão da constelação de Órion, o caçador. Seus nomes são Mintaka, Alnilam e Alnitak [...]. O vértice nordeste do quadrilátero é formado pela estrela avermelhada Betelgeuse, [...] quê marca o ombro direito do caçador. [...]. Como vemos no hemisfério sul, Órion aparece de ponta-cabeça. Segundo a lenda, Órion estava acompanhado de dois cães de caça, representados pelas constelações do Cão Maior e do Cão Menor. A estrela mais brilhante do Cão Maior, Sírius [...], é também a estrela mais brilhante do céu e é facilmente identificável a sudéste das Três Marias. Procyon [...] é a estrela mais brilhante do Cão Menor e aparece a leste das Três Marias. Betelgeuse, Sírius e Procyon formam um grande triângulo [...].
OLIVEIRA FILHO, Képler de Souza; SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira. Constelações. Porto Alegre: Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 11 jun. 2022. Disponível em: https://livro.pw/ybgrw. Acesso em: 17 out. 2024.
As imagens a seguir representam a identificação da constelação de Órion.



Considerando as informações apresentadas pelo texto e pelas imagens, bem como os seus conhecimentos sobre o assunto, faça o quê se propõe a seguir.
a) Reproduza o desenho da constelação de Órion em seu caderno e identifique as estrelas citadas no texto.
b) Qual é a influência dos astros do Universo na ssossiedade?
c) O quê é uma constelação?
d) As estrelas citadas no texto fazem parte de três constelações diferentes, presentes na Via Láctea. Quais são essas estrelas e quais são as constelações a quê pertencem?
e) Acesse o simulador no sáiti https://livro.pw/cvqgs (acesso em: 11 set. 2024) e depois:
• defina sua localização;
• faça uma pesquisa digitando Orion;
• se necessário, acelere o tempo para quê Orion fique visível acima da linha do horizonte;
• encontre Betelgeuse, Sirius e Procyon;
• selecione “Constellations” e “Constellations Art” e obissérve o quê acontece;
• realize outras simulações.
Página setenta
Saiba mais
Exploração espacial: a busca por vida fora da Terra começa aqui
Desde tempos antigos, a curiosidade sobre o Universo impulsiona o sêr humano a buscar respostas para uma importante pergunta: “estamos sózínhos no Universo?”. Se a resposta for “sim”, surgem questionamentos sobre nossa importânssia em preservar um planêta único no Universo. Se for “não”, novas kestões emergem sobre como seriam essas formas de vida – microrganismos ou sêres inteligentes capazes de comunicação.
A busca por vida fora da Terra também envolve outras kestões, como a sobrevivência a longo prazo da humanidade. Diante de desafios, como mudanças climáticas, crescimento populacional e esgotamento de recursos, encontrar ambientes habitáveis em outros planêtas póde sêr uma alternativa para garantir a continuidade da civilização humana.
Essa exploração não apenas ajuda a responder perguntas sobre o Universo mas também amplia o entendimento sobre a Biologia e as condições necessárias para a vida. Ao estudar ambientes extremos na Terra, como as zonas hadais dos oceanos – regiões profundas, de alta pressão, baixa tempera-túra e escuridão –, os cientistas podem encontrar pistas sobre as possíveis condições de vida em outros planêtas. Essas zonas extremas são similares aos ambientes quê podem existir em planêtas distantes, oferecendo ideias sobre onde e como procurar vida extraterrestre.
A busca por vida fora da Terra vai além da descoberta do quê há em outros planêtas; ela também nos ajuda a entender melhor a Terra e o fenômeno da vida, incluindo a vida humana. Ao olhar para as estrelas, a humanidade caminha para um conhecimento cada vez maior sobre a Terra. E ainda há tanto a se descobrir!

ATIVIDADES
1. O texto apresenta argumentos favoráveis à exploração espacial. Contudo, alguns cientistas afirmam quê os altos custos das missões espaciais na busca por vida fora da Terra deveriam sêr revertidos para áreas de pesquisa quê tênham aplicação diréta para resolver problemas em nosso planêta. Como você se posiciona em relação ao investimento em missões espaciais relacionadas à busca por vida extraterrestre? Converse com seus côlégas e anote as principais ideias em seu caderno.
2. Elabore uma tirinha, uma música ou um poema quê represente e contraste ambos os entendimentos em relação à exploração espacial.
Página setenta e um
TEMA
6
Origem da vida na Terra
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
O surgimento da vida é um dos assuntos quê desperta o interêsse e a curiosidade humana. Ao longo do tempo, diversos povos criaram explicações próprias de como os sêres vivos surgiram no planêta, tendo como base crenças e côstúmes de sua cultura. Leia, por exemplo, o mito dos indígenas brasileiros kaingangs sobre a origem de seu povo.
A tradição dos kaingang afirma quê os primeiros da sua nação saíram do solo; por isso têm côr de térra. Numa serra, [...] no sudéste do estado do Paraná, dizem eles quê ainda hoje podem sêr vistos os buracos pêlos quais subiram. Uma parte deles permaneceu subterrânea; essa parte se conserva até hoje lá e a ela se vão reunir as almas dos quê morrem, aqui em cima. Eles saíram em dois grupos chefiados por dois irmãos, Kayrú e Kamé [...]
Como esses dois irmãos com a sua gente foram os criadores das plantas e dos animais, e povoaram a Terra com os seus descendentes, tudo neste mundo pertence ou à mêtáde Kayrú ou à mêtáde Kamé [...].
[...]
CONSELHO DE MISSÃO ENTRE POVOS INDÍGENAS. Mitos kaingang. [Porto Alegre]: Comin, [2019]. Disponível em: https://livro.pw/vahid. Acesso em: 29 set. 2024.

Além de constituir parte da cultura das populações humanas, o tema origem da vida também é objeto de estudo da comunidade científica. A esse respeito, diversos quêstionamentos já foram levantados, entre eles: de que maneira a vida teria surgido na Terra? Que características as primeiras formas de vida teriam apresentado?
Com o desenvolvimento da tecnologia e o avanço dos estudos, muitas dessas perguntas puderam sêr respondidas, assim como outras ainda mantêm lacunas quê incentivam os pesquisadores a buscar respostas.
Neste Tema, serão estudados alguns aspectos relacionados à origem da vida, conhecendo diferentes hipóteses formuladas para explicar esse fenômeno.
PENSE E RESPONDA
1 Você conhece outros mitos ou lendas quê falam sobre a origem da vida? Se sim, compartilhe-os com seus côlégas.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• Os mitos fazem parte da cultura de muitos povos indígenas brasileiros. Eles representam sua história, seus modos de vida, seus côstúmes e suas tradições. Conheça alguns dêêsses mitos no livro a seguir.
Página setenta e dois
Abiogênese vérsus biogênese
Durante muitos séculos, acreditava-se quê sêres vivos pequenos, como moscas, vermes e cogumélos, poderiam sêr originados a partir da matéria inanimada. Essa ideia era denominada geração espontânea ou abiogênese.
A geração espontânea foi, por muito tempo, defendida por filósofos e cientistas, como o médico belga Jan batista vã Helmont (1580-1644). Ele afirmava quê, em poucas semanas, ratos poderiam surgir espontaneamente em cês tos quê continham espigas de milho e camisas sujas de suor.
No entanto, com o avanço dos estudos científicos, a origem de novas gerações de sêres vivos foi elucidada. Atualmente, sabe-se quê os sêres vivos se originam a partir de outros já existentes, por meio da reprodução. Essa teoria é conhecida como biogênese.
PENSE E RESPONDA
2 Considerando quê o tempo de gestação dos ratos é de 18 a 21 dias, elabore uma hipótese para explicar o aparecimento de filhotes de ratos em cês tos quê armazenavam espigas de milho e roupas sujas.
O experimento de Redi
Entre os cientistas quê questionavam a geração espontânea dos sêres vivos estava o naturalista italiano Frantiesco Redi (1626-1697). Em um de seus experimentos, Redi colocou pedaços de carne crua no interior de recipientes de vidro, mantendo parte deles coberta por uma tela e outra parte, aberta. Após alguns dias, observou o surgimento de larvas sobre os pedaços de carne mantidos nos recipientes abertos, enquanto nada aparecera sobre a carne quê estava nos recipientes cobertos com tela.

Elaborada com base em: ZAIA, Dimas A. M.; ZAIA, Cássia T. B. V.; CARNEIRO, Cristine E. A. Química prebiótica: a química da origem da vida. In: GALANTE, Douglas éti áu. (org.). Astrobiologia: uma ciência emergente. São Paulo: Tikinet Edição: Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, 2016. p. 96.
Ao analisar os resultados dêêsse experimento, Redi concluiu quê as larvas eclodiram de ovos colocados ali por moscas adultas, o quê não ocorreu nos recipientes cobertos por tela porque as moscas não conseguiam acessar os pedaços de carne. A partir dessa conclusão, Redi argumentou contrariamente à geração espontânea, demonstrando quê as larvas eclodiram a partir de ovos depositados por moscas adultas.
Página setenta e três
O experimento de Pastér
A teoria da biogênese não era totalmente aceita na época. Por muitos anos, vários estudiosos acreditaram quê os sêres vivos microscópicos poderiam se originar de maneira espontânea.
Nesse período, diversos cientistas realizaram estudos quê auxiliaram a elucidar a origem dos microrganismos. Entre eles estava o químico francês Louis Pastér (1822-1895).
Em um de seus experimentos, Pastér colocou um caldo à base de carne no interior de frascos de vidro e os submeteu à fervura por alguns minutos, de modo quê os microrganismos ali presentes fossem eliminados. Na sequência, com fogo, Pastér modelou o gargalo dos frascos, tornando-os curvos e alongados como “pescoços de cisne”. Dessa forma, a passagem de ar para o interior do frasco era permitida, mas a poeira e os microrganismos eram impedidos de chegar ao caldo, pois ficavam retidos na curvatura do gargalo.
Pastér, então, retirou o gargalo de alguns frascos e manteve outros intactos. Com o passar dos dias, ele observou quê a côr do caldo dos frascos cujos gargalos haviam sido removidos tinha sido alterada. Isso ocorreu porque, na ausência do gargalo curvo, microrganismos puderam entrar em contato com o caldo e se multiplicar. Já nos frascos intactos, os microrganismos eram barrados nas paredes do frasco, não entravam em contato com o caldo nutritivo e não se reproduziam, por isso a côr do caldo não se alterava.
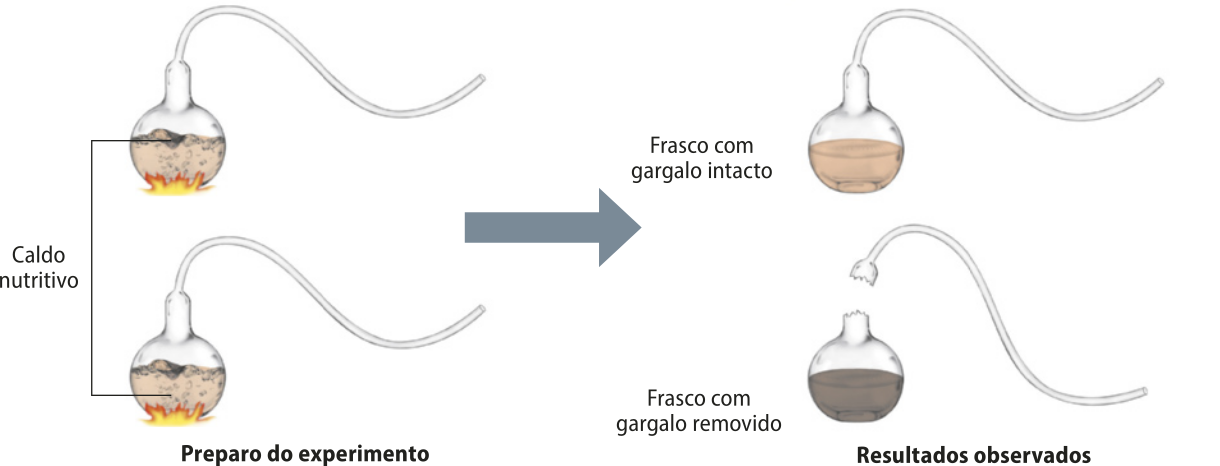
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; FUNKE, Berdell R.; keizh, Christine L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 8.
Os resultados do experimento de Pastér ajudaram a refutar a geração espontânea, pois, para sêr validada, ambos os frascos deveriam ter apresentado a côr alterada pela presença de microrganismos, o quê não foi observado.
Com esse e outros estudos ficou comprovada a biogênese, mesmo no caso dos microrganismos.
PENSE E RESPONDA
3 Pastér realizou outro experimento. Ele abriu frascos com líquido nutritivo, permitindo a entrada de ar, e depois os fechou. Repetiu esse procedimento em várias altitudes, desde o nível do mar até o topo de uma montanha, e os frascos apresentaram níveis variados de contaminação conforme a altitude.
Considerando quê os resultados obtidos ajudaram a refutar a teoria da abiogênese, proponha uma hipótese quê poderia sêr testada com esse experimento realizado por Pastér. Quais devem ter sido os resultados obtidos nesse experimento? Em seguida, faça uma pesquisa sobre o assunto e compare as suas respostas com as informações encontradas.
Página setenta e quatro
A origem do primeiro sêr vivo
Após a consolidação da biogênese, outra importante questão foi levantada na comunidade científica: se todos os sêres vivos surgem a partir de outro, como teria se originado o primeiro sêr vivo da Terra? Diversas explicações foram e continuam sêndo levantadas para responder a essa questão. A seguir, serão estudadas algumas delas.
A hipótese de Oparin e Haldane
Na década de 1920, o bioquímico russo Aleksandr Ivanovich Oparin (1894-1980) e o biólogo britânico Diôn B. S. Haldane (1892-1964) elaboraram, d fórma independente, uma hipótese muito similar a respeito da origem da vida na Terra. Segundo essa hipótese, a vida teria surgido em nosso planêta por meio de uma combinação de elemêntos químicos presentes na Terra primitiva há bilhões de anos.
Eles propuseram quê a atmosféra primitiva seria composta pêlos gases metano (CH4), hidrogênio (H2), amônia (NH3) e vapor de á gua (H2O). Como não havia gás oxigênio na atmosféra, também não existia camada de ozônio e, portanto, a Terra não tinha proteção contra a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Assim, a radiação solar e as descargas elétricas de tempestades, quê, então, eram muito freqüentes, seriam fontes de energia para diversas reações químicas quê poderiam ocorrer entre os componentes da atmosféra. No caso, tais reações teriam permitido a formação das primeiras moléculas orgânicas.
Essas moléculas teriam se acumulado inicialmente na á gua de poças à beira do mar, quê, por meio de interações químicas, teriam formado aglomerados quê mantinham um ambiente interno diferente do externo. Esses aglomerados, denominados coacervados, eram capazes de absorver substâncias do ambiente. Assim, propuseram quê as primeiras células teriam se originado a partir dos coacervados.
DIÁLOGOS DA NATUREZA
Moléculas orgânicas
As moléculas orgânicas são constituídas por hátomus de carbono associados, principalmente, a hátomus de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, entre outros. Essas moléculas formam carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, compostos quê formam a base da composição química dos sêres vivos. A composição, a estrutura e as propriedades das moléculas orgânicas são estudadas pela Química.
êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Química. Mais informações nas Orientações para o professor.

Página setenta e cinco
Em 1953, os estadunidenses istânli L. míler (1930-2007) e Rrérold C. Urey (1893-1981) testaram a hipótese de Oparin e Haldane em laboratório. Em seu experimento, eles criaram um ambiente fechado quê simularia as condições quê teriam existido na Terra primitiva segundo Oparin e Haldane.
Acompanhe na imagem a seguir uma representação de como eles fizeram isso. Um frasco com á gua (1) era aquecido e liberava vapor de á gua ao frasco ao qual estava conectado, quê continha os gases metano, amônia e hidrogênio (2). Descargas elétricas eram fornecidas ao sistema por meio de eletrodos (3). Um condensador era utilizado para resfriar os gases (4) e o líquido condensado era coletado em outro frasco (5).
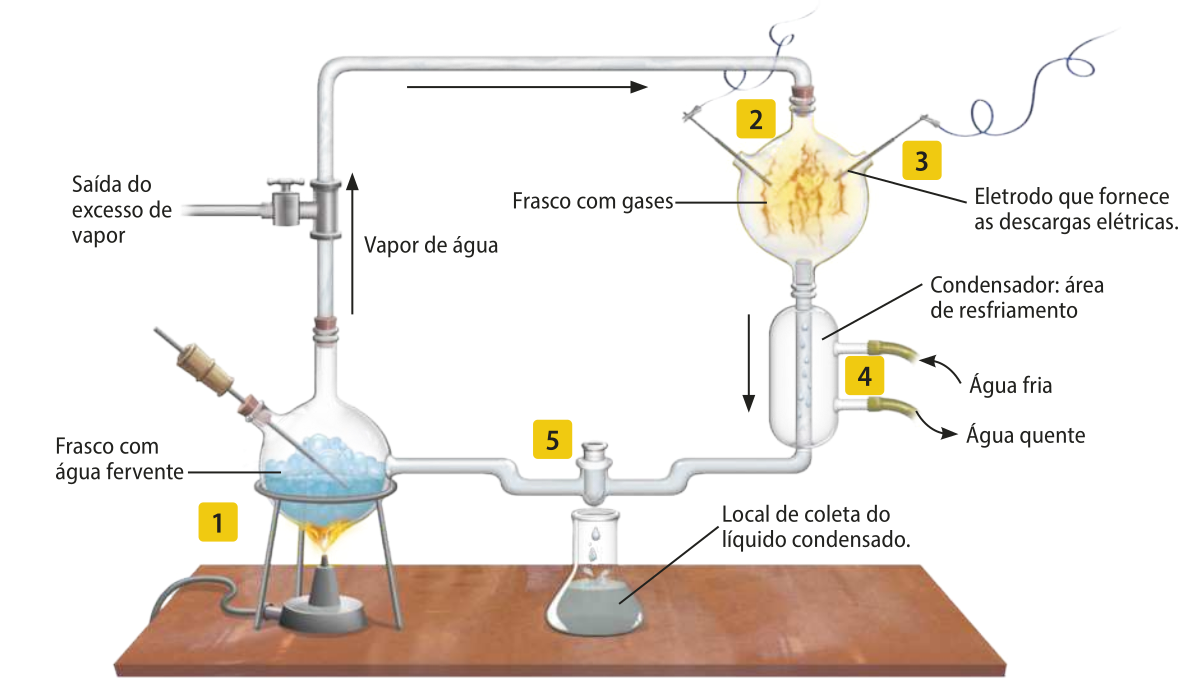
Elaborada com base em: PURVES, uílhãm Kirkwood éti áu. Vida: a ciência da biologia: volume II: evolução, diversidade e ecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artméd, 2002. p. 452.
Quando analisaram o líquido coletado, míler e Urey identificaram a presença de moléculas orgânicas quê, até então, acreditava-se serem produzidas apenas por células vivas. Entre elas, moléculas encontradas nos sêres vivos, como os aminoácidos, quê formam as proteínas.
O resultado dêêsse experimento demonstrou sêr possível a formação de moléculas orgânicas em laboratório sôbi as condições propostas por Oparin e Haldane. Contudo, não foi suficiente para validar ou refutar essa hipótese, visto quê, até agora, nenhum cientista foi capaz de produzir um sêr vivo em laboratório partindo de moléculas simples. Além díssu, evidências recentes sugérem quê a composição da atmosféra primitiva seria de, sobretudo, gás nitrogênio (N2)e dióxido de carbono (CO2), diferentemente da hipótese proposta por Oparin e Haldane.
Mesmo assim, a hipótese de Oparin e Haldane e o experimento de míler e Urey foram importantes passos para as pesquisas sobre a origem do primeiro sêr vivo na Terra.
Nas dékâdâs seguintes, os pesquisadores quê estudavam a origem da vida se dividiram em três linhas de pesquisa, quê serão apresentadas a seguir.
Página setenta e seis
O quê se originou primeiro?
Os cientistas dividem opiniões sobre a origem dos sêres vivos. Algumas linhas de pesquisa indicam quê a vida teria se iniciado a partir da capacidade de replicação do material genético. Outra, quê a vida surgiu a partir do metabolismo. Há ainda outra linha, quê indica quê a vida se iniciou a partir do surgimento de sistemas compartimentalizados.
Capacidade de replicação

A existência de uma espécie depende da capacidade de reprodução dos organismos vivos, quê transmitem suas informações genéticas entre as gerações. Com base nesse conhecimento, pesquisadores propõem quê a vida surgiu da autorreplicação de moléculas de material genético (DNA ou RNA). Parte dêêsses pesquisadores sugere quê as primeiras moléculas de érre êne há se formaram na Terra primitiva a partir de reações químicas entre moléculas orgânicas. Essas moléculas de érre êne há teriam, então, a capacidade de se autorreplicarem, o quê corresponderia a um mecanismo quê possibilitaria a transmissão de informações genéticas.
Metabolismo
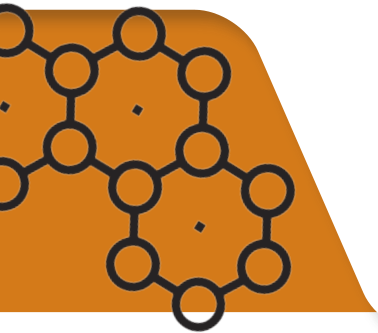
A vida é sustentada por reações químicas quê constituem o metabolismo de um organismo. Apoiados nesse conhecimento, alguns pesquisadores propõem quê a vida póde ter começado a partir de ciclos de reações metabólicas, em quê a energia seria aproveitada sem a necessidade de material genético inicial. Esses ciclos permitiriam a transformação e o uso de energia, processos essenciais para formár as primeiras moléculas orgânicas. Muitos cientistas sugérem quê esses ciclos podem ter se originado de aberturas hidrotermais no fundo dos oceanos, onde organismos, como bactérias e crustáceos, vivem atualmente, utilizando os compostos ali presentes como fonte de energia.
Compartimentos

Todas as células são delimitadas externamente por uma membrana plasmática. Com base nesse fato, um grupo de cientistas propõe quê a vida póde ter começado com a formação de pequenos compartimentos delimitados por membrana, característica quê teria permitido a existência de um meio interno quê, separádo do meio externo, apresentaria condições propícias para o desenvolvimento de formas primitivas de células. Esses cientistas consideram quê, sem a formação de pequenos compartimentos delimitados por uma membrana, seria difícil configurar a replicação do érre êne há ou ter um metabolismo ativo.
Todas as hipóteses sobre a origem da vida na Terra ajudaram a expandir o conhecimento, mas nenhuma sózínha consegue explicar completamente como a vida surgiu. Cada uma enfrenta kestões ainda sem resposta. Afirmar como a vida surgiu não é fácil, pois não se sabe ao cérto o quê ocorreu há bilhões de anos. No entanto, pesquisas continuam buscando evidências quê ajudem os cientistas a entender o quê póde ter ocorrido no passado.
Página setenta e sete
Evolução das células
Ainda não se sabe como surgiu o primeiro sêr vivo ou como se formaram as primeiras células. Acredita-se quê as primeiras células eram procarióticas, sem núcleo definido ou estruturas membranosas internas. Essas células existiam na superfícíe do planêta há pelo menos 3,5 bilhões de anos, como evidenciam os estromatólitos, róchas sedimentares produzidas pela atividade de procariontes primitivos.
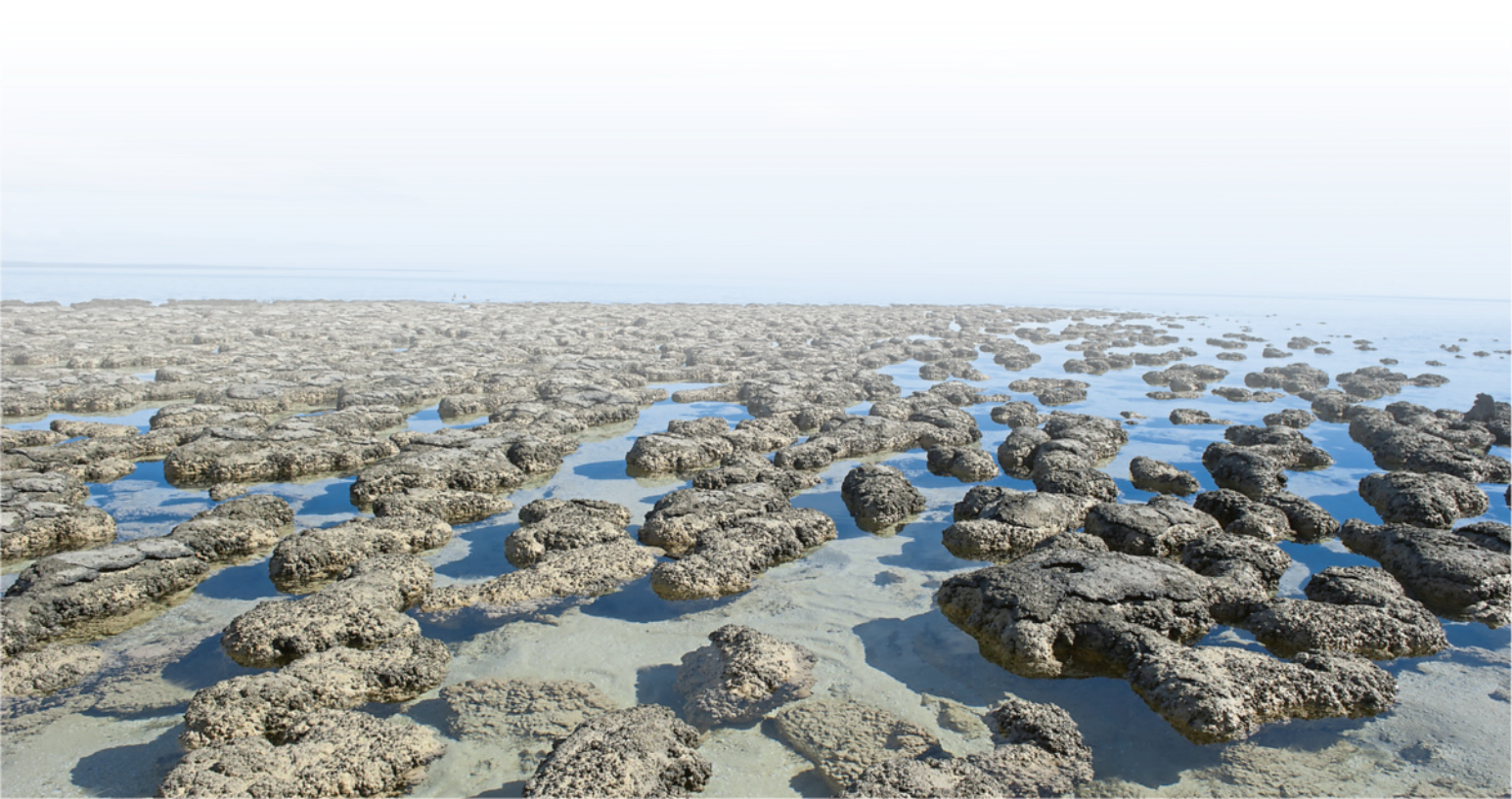
Estudos indicam quê as células eucarióticas surgiram posteriormente, cerca de 1,8 bilhão de anos atrás. Essas células apresentavam núcleo definido, separádo do cito plasma por um envoltório nuclear, e organelas membranosas, como retículo endoplasmático, mitocôndrias e cloroplastos. Acredita-se quê essas estruturas teriam se formado, ao longo do processo evolutivo, a partir de modificações ocorridas em células procarióticas ancestrais.
Uma das hipóteses sobre a origem das células eucarióticas propõe quê invaginações da membrana plasmática de uma célula procariótica ancestral teriam formado o envoltório nuclear e o retículo endoplasmático.
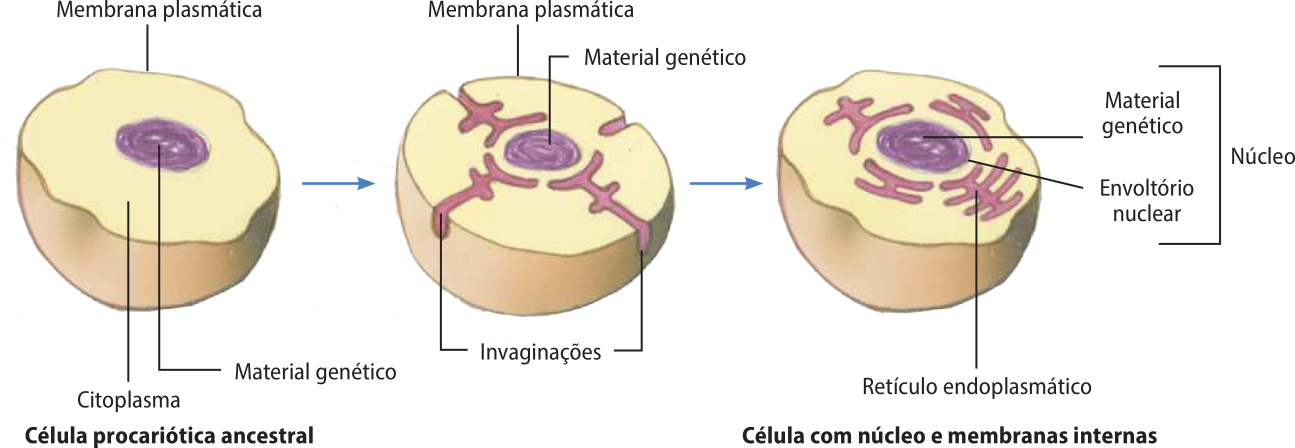
Elaborada com base em: PURVES, uílhãm Kirkwood éti áu. Vida: a ciência da biologia: volume II: evolução, diversidade e ecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artméd, 2002. p. 478.
Página setenta e oito
Outra hipótese, primeiramente proposta pela bióloga estadunidense Lynn Margulis (1938-2011), afirma quê as mitocôndrias e os cloroplastos teriam sido formados a partir da endossimbiose. Segundo essa hipótese, células procarióticas teriam sido englobadas por outras células maiores, mas, por algum motivo, não foram degradadas e estabeleceram uma relação benéfica mútua. Com o passar do tempo, as células englobadas teriam dado origem às mitocôndrias e aos cloroplastos.
Contudo, como as mitocôndrias estão presentes em todos os eucariontes, e os cloroplastos apenas em parte deles, como nas plantas e em algumas algas, acredita-se quê a evolução das células eucarióticas tenha ocorrido por meio de uma sequência de eventos. Essa sequência de eventos evolutivos é explicada pela endossimbiose serial.
Nesse sentido, uma célula procariótica ancestral teria englobado células procarióticas quê metabolizavam gás oxigênio e não as teria degradado, por algum motivo. As células englobadas teriam sido mantidas no cito plasma da célula hospedeira, recebendo proteção e alimento. Sua capacidade de mêtabolizar gás oxigênio aumentaria a eficiência energética da célula hospedeira. Essa associação benéfica para ambas as células teria perdurado, e células englobadas teriam dado origem às atuáis mitocôndrias.
Então, uma célula quê já possuía mitocôndrias teria englobado células procarióticas fotossintetizantes e não as teria degradado, por algum motivo. Similarmente, as células englobadas teriam sido mantidas no cito plasma da célula hospedeira, recebendo proteção e alimento. Sua capacidade fotossintetizante também aumentaria a eficiência energética da célula hospedeira. Essa associação benéfica teria perdurado, e as células englobadas teriam dado origem aos atuáis cloroplastos.
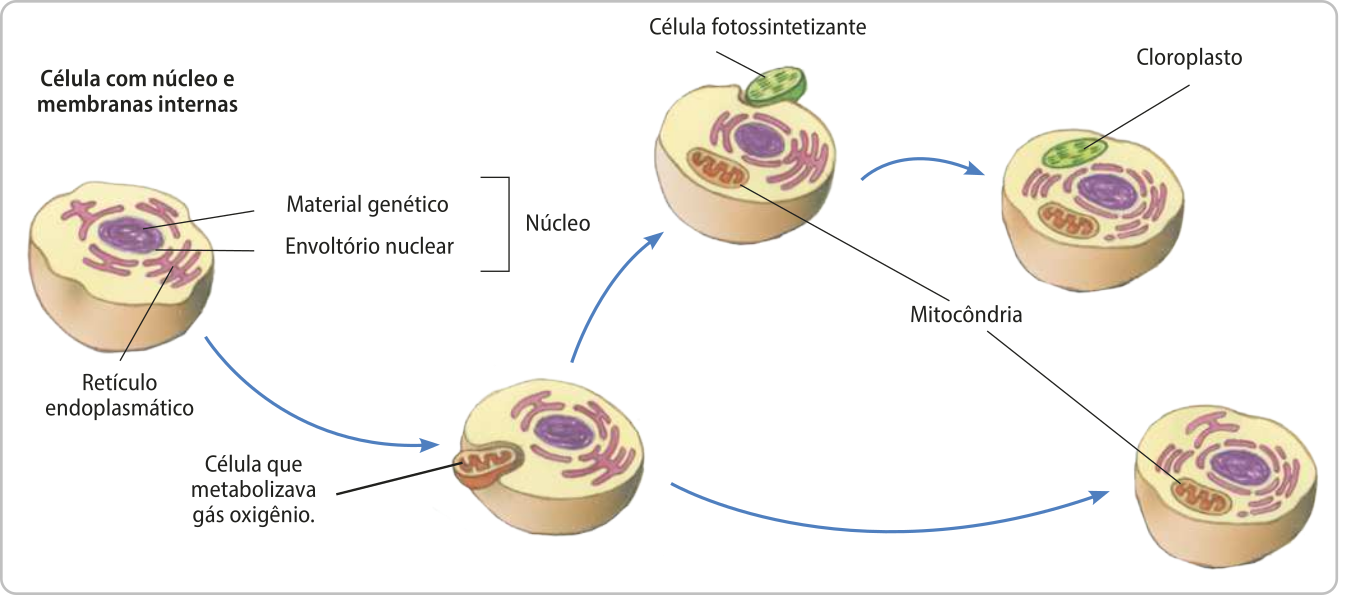
Elaborada com base em: PURVES, uílhãm Kirkwood éti áu. Vida: a ciência da biologia: volume II: evolução, diversidade e ecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artméd, 2002. p. 478.
Entre as evidências quê sustentam essa hipótese está o fato de quê as mitocôndrias e os cloroplastos possuem material genético e ribossomos próprios. Além díssu, essas estruturas apresentam grande semelhança com o material genético e os ribossomos de algumas bactérias, quê são sêres procariontes. Outra evidência é a presença de duas ou mais membranas nessas organelas, sêndo a mais interna similar à membrana dos procariontes.
Página setenta e nove
ATIVIDADES
1. A criação do mundo é explicada por vários povos e diferentes culturas. Uma dessas versões corresponde à lenda chinesa de Pan Gu. De acôr-do com ela, Pan Gu dormia no interior de uma bola cósmica quê seria equivalente ao Universo, muito similar a um ovo. Com o passar do tempo, Pan Gu despertou de seu sono profundo e quêbrou a casca do ovo. Uma das partes do ovo teria se sedimentado e formado a Terra; a outra teria dado origem ao restante do Universo. O corpo de Pan Gu sustentava a Terra e o Universo, de modo que não se unissem novamente. Após milhares de anos, Pan Gu teria se esgotado e seu grande corpo teria caído no chão. Após a morte de Pan Gu, partes de seu corpo começaram a se transformar: um dos olhos deu origem ao Sol e o outro, à Lua; sua respiração transformou-se nos ventos e nas nuvens; sua voz deu origem a raios e trovões; seus cabêlos e barba viraram as grandes florestas etc. Finalmente, os animais e outros sêres vivos teriam se originado a partir do quê restava de vida em seu espírito. A respeito do assunto, faça o quê se propõe a seguir.
a) De acôr-do com a lenda de Pan Gu, qual teria sido a origem dos sêres vivos na Terra?
b) A origem da vida na Terra ainda não é completamente explicada pela comunidade científica. Contudo, existem três linhas de pesquisa quê buscam explicar como ela teria ocorrido. Quais são elas? Explique-as resumidamente.
c) Outra teoria sobre a origem da vida na Terra é a panspermia. Forme um grupo com seus côlégas e faça uma pesquisa sobre o assunto. Após a pesquisa, organizem uma apresentação de teatro ou gravem um curta-metragem sobre o assunto.
2. As composteiras representam formas de reaproveitamento de resíduos para a produção de adúbo. Nelas são depositados resíduos orgânicos, como restos de alimentos e cascas de frutas. Com o tempo, os microrganismos realizam a decomposição dêêsses resíduos, transformando-os em um material rico em nutrientes quê póde sêr utilizado para a produção de cultivos. É comum em composteiras, mesmo quê muito bem tampadas, o aparecimento de larvas de moscas. A respeito do assunto, responda às kestões a seguir.
a) Em séculos passados, o surgimento de larvas de moscas nessas condições poderia sêr explicado pela geração espontânea. O quê diz essa ideia?
b) Hoje, sabe-se quê a geração espontânea não é aceita pela comunidade científica. Dessa forma, explique como é possível surgir larvas em composteiras.
c) Explique de quê forma os experimentos de Redi auxiliaram a refutar a geração espontânea de sêres vivos.
d) Explique de quê forma os experimentos de Pastér auxiliaram a refutar a geração espontânea de sêres vivos.
e) Qual é o nome da explicação científica para a origem dos sêres vivos atualmente aceita? Explique-a.
3. Os experimentos de míler e Urey envolveram a montagem de um aparato experimental quê pudesse testar a hipótese de Oparin e de Haldane a respeito da origem do primeiro sêr vivo na Terra. Considerando os seus conhecimentos sobre a origem da vida, faça o quê se propõe a seguir.
a) Explique a hipótese formulada por Oparin e Haldane.
b) No seu caderno, elabore um esquema quê represente a montagem do experimento de míler e Urey e identifique os itens quê compunham o aparato utilizado. Explique como ocorreu o experimento realizado por esses pesquisadores.
c) Com esse experimento, míler e Urey foram capazes de comprovar a hipótese de Oparin e de Haldane? Justifique sua resposta.
4. A lesma-do-mar da espécie Elysia chlorotica tem a capacidade de incorporar em suas células os cloroplastos de algas verdes ingeridas em sua alimentação. Os cloroplastos englobados são capazes de realizar fotossíntese por alguns meses, beneficiando diretamente o animal com os produtos dêêsse processo.

a) Esse exemplo se aproxima de uma das hipóteses sobre a origem das células eucarióticas. Que hipótese é essa? Explique-a.
b) Quais são as evidências da hipótese citada no item anterior?
Página oitenta
ORGANIZANDO AS IDEIAS
Analise o esquema a seguir, quê apresenta e relaciona os principais conceitos estudados nesta Unidade.
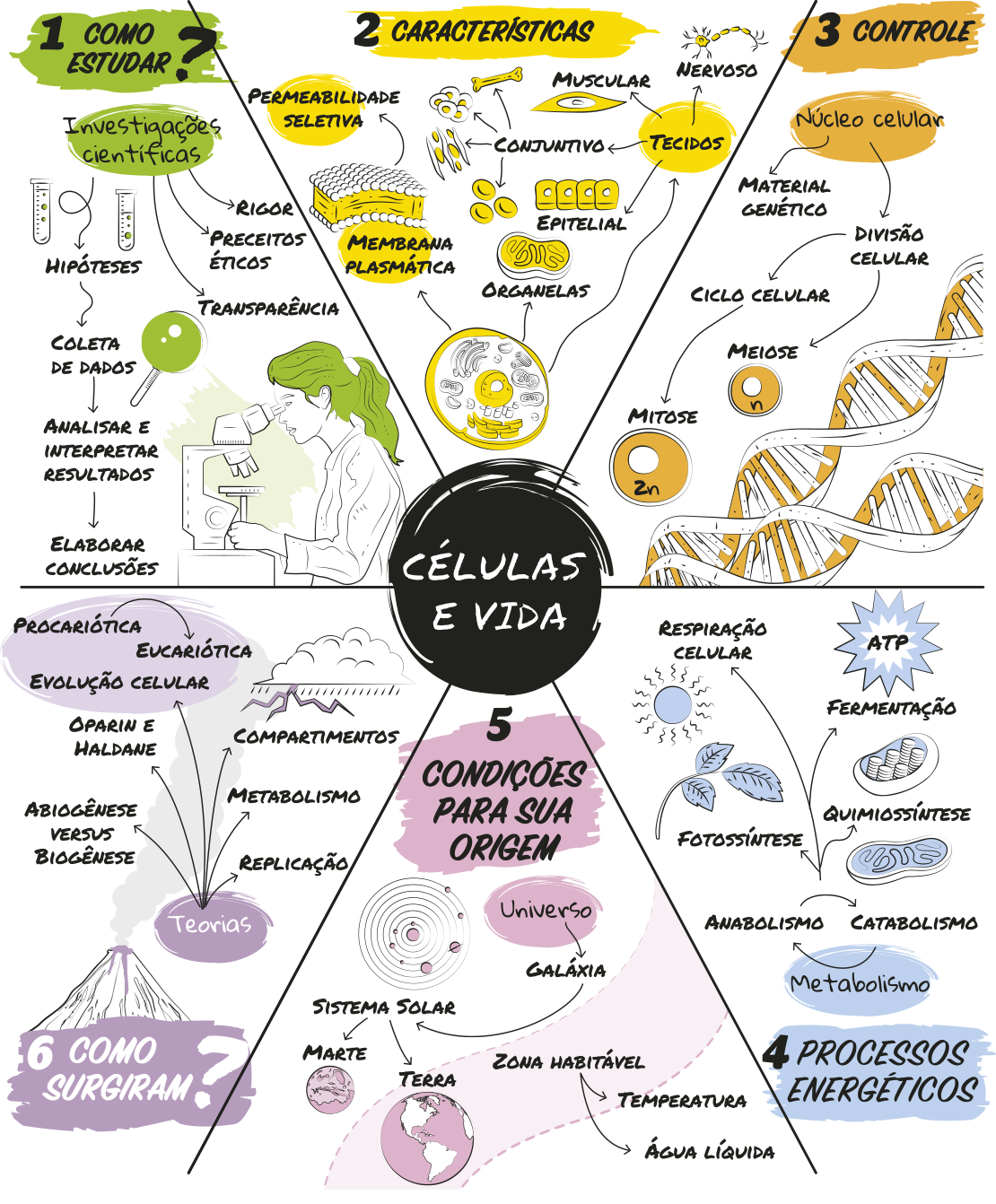
No caderno, elabore o seu próprio esquema. Organize os principais conceitos da Unidade e inclúa nele outros termos e ideias quê se relacionam ao quê foi estudado, realizando as associações quê considerar importantes. Por fim, elabore um pequeno texto quê conecte os conceitos e as ideias presentes no esquema. Essa é uma boa forma de estudar e compreender melhor os conceitos.
Página oitenta e um
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Respostas e comentários estão disponíveis nas
Orientações para o professor.
Tema 1: A construção dos conhecimentos científicos
1. Em 1951, a estadunidense Henrietta Lacks (1920-1951) morreu em decorrência de um câncer de colo de útero. Enquanto Henrietta ainda estava viva, foram coletadas amostras dêêsse tumor para estudo, porém sem o seu consentimento. Ao serem cultivadas em laboratório, verificou-se quê essas células continuavam a se multiplicar. Devido a essa capacidade de multiplicação, as células HeLa, como foram denominadas, são cultivadas até os dias de hoje, sêndo utilizadas em diversas pesquisas científicas no mundo todo.
Embora a importânssia das células HeLa para os avanços da Ciência seja evidente, sua côléta, seu uso em pesquisas e sua comercialização se deram sem o consentimento em vida de Henrietta Lacks. Forme um grupo com seus côlégas, façam uma pesquisa sobre o assunto e analisem essa situação, elaborando argumentos relativos ao uso das células HeLa em pesquisas científicas.
2. (UEA-AM) Ao côlher frutos diretamente da árvore, uma estudante notou diversas larvas de insetos em seu interior (I). Imaginou, então, quê alguma espécie de mosca deveria ter colocado seus ovos nos frutos quando estes ainda estavam em processo de maturação (II). Logo, pensou quê, se alguém tivesse ensacado os frutos antes da postura dos ovos das moscas, as larvas seriam evitadas (III). Assim, realizou esse procedimento com outros frutos (IV). Após algum tempo, ao abrir alguns frutos ensacados e já maduros, notou quê realmente seu pensamento estava correto (V). Com relação ao método de investigação científica, é correto afirmar quê
a) II corresponde ao fato verificado.
b) IV corresponde à dedução imaginada.
c) V corresponde ao resultado analisado.
d) III corresponde ao experimento testado.
e) I corresponde à hipótese levantada.
Resposta: c)
3. (Paes/Unimontes-MG) A realização de uma pesquisa científica é dividida em determinadas partes. As hipóteses devem facilitar o ensaio experimental. Todas as afirmativas abaixo são hipóteses. Analise-as e assinale a alternativa quê representa uma hipótese com as seguintes características:
Tema 2: Células
• Hipótese definida.
• Sua comprovação ou negação acrescentará informação científica válida.
• Suscetível de comprovação experimental.
• Sem excésso de abrangência.
a) O medicamento X combate todos os tipos de dores de cabeça.
b) O medicamento X é eficaz no combate à dor de cabeça.
c) O medicamento X é eficiente no combate a dores de cabeça decorrentes de má digestão.
d) O medicamento X é eficaz no combate à dor.
Resposta: c)
4. (Unicentro-PR) Quais das organelas abaixo diferenciam uma célula animal de uma célula vegetal:
a) Ribossomos, mitocôndrias e complékso de golgi.
b) Retículo endoplasmático, núcleo e mitocôndrias.
c) Citoplasma, ribossomos e complékso de golgi.
d) Núcleo, cito plasma e membrana celular.
e) Parede celular, plastos e vacúolo.
Resposta: e)
5. (Udesc) Assinale a alternativa quê faz a relação correta entre a organela celular e a sua função.
a) Mitocôndria – Respiração celular
b) Lisossomos – Permeabilidade seletiva
c) Vacúolo – Armazenamento de dê ene há
d) complékso golgiense – Síntese de proteínas
e) Cloroplastos – Transporte de aminoácidos
Resposta: a)
Página oitenta e dois
6. (Enem/MEC) A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, penétram no cito plasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos.
SADAVA, D. éti áu. Vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artméd, 2009 (adaptado).
O uso dessa substância póde ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir, diretamente, a síntese de
a) érre êne há.
b) dê ene há.
c) lipídios.
d) proteínas.
e) carboidratos.
Resposta: d)
7. (UEA-AM) Alguns sais minerais se deslócam, a favor do gradiente de concentração, do solo para o interior das células da raiz de uma planta, por meio ___. Isso promove um aumento na concentração intracelular, favorecendo a entrada de á gua nas células da raiz por ___.
As lacunas do texto devem sêr preenchidas, respectivamente, por:
a) do transporte ativo – difusão simples.
b) da difusão simples – osmose.
c) da osmose – bombeamento iônico.
d) do bombeamento iônico – difusão facilitada.
e) do transporte passivo – transporte ativo.
Resposta: b)
8. (Enem/MEC) As células da epidérme da fô-lha da Tradescantia pallida purpurea, uma herbácea popularmente conhecida como trapoeraba-roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento quê dá a coloração arrôsheáda a esse tecido. Em um experimento, um kórti da epidérme de uma fô-lha da trapoeraba-roxa foi imérso em ambiente hipotônico e, logo em seguida, foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico. Durante a observação dêêsse kórti, foi possível identificar o(a)
a) acúmulo do solvente com fragmentação da organela.
b) rompimento da membrana celular com liberação do citosol.
c) aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior.
d) quebra da parede celular com extravasamento do pigmento.
e) murchamento da célula com expulsão do pigmento do vacúolo.
Resposta: c)
Tema 3: Núcleo e divisões celulares
9. (UFJF-MG) O ciclo celular é um período entre o surgimento de uma célula por divisão celular até o momento em quê esta célula se dividirá novamente para a geração de células-filhas. Na maior parte do ciclo celular, a célula encontra-se na fase de ___. Esta fase é ainda dividida em três períodos, sêndo quê no ___ ocorre a replicação (duplicação) do material genético destas células quê já foram estimuladas a entrar em divisão. No processo de divisão celular, quê é subdividido em 4 fases, ocorrem eventos marcantes quê identificam estas fases, como a segregação das cromátides (cromossomos) irmãs para polos opostos durante a fase de ___. Assinale a alternativa cuja sequência CORRETA completa os espaços tracejados:
a) Replicação do dê ene há, G2 ,prófase.
b) Intérfase, S, anáfase.
c) G2,G1,anáfase.
d) Prófase, S, telófase.
e) Intérfase, G1 ,metáfase.
Resposta: b)
10. (Fuvest-SP) Células de embrião de drosófila (2n = 8) quê estavam em divisão foram tratadas com uma substância quê inibe a formação do fuso, impedindo quê a divisão celular prossiga. Após esse tratamento, quantos cromossomos e quantas cromátides, respectivamente, cada célula terá?
a) 4 e 4.
b) 4 e 8.
c) 8 e 8.
d) 8 e 16.
e) 16 e 16
Resposta: d)
Tema 4: Metabolismo celular
11. (Enem/MEC) Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial quê impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar.
SADAVA, D. éti áu. Vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artméd, 2009 (adaptado).
Página oitenta e três
Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere?
a) Glicólise.
b) Fermentação lática.
c) Ciclo do ácido cítrico.
d) Oxidação do piruvato.
e) Fosforilação oxidativa.
Resposta: e)
12. (Enem/MEC) A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares: uma responsável pela síntese de ATP e pela redução do NADP+ e a outra pela fixação de carbono. Para quê a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais
a) á gua e oxigênio.
b) glicose e oxigênio.
c) radiação luminosa e á gua.
d) glicose e radiação luminosa.
e) oxigênio e dióxido de carbono.
Resposta: c)
13. (UECE) Fermentação é
a) o processamento do piruvato na presença de oxigênio.
b) a reação quê produz duas moléculas de piruvato.
c) a rota metabólica quê processa piruvato na ausência de oxigênio.
d) o processamento do piruvato em glicose e oxigênio.
Resposta: c)
Tema 5: O Universo e as condições para a vida
14. Leia o trecho de uma reportagem publicada em maio de 2023.
Cientistas anunciaram a identificação de 62 luas adicionais de Saturno com base em um lote de objetos descobertos por astroônomos, quê darão ao planêta um total de 145 luas. Com isso, Saturno ultrapassa as 95 luas de Júpiter e recupera o posto de planêta com o maior número do Sistema Solar, após ter perdido há três meses, em fevereiro.
[...]
As recém-descobertas luas de Saturno não são nada parecidas com o objeto brilhante no céu noturno da Terra. Elas têm formato irregular [...], e não têm mais de um ou dois quilômetros de diâmetro. [...]
No entanto, essas pequenas luas irregulares [...] estão [...] em grupos e podem sêr remanescentes de luas maiores quê se despedaçaram enquanto orbitavam o planêta.
O'CALLAGHAN, Jônathan. Cientistas descobrem 62 novas luas em Saturno, quê volta a sêr o planêta com o maior número; veja o rã-kin. O glôbo [s. l.], 14 maio 2023. Disponível em: https://livro.pw/qhcka. Acesso em: 15 jul. 2024.
Com base nas informações apresentadas pelo texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, faça o quê se propõe a seguir.
a) O quê é informado pelo texto?
b) Que característica da Ciência póde sêr evidenciada no texto?
c) Júpiter e Saturno são planêtas rochosos ou planêtas gasosos? Explique suas características.
d) Em maio de 2024, um ano após a publicação da reportagem, o número de luas de Júpiter era o mesmo, mas o de Saturno já contabilizava 146. Realize uma pesquisa para avaliar se o número de luas dêêsses planêtas foi alterado no ano presente.
Tema 6: Origem da vida na Terra
15. (Enem/MEC) Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arrôz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam quê essas larvas surgem espontaneamente do arrôz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a sêr refutada pêlos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pastér, quê mostraram êsperimentalmente quê
a) sêres vivos podem sêr criados em laboratório.
b) a vida se originou no planêta a partir de microrganismos.
c) o sêr vivo é oriundo da reprodução de outro sêr vivo preexistente.
d) sêres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados.
e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente.
Resposta: c)
Página oitenta e quatro
INTEGRANDO COM...
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
A importânssia das escalas microscópicas para a saúde
A maior parte das células possui dimensões microscópicas. Por exemplo, a bactéria Mycoplasma pneumoniae, uma das causadoras de pneumonia, apresenta cerca de 0,0000002 m de comprimento. Para facilitar a leitura e a comparação de números como esse, é possível empregar a notação científica, uma maneira de expressar um valor numérico utilizando potências da base 10. Sua representação é feita por:
a x 10n
Em quê 1 < a, 10, e n é um número inteiro.
Para o exemplo citado, o valor de 0,0000002 m póde sêr expresso por 2 × 10−7 m, pois:
0,0000002 m m = m = 2 × 10−7 m
Outra possibilidade de representar o tamãnho de estruturas muito pequenas é com o uso das unidades de medida quê compõem a escala microscópica. Alguns exemplos são apresentados a seguir.
Unidade de medida |
Equivalência em métro (m) |
|---|---|
micrometro (mm) |
10-6 m |
nanometro (nm) |
10-9 m |
angstrom (Å) |
10-10 m |
Assim, o tamãnho da bactéria Mycoplasma pneumoniae póde sêr representado por 0,2 mm, pois:
0,0000002 m = 2 × 10−7 m = 0,2 × 10−6 m = 0,2 mm
Como exemplo de aplicação dessas unidades de medida, considere algumas informações envolvendo o coronavírus (SARS-CoV-2), causador da covid-19, declarada pandemia em março de 2020. Na época, a urgência em reduzir a propagação da doença impulsionou o desenvolvimento de inúmeras pesquisas. Algumas confirmaram uma das principais formas de propagação do coronavírus: o contato direto ou indiréto, por meio de superfícies contaminadas, com gotículas de saliva expelidas por pessoas infectadas ao espirrar, tossir ou mesmo falar.
Fontes: CASCELLA, Marco éti áu. fítchers, evaluation, ênd treatment ÓF coronavirus (covid-19). [S. l.]: StatPearls Pãblixim. 18 ago. 2023. Disponível em: https://livro.pw/bygsq. BOUROUIBA, Lydia. Turbulent gas clouds ênd respiratory pathogen emissions: potential implications for reducing transmission ÓF covid-19. JAMA, [s. l.], v. 323, n. 18, 26 mar. 2020. Disponível em: https://livro.pw/azgge. Acessos em: 15 jul. 2024.
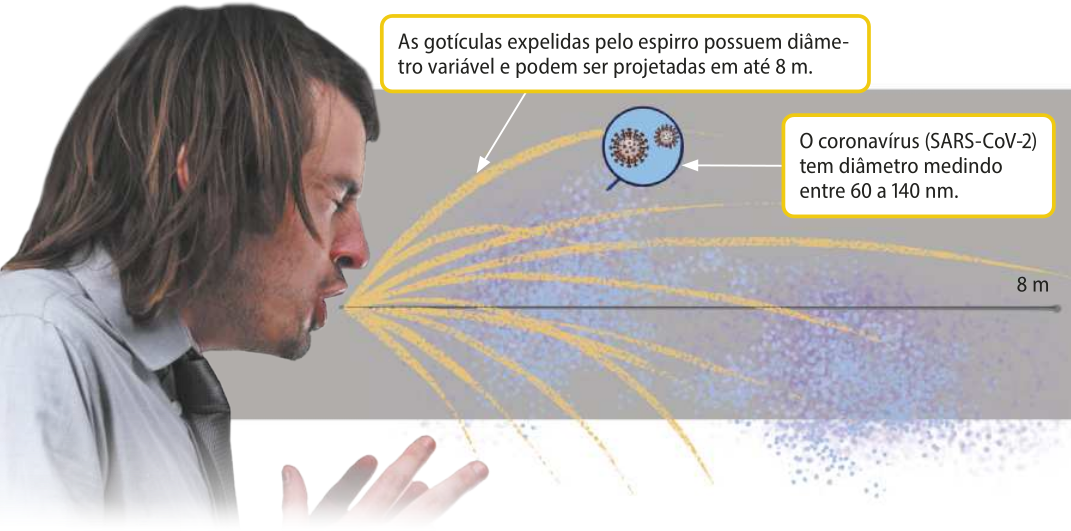
Página oitenta e cinco
Outros estudos avaliaram a eficiência de diferentes modelos de máscaras de proteção facial, utilizadas para minimizar a transmissão e/ou infekição pelo coronavírus. Em um dêêsses estudos, foram considerados alguns fatores, como a filtragem e a respirabilidade das máscaras.

Fonte: JOKURA, Tiago. Estudos detalham a eficiência das máscaras. Pesquisa Fapesp, São Paulo, ed. 312, 28 fev. 2022. Disponível em: https://livro.pw/jpamg. Acesso em: 15 jul. 2024.
Apesar de esse estudo ter sido realizado em função da pandemia de covid-19, seus resultados evidenciam a importânssia do uso de máscaras de proteção facial para impedir a disseminação de outras doenças cujas formas de transmissão são similares, como a gripe.
Agora, faça o quê se pede em cada item.
Respostas e comentários estão disponíveis nas Orientações para o professor.
1. Que característica da Ciência póde sêr evidenciada no texto?
2. Qual das máscaras apresentou maior eficiência contra a propagação do coronavírus? Utilize os dados apresentados no texto para justificar sua resposta.
3. Verifique o diâmetro mássimo do coronavírus (SARS-CoV-2) e o diâmetro mássimo das partículas utilizadas no estudo da eficiência das máscaras e, utilizando notação científica, escreva-os em métro. Após o registro, faça uma comparação entre os diâmetros do coronavírus, das partículas do estudo e da bactéria apresentados no texto.
4. Algumas pesquisas científicas são desenvolvidas a partir de uma demanda social, como foi o caso da covid-19. Outras pesquisas podem acontecer com base na curiosidade em compreender melhor determinado fenômeno ou situação. Hoje, se você fosse realizar uma pesquisa, sobre o quê seria? Por quê? Monte uma pequena apresentação utilizando mídias digitais e mostre para a turma os motivos de sua pesquisa. Nessa apresentação, procure responder às seguintes kestões.
• Sobre o quê eu quero pesquisar?
• Sobre esse tema, qual aspecto é mais relevante?
• por quê seria importante pesquisar sobre isso?
• Qual seria o título da minha pesquisa?
• Como eu poderia realizá-la?
Página oitenta e seis

