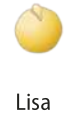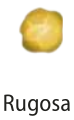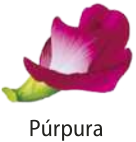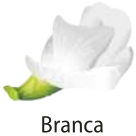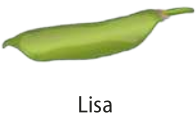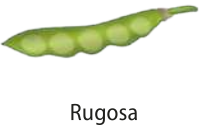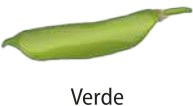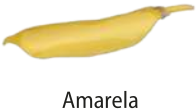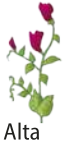UNIDADE
5
CORPO HUMANO E GENÉTICA

Página duzentos e noventa e um
Respostas e comentários estão disponíveis nas Orientações para o professor.
Ao comer uma refeição, características como o odor, a côr, a textura e o sabor dos alimentos podem intensificar a salivação, e, a depender da situação, podem despertar boas memórias, fazer-nos respirar mais profundamente e até mesmo acelerar os batimentos cardíacos.
Esse mesmo alimento quê provoca diferentes reações em nosso corpo, tem características quê estão relacionadas a combinações genéticas quê ocorreram ao longo do tempo.
Nesta Unidade, você irá estudar como os sistemas do corpo humano atuam e interagem para garantir o funcionamento do organismo, e como a genética influencía as características dos sêres vivos.
1. Quais sistemas do corpo humano podem sêr relacionados às ações descritas no primeiro parágrafo do texto?
2. Um mesmo ingrediente póde fazer toda a diferença em uma refeição. Veja como exemplo a banana, quê possui diferentes tipos. A banana-da-terra é mais firme e menos adocicada, por isso, costuma sêr utilizada em pratos salgados. Já a banana-nanica é mais doce e macia, geralmente utilizada para pratos doces. Para você, o quê determina as diferentes características dêêsses frutos, bem como dos sêres vivos no geral?
Página duzentos e noventa e dois
TEMA
25
Sistemas digestório e respiratório
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
No ano de 2008, foi aprovada a lei número 11.705, também conhecida como Lei Seca. Ela visa inibir o consumo de bebida alcoólica pelo condutor de veículo automotor e, em caso de desrespeito à lei, são previstas multa, suspensão do direito de dirigir e até mesmo prisão, a depender da circunstância.
O etilômetro é um aparelho utilizado para medir a quantidade de áucôl no corpo de uma pessoa. No teste feito com o aparelho, a pessoa assopra um bocal por pelo menos cinco segundos. O ar exalado reage com compostos químicos do etilômetro, e a concentração de áucôl é determinada. Devido à maneira como é usado, o etilômetro é popularmente conhecido como bafômetro.
Os sistemas do corpo humano trabalham em conjunto para garantir o funcionamento do organismo. Essa integração póde sêr evidenciada pelo uso do etilômetro. O áucôl, ao sêr ingerido por uma pessoa, é processado pelo sistema digestório, quê o ABSÓRVE e posteriormente o disponibiliza no sangue.
O sistema cárdio vascular transporta o áucôl por todo o corpo, inclusive para os pulmões. No sistema respiratório uma fração da quantidade de áucôl ingerida é exalada para o ar, a qual é captada pelo etilômetro. Entretanto, a maior parte do áucôl permanéce no corpo, o quê póde causar danos à saúde.
O consumo de áucôl póde prejudicar o sistema digestório, alterar o funcionamento do sistema urinário e, como é uma droga depressora, afetar diretamente o sistema nervoso, provocando embriaguez e podendo levar à dependência.
A partir de agora, serão estudadas as características de alguns sistemas do corpo humano. Neste Tema, o foco será nos sistemas digestório e respiratório. Mas antes, vamos estudar os tecídos quê formam o corpo humano.

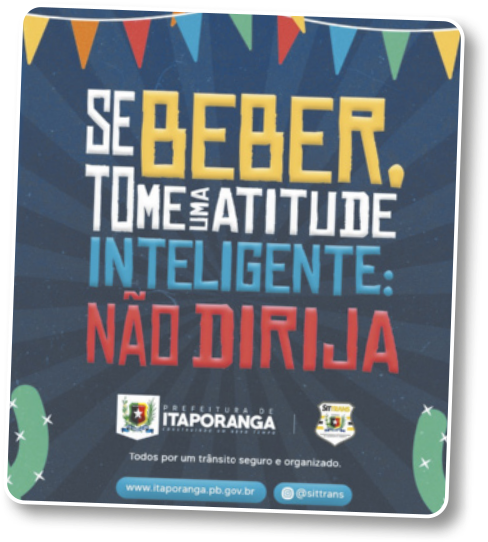
PENSE E RESPONDA
1 Na internet circulam receitas falsas de"como enganar o bafômetro", como consumir algo que"limpe o hálito". Contudo, nenhuma dessas receitas funciona, pois o aparelho cápta o áucôl proveniente do ar exalado pêlos pulmões. Além díssu, tentar enganar o bafômetro é uma infração grave, passível de multa, suspensão do direito de dirigir e até prisão. Você já ouviu falar sobre alguma dessas práticas? O quê você pensa sobre isso? Converse com um colega sobre o assunto.
2 Mesmo sabendo sobre a Lei Seca, muitas pessoas optam por dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas. Quais são os perigos quê envolvem uma atitude como essa? Converse com um colega sobre o assunto. Se necessário, realize uma pesquisa.
Página duzentos e noventa e três
5UNIDADE
Tecidos
Retome as diferenças entre glândulas exócrinas e endócrinas, quê foram abordadas na Unidade 2, no Tema 7. O termo “glândula” é mais freqüentemente utilizado para se referir a estruturas multicelulares compléksas, como as glândulas sebáceas, sudoríferas e mamárias, embora existam glândulas unicelulares, como as células caliciformes do intestino delgado ou da traqueia.
Os tecídos são grupos de células de mesma origem quê estão associadas a substâncias extracelulares por elas produzidas. Esses tecídos trabalham em conjunto, realizando funções específicas e especializadas no organismo.
No corpo humano, por exemplo, há quatro tipos básicos de tecídos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Cada um dêêsses tecídos é apresentado a seguir.
Tecido epitelial
O tecido epitelial tem como principais funções o revestimento e a secreção. Ele é dividido em dois principais tipos: o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular.

Esse tipo de tecido epitelial póde sêr classificado conforme o formato de suas células e a quantidade de camadas quê elas formam. Desse modo, o tecido epitelial estratificado, por exemplo, é constituído de duas ou mais camadas de células quê revestem e protegem superfícies do corpo quê estão em constante atrito, como a epidérme, o interior da bôca e o esôfago.
Tecido epitelial estratificado presente no esôfago em kórti transversal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 54 vezes; colorida artificialmente).
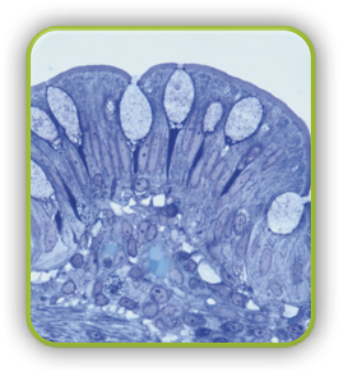
Tecido epitelial glandular presente no intestino delgado em kórti transversal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 210 vezes; colorida artificialmente).
Tecido conjuntivo
Os tecídos conjuntivos oferecem suporte a outros tecídos e a órgãos do corpo. Eles são constituídos por variados tipos de células e por uma grande quantidade de matriz extracelular, na qual estão presentes diferentes tipos de fibras. As células dos tecídos conjuntivos estão envoltas pela matriz extracelular e raramente tocam-se umas às outras.
Alguns tipos de tecido conjuntivo dêsempênham funções específicas, como o tecido ósseo, o sangue, o tecido adiposo e o tecido cartilaginoso.
O tecido ósseo contribui para a sustentação do corpo, além de proteger órgãos internos.
O sangue realiza o transporte de substâncias, como nutrientes, gases, hormônios, entre outras.
O tecido adiposo armazena energia na forma de gordura e proporciona isolamento térmico.
Página duzentos e noventa e quatro
O tecido cartilaginoso participa da sustentação do corpo e do amortecimento de impactos entre óssos.
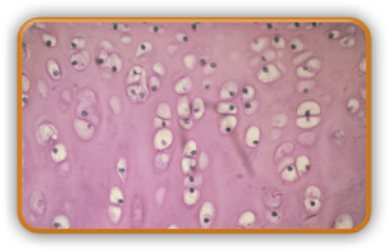
Tecido muscular
O tecido muscular é formado por células alongadas quê possuem a capacidade de se contrair. Ele póde sêr dividido em tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado (ou liso).
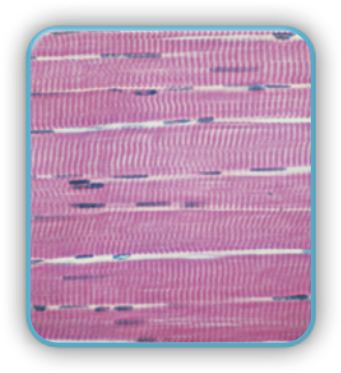
Tecido muscular estriado esquelético em kórti longitudinal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 110 vezes; colorida artificialmente).
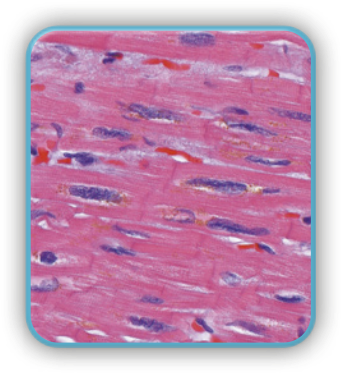
Tecido muscular estriado cardíaco em kórti longitudinal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 160 vezes; colorida artificialmente).
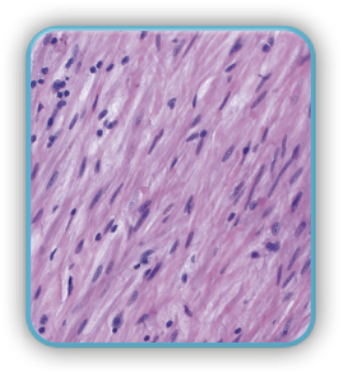
Tecido muscular não estriado em kórti longitudinal (imagem de microscopía óptica, aumento aproximado de 120 vezes; colorida artificialmente).
Tecido nervoso
O tecido nervoso é formado por neurônios e células da glia. Os neurônios são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, enquanto as células da glia protegem e nutrem os neurônios.
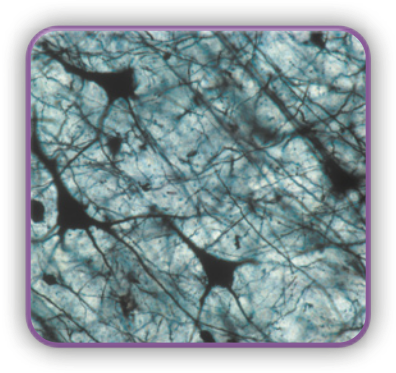
Página duzentos e noventa e cinco
Sistema digestório
O sistema digestório promove a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Ele póde sêr dividido em um trato gastrointestinal e em órgãos acessórios.
O trato gastrointestinal é um canal alimentar formado por diferentes órgãos pêlos quais o alimento passa enquanto é processado. Fazem parte dêêsse trato a bôca, a faringe, o esôfago, o estoômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ãnus. Os órgãos acessórios secrétam substâncias digestivas no interior do canal alimentar, ou as armazenam, mas não fazem parte do caminho dos alimentos. São eles: as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar.
Ao serem ingeridos pela bôca, os alimentos são cortados e triturados devido à ação dos dentes, das bochechas e da língua no ato da mastigação. Também são umedecidos pela saliva secretada pelas glândulas salivares. Ainda na bôca, inicia-se a digestão química do amido (molécula compléksa de açúcar) sôbi a ação da enzima amilase salivar, também chamada de ptialina. Sua atuação ocorre em pH próximo ao neutro (pH por volta de 7).
Após ter sido mastigado e umedecido, o alimento assume uma consistência pastosa e passa a sêr chamado de bôo-lo alimentar. O bôo-lo alimentar é deglutido e levado até a faringe, quê se conecta ao esôfago. Por meio da contração da musculatura não estriada da parede do esôfago, o bôo-lo alimentar é empurrado até o estoômago. Essa contração é denominada peristaltismo, quê também ocorre ao longo dos intestinos.
No estoômago, há a secreção do suco gástrico produzido pelo próprio órgão, quê possui pH de aproximadamente 2. êste ambiente ácido é favorável à ação da enzima pepsina, quê inicia a digestão química das proteínas. No estoômago, também ocorrem contrações involuntárias, quê possibilitam quê partículas grandes e persistentes de alimento sêjam quebradas mecanicamente, além de facilitar a mistura entre o bôo-lo alimentar e o suco gástrico secretado.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
O intestino abriga uma grande quantidade de bactérias importantes para a saúde do corpo. Assista à reportagem a seguir para saber mais sobre a microbiota intestinal.
Da imunidade à mente: a importânssia dos micróbios intestinais. Publicado por: BBC nius Brasil. Vídeo (11 min). Disponível em: https://livro.pw/byflu. Acesso em: 13 out. 2024.
É possível acionar a legenda no vídeo. Caso precise da janela de Libras, sugere-se o uso de ferramentas digitais como o VLibras (Disponível em: https://livro.pw/noesn. Acesso em: 8 maio 2025.)
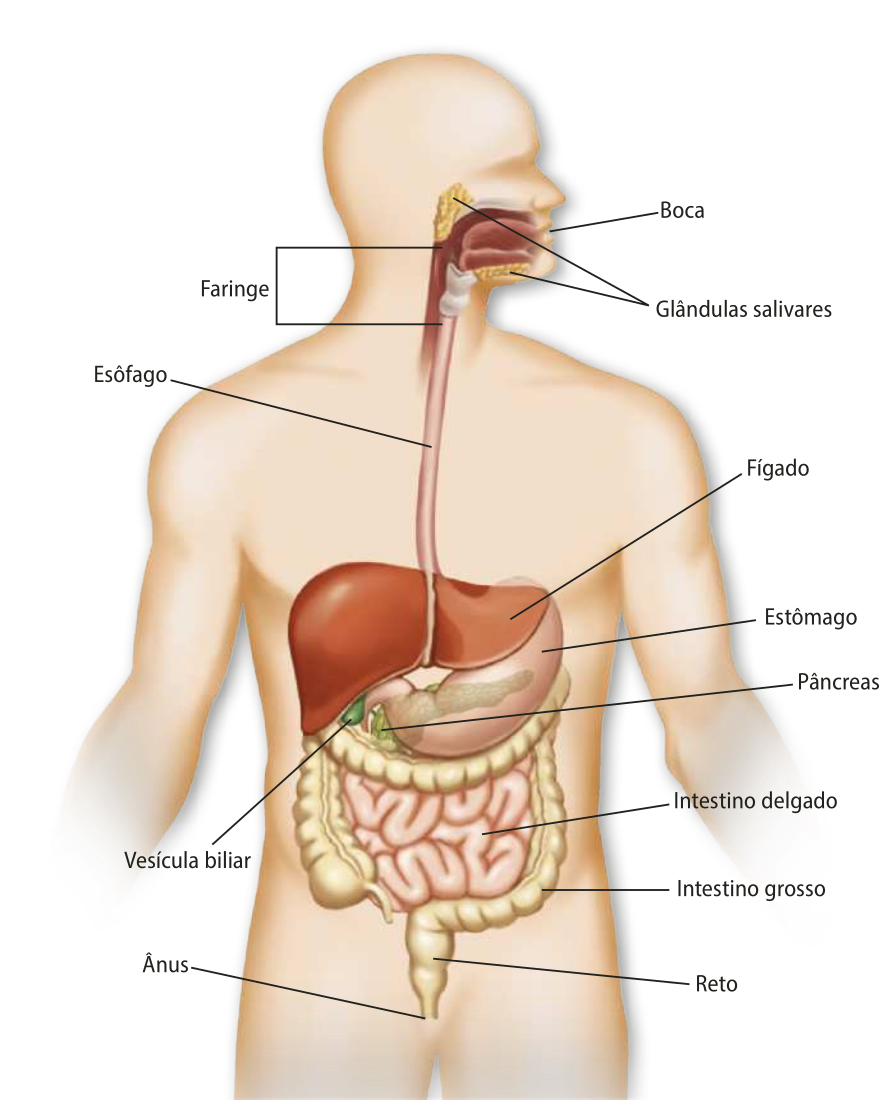
Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 656.
Página duzentos e noventa e seis
Após a ação digestiva do estoômago, o bôo-lo alimentar adqüire consistência ainda mais líquida e passa a sêr denominado quimo. O quimo é direcionado ao intestino delgado, um longo tubo muscular onde a digestão química é finalizada e a maior parte dos nutrientes é absorvida.
A absorção é maximizada devido à grande superfícíe de contato dêêsse órgão, decorrente das dobras teciduais das paredes internas do intestino quê formam projeções denominadas vilosidades. Além díssu, as especializações da membrana plasmática das células absortivas formam projeções denominadas microvilosidades.
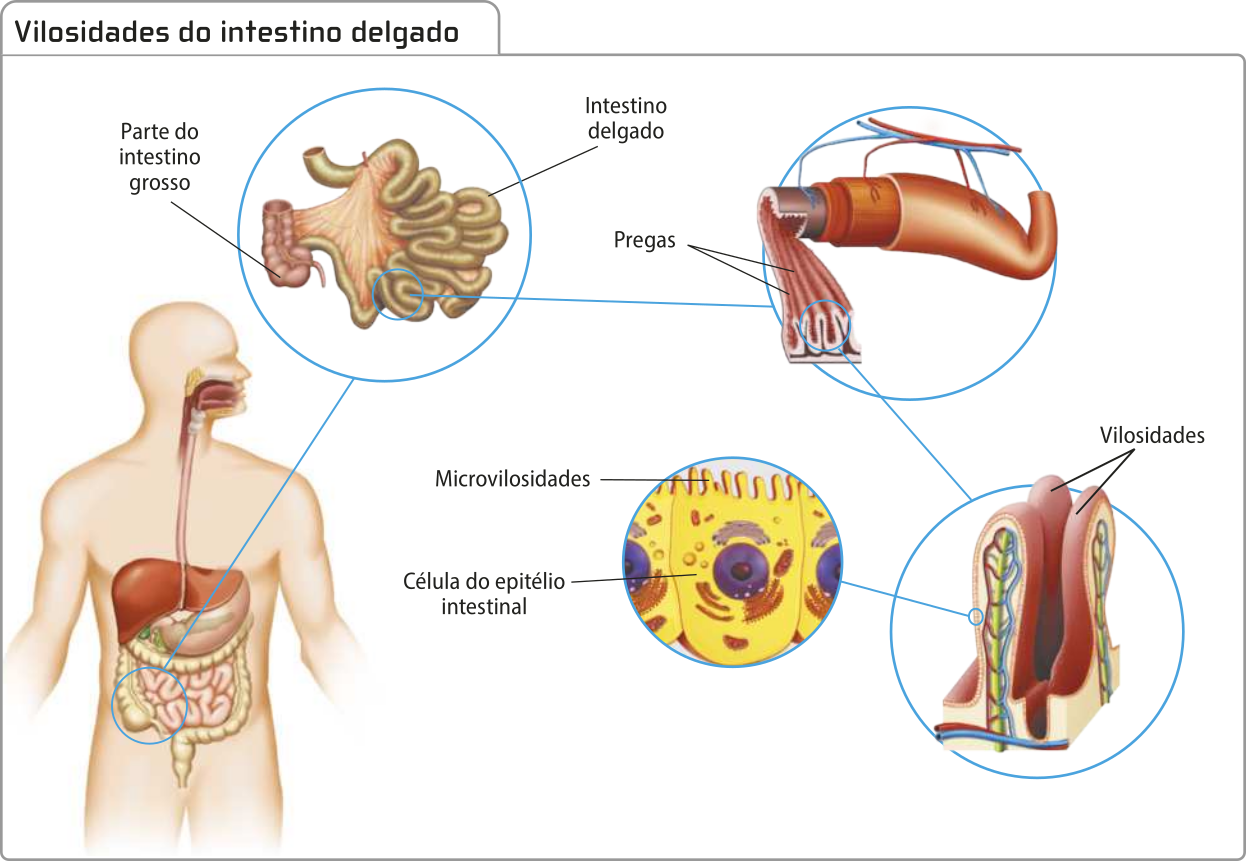
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2010. p. 932-933.
Na porção superior do intestino delgado, denominada duodeno, ocorre a secreção da bile. A bile é um fluido de coloração amarelo-esverdeada quê é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela é formada por á gua, sais minerais e substâncias quê facilitam a digestão dos lipídios.
Também no duodeno, ocorre a secreção do suco entérico, produzido pelo próprio intestino delgado, e do suco pancreático, produzido pelo pâncreas. Essas secreções contêm enzimas quê atuam na digestão de carboidratos, proteínas e lipídios.
Com o término da digestão química, ocorre a absorção dos nutrientes pelas células do intestino delgado, quê atingem a corrente sanguínea e são transportados para as células do corpo. Além díssu, o quimo passa a sêr chamado de kilo e é direcionado ao intestino grosso.
O intestino grosso é dividido em três regiões: o ceco, o colo e o reto. Nele, ocorre a maior parte da reabsorção da á gua presente no kilo e a formação das fézes, quê são eliminadas pelo ãnus.
Página duzentos e noventa e sete
Dentição
Os dentes são estruturas importantes para a mastigação, pois auxiliam na trituração e perfuração dos alimentos. Eles estão inseridos nos óssos da mandíbula e da maxila e podem sêr divididos em três regiões: coroa, parte visível dos dentes, localizada acima das gengivas; colo, região de junção entre o colo e a raiz, normalmente ao nível das gengivas; e raiz, envolvida pelas gengivas e inserida nos óssos.
intérnamente, os dentes são constituídos basicamente por dentina, uma camada de tecido conjuntivo calcificado quê confere rigidez e determina seu formato. A dentina localizada na região da coroa é revestida pelo esmalte, uma camada rica em minerais de cálcio quê oferece proteção contra o desgaste da mastigação. Além díssu, a dentina envolve um espaço quê é preenchido pela polpa, formada por tecido conjuntivo rico em nervos e vasos sangüíneos.
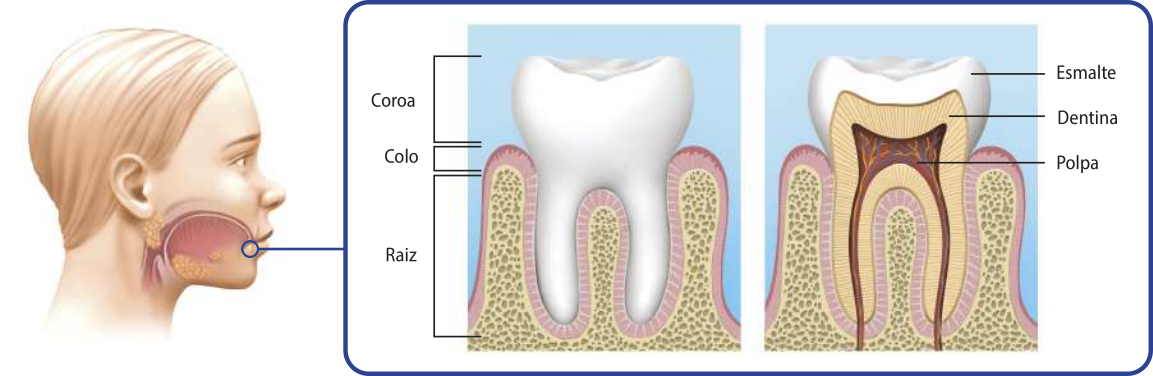
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 1220 do pdf.
DIÁLOGOS DA NATUREZA
êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Química. Mais informações nas Orientações para o professor.
Enzimas: catalisadores biológicos
As enzimas são moléculas quê apresentam ação catalisadora, promovendo um aumento na taxa de desenvolvimento de reações químicas. Elas apresentam especificidade para o reagente sobre o qual atuam, denominado substrato. A ação catalítica das enzimas ocorre enquanto estiverem ligadas ao substrato, possibilitando quê ele seja convertido em produtos da reação d fórma mais rápida.
Como exemplo, considere a enzima lactase. A lactase é produzida por algumas células do intestino delgado e catalisa a degradação de moléculas de lactose, um açúcar presente no leite. A digestão da lactose resulta em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, as quais podem sêr absorvidas pelas células do intestino.
PENSE E RESPONDA
3 De modo geral, um sêr humano adulto apresenta 32 dentes, quê podem sêr agrupados: incisivos, caninos, pré-molares e molares. Faça uma pesquisa sobre as funções dêêsses tipos de dentes e registre os resultados em seu caderno.
4 Algumas pessoas são intolerantes à lactose. Que característica resulta nessa condição? Quais são os sintomas apresentados por essas pessoas? Como as pessoas com intolerância à lactose lidam com essa condição? Faça uma pesquisa sobre o assunto e anote os resultados encontrados no caderno.
Página duzentos e noventa e oito
Sistema respiratório
O sistema respiratório é responsável por realizar as trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. Ele póde sêr dividido em duas pôr-ções, funcionalmente: a porção condutora e a porção respiratória.
A porção condutora consiste em uma série de cavidades e tubos interconectados quê filtram, aquécem e umedecem o ar, à medida quê ele é conduzido aos pulmões. Fazem parte da porção condutora o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios.
A porção respiratória, por sua vez, compreende as estruturas localizadas dentro dos pulmões, entre as quais os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue.
Quando inspiramos, o ar entra no corpo pelas aberturas do nariz, chamadas narinas, e passa pela cavidade nasal, onde é filtrado, aquecido e umedecido. A cavidade nasal conecta-se à faringe, um tubo muscular quê é comum ao sistema digestório. Ou seja, o alimento passa por ela para chegar ao esôfago, e o ar, para chegar à laringe.
A laringe, por sua vez, é um tubo oco cujas paredes são revestidas por anéis imcomplétos de cartilagem, o quê evita sua compressão. Nela, estão localizadas as pregas vocais, cuja vibração provocada pela passagem de ar emite sôns. Além díssu, na porção superior da laringe, encontra-se a epiglote, uma estrutura cartilaginosa quê se fecha durante a passagem de alimentos pela faringe, evitando a entrada deles na laringe, condição associada aos engasgos. A abertura da epiglote possibilita a passagem de ar.
Após a laringe, o ar segue para a traqueia, um tubo cuja porção final se ramifica em dois brônquios. Cada um deles entra em um dos pulmões e se ramifica em bronquíolos, quê são tubos menóres e finos.
Os bronquíolos se subdividem em estruturas cada vez menóres, quê são circundadas pêlos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são pequenos sacos epiteliais, envolvidos por capilares sangüíneos. Eles são elásticos, ou seja, possuem a capacidade de inflar e esvaziar conforme entra ou sai ar, respectivamente.
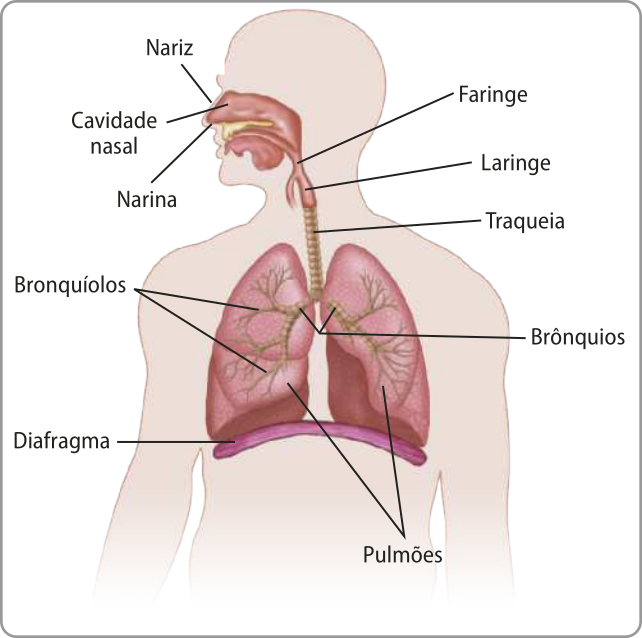
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 1146 do pdf.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• Você sabe qual é a diferença entre a voz e a fala? E como elas são produzidas? Para obtêr essas respostas, assista ao vídeo indicado no sáiti a seguir. Para ativar as legendas do vídeo, clique em “Detalhes”, “Legendas/CC”, “Traduzir automaticamente” e “Português”.
How does the human body produce voice ênd speech? Publicado por: Né chionál Institutes ÓF rélf (NIH). Vídeo (4 min.). Disponível em: https://livro.pw/aosbn. Acesso em: 13 out. 2024.
É possível acionar a legenda no vídeo. Caso precise da janela de Libras, sugere-se o uso de ferramentas digitais como o VLibras (Disponível em: https://livro.pw/noesn. Acesso em: 8 maio 2025.)
Página duzentos e noventa e nove
Os alvéolos pulmonares não se esvaziam completamente. Caso o fizéssem, sêriam colabados, deixando de ser funcionais.
Quando o ar atinge os alvéolos pulmonares, ocorrem as trocas gasosas com o sangue, conforme representado na imagem a seguir.
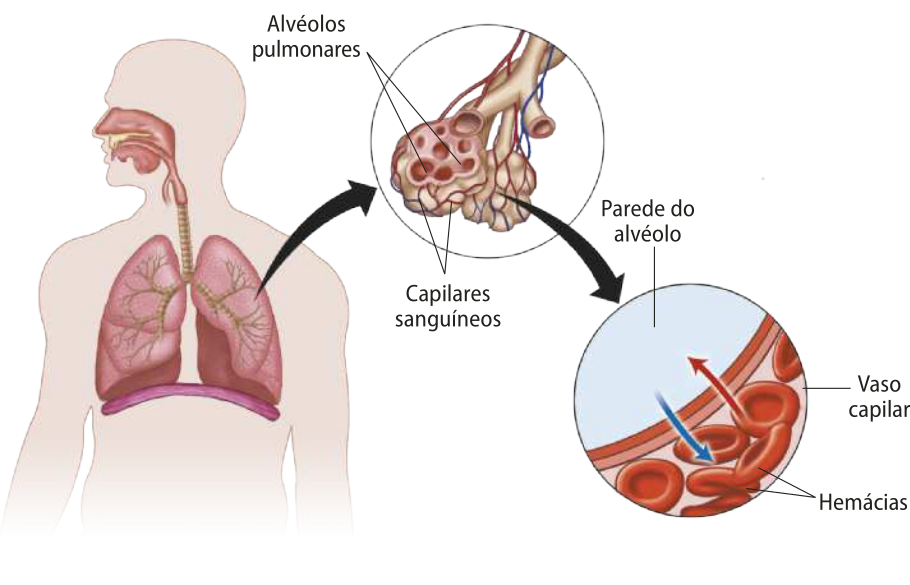
Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 538-539, 568.
PENSE E RESPONDA
5 Algumas alterações do metabolismo fazem com quê o corpo produza acetona. Por sêr um compôzto volátil, assim como o áucôl, parte dessa acetona póde passar para os alvéolos. Nesses casos, a pessoa começa a exalar um hálito cetônico, popularmente chamado de “bafo de acetona”. Pesquise e faça um texto quê explique quais situações levam a essa condição.
Movimentos respiratórios
As trocas gasosas realizadas entre os alvéolos pulmonares e o ambiente são possibilitadas pêlos movimentos respiratórios: na inspiração, ocorre a entrada de ar nos pulmões; na expiração, ocorre a saída de ar para o ambiente.
Nesse processo, o ar flui devido às diferenças de pressão existentes entre o interior da caixa torácica e a atmosféra. Essas diferenças são produzidas pela contração e pelo relaxamento dos músculos respiratórios: o diafragma, localizado abaixo dos pulmões, e os músculos intercostais, situados entre as costelas.
êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Física. Mais informações nas Orientações para o professor.
DIÁLOGOS DA NATUREZA
O ar flui por diferenças de pressão
Na inspiração, o diafragma se contrai e abaixa, enquanto os músculos intercostais se contraem e elévam as costelas (A). Essa situação promove o aumento do volume da caixa torácica, quê resulta na diminuição da pressão em seu interior. Assim, a pressão dentro da caixa torácica é menor do quê a pressão atmosférica e o ar do ambiente se desloca para o interior dos pulmões, quê se expandem.
Na expiração, o diafragma e os músculos intercostais relaxam, reduzindo o volume da caixa torácica (B). Isso resulta no aumento da pressão em seu interior, quê se torna superior à pressão atmosférica. Dessa forma, o ar, quê estava no interior dos pulmões, desloca-se para o ambiente e os pulmões se contraem.
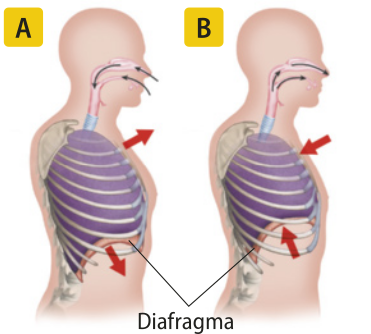
Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 547.
Página trezentos
ATIVIDADES
1. O quê é um tecido?
2. Indique os tipos de tecido quê existem no corpo humano e cite algumas de suas características.
3. Quais são os componentes do sistema digestório? Cite a função dêêsse sistema.
4. Qual é a função do sistema respiratório?
5. Quando alimentos ou mesmo a saliva entram na laringe (vias aéreas), em vez de de seguirem pelo esôfago (via digestiva), póde ocorrer o engasgo. O engasgo normalmente ocorre devido a uma falha na função desempenhada por uma estrutura cartilaginosa existente no sistema respiratório. Que estrutura é essa e qual é sua função?
6. Observe as imagens a seguir, quê apresentam diferentes tecídos.
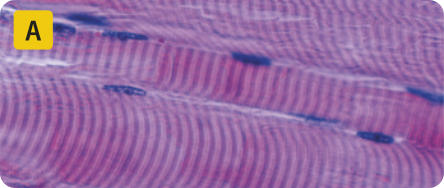
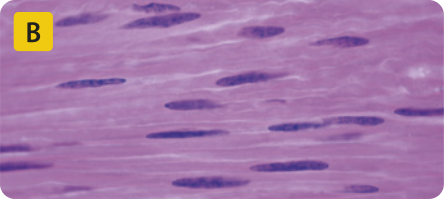
Considere as imagens e os seus conhecimentos sobre tecídos para responder aos itens a seguir.
a) Quais tipos de tecídos musculares estão representados nas imagens?
b) Qual tecido realiza contração voluntária e qual realiza contração involuntária? Explique os termos.
c) Qual é o outro tipo de tecido muscular existente e quê tipo de contração ele realiza?
d) A amostra de tecido B foi ôbitída do intestino delgado. Qual é a função desempenhada por êste órgão?
7. Considere quê um casal tenha feito as seguintes refeições no jantar:
• Cláudia: sanduíche (pão, hambúrguer de carne bovina e queijo muçarela).
• João: macarronada com azeite e um filé de peixe grelhado.
De acôr-do com seus conhecimentos sobre o sistema digestório, responda às kestões a seguir. Se necessário, faça uma pesquisa.
a) Entre os alimentos ingeridos pelo casal, quais são fontes de carboidratos? E de proteínas?
E de lipídios?
b) Em seu caderno, faça um qüadro indicando os locais onde ocorrerá a digestão química dêêsses alimentos e, quando possível, as principais enzimas quê irão catalisar esse processo.
c) Considere quê João tenha passado por uma cirurgia para a remoção da vesícula biliar em decorrência de uma inflamação. Nesse caso, é possível quê a digestão de sua refeição seja prejudicada? Explique sua resposta.
8. O tabagismo é o ato de fumar produtos à base de tabaco, como cigarro, narguilé, charuto, cachimbo, cigarro de palha e fumo de rolo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (hó ême ésse), ele é responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas a cada ano.
A prática do tabagismo também póde ocasionar diversos problemas à saúde, como o enfisema pulmonar. Nessa condição, os alvéolos pulmonares são destruídos e a pessoa sente falta de ar constantemente.
Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, responda.
a) por quê as pessoas com enfisema pulmonar sentem falta de ar?
b) Os alvéolos pulmonares são constituintes da porção condutora ou da porção respiratória do sistema respiratório?
c) Além dos danos aos alvéolos pulmonares, quê outras estruturas do sistema respiratório podem sêr lesionadas pelo tabagismo? Faça uma pesquisa para auxiliar em sua resposta.
Página trezentos e um
Oficina científica
Degradando o amido
O amido é uma molécula de carboidrato presente em diversos alimentos. Sua digestão é iniciada na bôca, pela ação da amilase salivar. Você já se questionou como seria possível visualizar a ação dessa enzima? Em grupo, realize a seguinte atividade.
Materiais
• 3 copos plásticos de 50 mL;
• Faca de ponta arredôndá-da;
• 1 conta-gotas;
• duas colheres de sopa;
• 1 caneta esferográfica;
• uma banana madura;
• Solução de iôdo;
• 70 mL de á gua;
• Saliva.
Procedimentos
• Enumere os copos plásticos de 1 a 3 com a caneta esferográfica.
• sôb a supervisão de um adulto, kórti com cuidado a banana em pedaços pequenos. Coloque alguns pedaços nos copos 1 e 2 e amasse-os bem, de modo quê ocupem a mêtáde do volume dos copos.
• Utilize uma das colheres de sopa para acrescentar cerca de 20 mL de á gua em cada um dos dois copos.
Misture o conteúdo dêêsses copos com cuidado.
• No copo 3, coloque 30 mL de á gua.
• Com a outra côlher de sopa, um voluntário deve coletar um pouco de saliva.
Despeje a saliva no copo 2 e misture seu conteúdo novamente, com cuidado para não espirrar.
• Aguarde 15 minutos.
• Com o conta-gotas, pingue 5 gotas da solução de iôdo em cada um dos copos. Observe os resultados e registre-os no caderno.
A partir da etapa da côléta da saliva, a atividade deve sêr realizada com luvas de borracha ou cirúrgicas até seu término, incluindo o descarte do material.
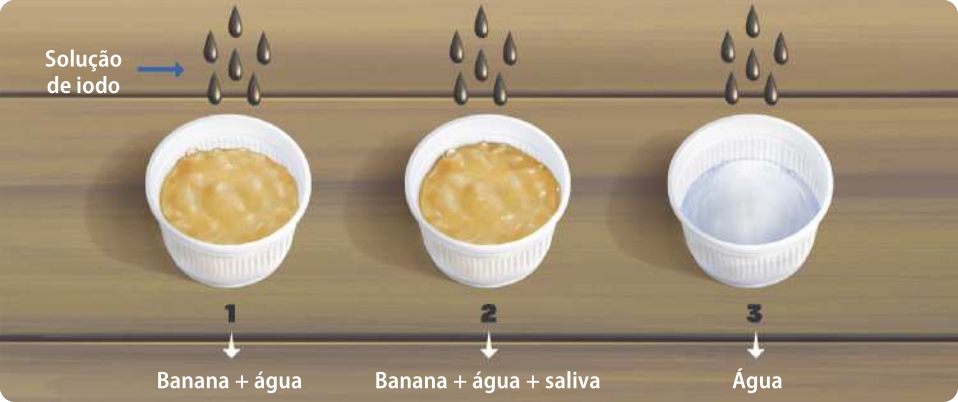
ATIVIDADES
1. Quais foram os resultados observados?
2. A solução de iôdo tem coloração marrom. Quando em contato com o amido, ocorre uma reação química responsável por modificar sua coloração, quê passa a sêr azul-escuro. Considerando essa informação, elabore uma explicação para os resultados observados.
3. Refaça os procedimentos para testar a presença de amido em diferentes alimentos quê você costuma ingerir no cotidiano. Registre os resultados no caderno.
Página trezentos e dois
TEMA
26
Sistema cárdio vascular, imunidade e sistema urinário
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
A doação de sangue é um gesto de solidariedade quê póde ajudar a salvar muitas vidas. Essa ação voluntária possibilita quê transfusões sanguíneas sêjam realizadas em diferentes situações, como em emergências, durante cirurgias ou no tratamento de algumas doenças. Para quê todas as demandas sêjam atendidas, é importante quê o estoque dos bancos de sangue esteja sempre abastecido.
A fim de ampliar a conscientização das pessoas, celebra-se, anualmente no Brasil, a campanha Junho Vermelho. Ao longo do mês de junho, são realizadas diversas ações de incentivo à doação de sangue, como campanhas na mídia, nas rêdes sociais e a organização de mutirões de doação por empresas e instituições.

O sangue é um tipo de tecido conjuntivo e um dos constituintes do sistema cárdio vascular. Ele desempenha diversas funções no organismo, como no transporte de substâncias e na imunidade do corpo, assuntos quê serão estudados neste Tema.
PENSE E RESPONDA
1 Você conhece alguma pessoa quê já realizou uma doação de sangue? Em caso positivo, pergunte a essa pessoa quais foram os procedimentos realizados para quê ela pudesse fazer a doação. Caso não conheça, faça uma pesquisa para saber quais são esses procedimentos. Compartilhe com os côlégas as informações coletadas.
2 Você conhece uma pessoa quê já precisou de uma transfusão de sangue? Em caso positivo, tente descobrir quais são os motivos quê a levaram a essa necessidade e quais são os critérios para quê esse procedimento seja feito. Se julgar oportuno, compartilhe essas informações com os côlégas.
3 Em sua opinião, qualquer pessoa póde sêr doadora de sangue? Há algum risco para quem doa sangue? Converse com seus côlégas.
Página trezentos e três
Sistema cárdio vascular
O sistema cárdio vascular é responsável por distribuir nutrientes, gases, hormônios e outras substâncias pelo organismo, além de recolher produtos excretados do metabolismo quê serão eliminados posteriormente. Ele é formado pelo sangue, por uma rê-de de vasos sangüíneos de diferentes calibres e pelo coração.
O sangue é um fluido viscoso de coloração vermelha. Ele possui dois principais componentes: o plasma, quê corresponde à porção líquida, e os elemêntos figurados, quê compreendem as células e as plaquetas.
O plasma é formado principalmente por á gua, além de nutrientes, hormônios, gases e excretas do metabolismo. Ele sérve como meio de transporte dessas substâncias e contribui para o equilíbrio do volume de á gua existente no sangue.
As hemácias ou glóbulos vermelhos são as células presentes em maior quantidade no sangue. Elas são anucleadas (não apresentam núcleo) e possuem hemoglobina, um pigmento de coloração avermelhada, ao qual as moléculas de gás oxigênio se ligam, e são transportadas pelo corpo.
Os leucócitos ou glóbulos brancos são células relacionadas à defesa do organismo. Existem diferentes tipos de leucócitos, quê podem realizar funções distintas na proteção do corpo contra agentes nocivos.
As plaquetas são fragmentos de células responsáveis pela coagulação sanguínea, processo quê interrompe o vazamento do sangue após o rompimento de um vaso sangüíneo.
- Calibre
- : diâmetro interior de um tubo.
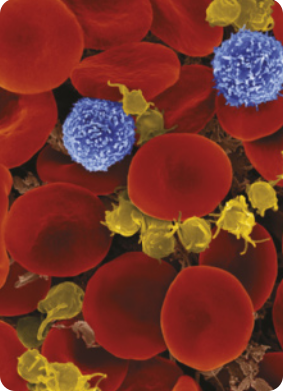
DIÁLOGOS DA NATUREZA
êste assunto permite um trabalho em conjunto com os componentes curriculares de Física e Química. Mais informações nas Orientações para o professor.
Um coloide chamado sangue
A olho nu, o sangue apresenta aspecto uniforme, homogêneo. Entretanto, ele é um coloide, ou seja, é compôzto por partículas de diferentes tamanhos, entre 1 e 1.000 nanometros, quê podem sêr visualizadas em uma amostra ao microscópio.
Algumas dessas fases também podem sêr observadas durante a centrifugação do sangue. Nesse método, a amostra é colocada em uma centrífuga e os componentes da mistura são separados com base em sua diferença de densidade. No sangue, as hemácias, mais densas, ocupam o fundo do recipiente; os leucócitos e as plaquetas, menos densos do quê as hemácias, ocupam uma posição intermediária; e o plasma, o elemento menos denso, forma a camada superior.
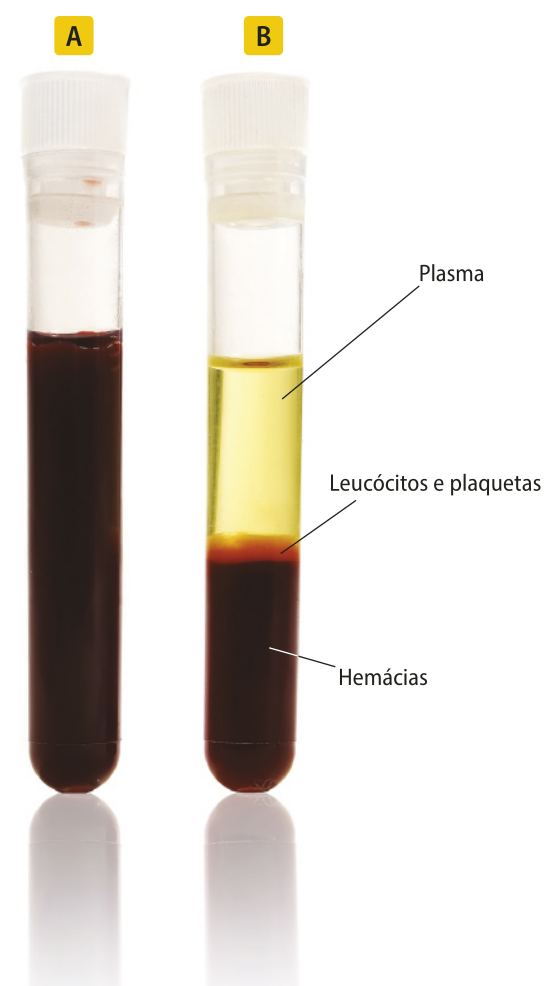
Página trezentos e quatro
O sangue circula dentro de vasos sangüíneos, quê são tubos interconectados ao coração. De modo geral, os vasos sangüíneos são caracterizados como: artérias, arteríolas, capilares sangüíneos, vênulas e veias. Em seguida, essas estruturas são descritas e identificadas com os mesmos números na imagem a seguir.
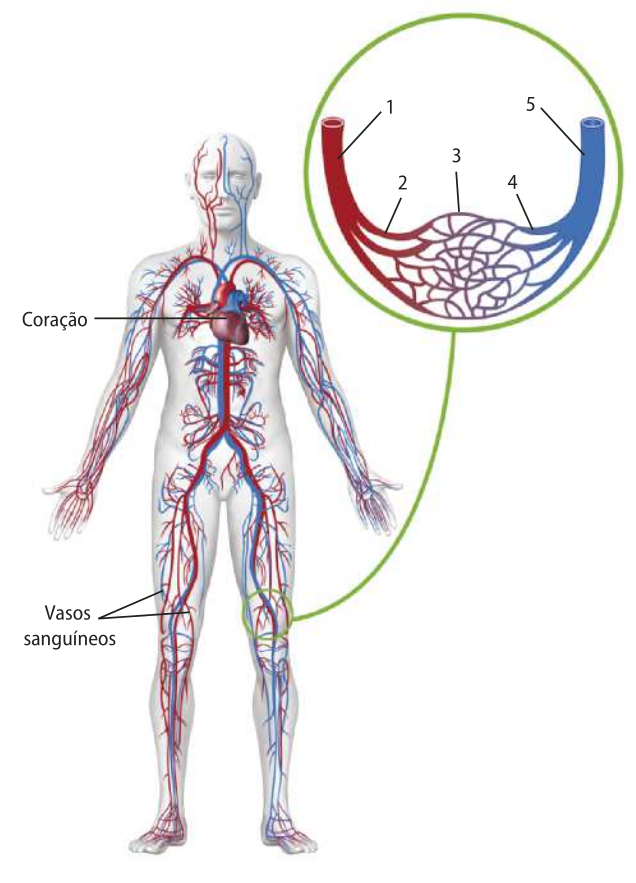
Elaborada com base em: Párker, Stíve. O livro do corpo humano. 2. ed. Jandira: Ciranda Cultural, 2014. p. 132-133, 136.
1. Artérias: vasos quê transportam o sangue quê sai do coração para os tecídos do corpo. Elas possuem paredes espessas, quê mantêm sua forma e auxiliam a suportar a pressão elevada do sangue gerada pelo bombeamento do coração.
2. Arteríolas: vasos microscópicos formados a partir de ramificações das artérias. Elas direcionam o fluxo de sangue aos capilares sangüíneos.
3. Capilares sangüíneos: vasos microscópicos onde ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue e os tecídos do corpo. São os vasos sangüíneos quê possuem menor diâmetro, quê varia entre 5 e 10 μm (um fio de cabelo tem, em média, 80 μm de diâmetro).
4. Vênulas: vasos microscópicos formados a partir de ramificações das veias. Elas recebem o fluxo de sangue dos capilares sangüíneos e o direciona às veias, iniciando o retorno do sangue ao coração.
5. Veias: vasos quê transportam o sangue dos tecídos de volta ao coração. Elas não possuem paredes espessas e seu formato não é facilmente mantido.
O sangue circula pelo corpo devido à contração muscular do coração. Esse órgão possui quatro câmaras: duas superiores chamadas átrios (direito e esquerdo), quê recebem o sangue; e duas inferiores, chamadas ventrículos (direito e esquerdo), quê bombeiam o sangue para o restante do corpo. Os átrios direito e esquerdo, assim como os ventrículos direito e esquerdo, não se comunicam entre si. Contudo, o átrio e o ventrículo do mesmo lado possuem valvas, quê impedem o refluxo de sangue durante a contração cardíaca.
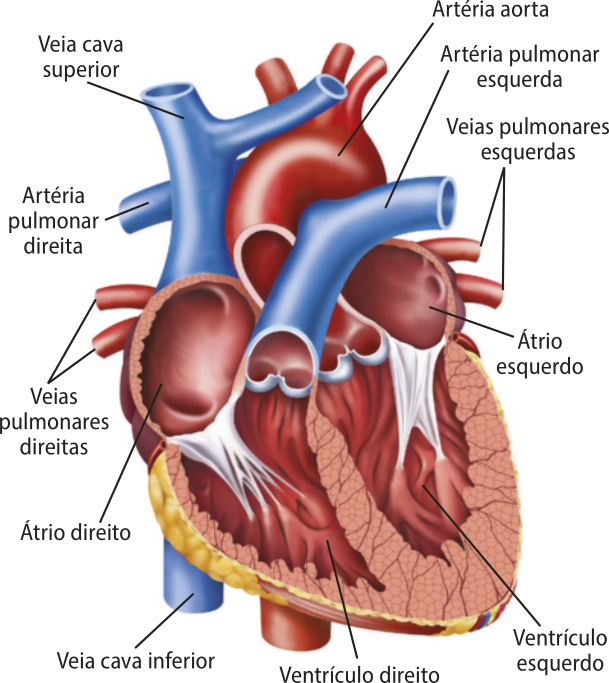
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 953 do pdf.
As valvas quê separam os átrios dos ventrículos são chamadas de valvas atrioventriculares. Após o sangue sair dos ventrículos, as valvas chamadas semilunares impedem seu retorno para o coração durante a sístole.
Página trezentos e cinco
Circulação sanguínea
A cada ciclo quê se completa, o sangue passa duas vezes pelo coração dos sêres humanos. Por isso, pode-se dizêr quê a circulação é dupla, podendo sêr dividida em dois momentos: a circulação pulmonar e a circulação sistêmica.
O sangue quê vêm do corpo, com baixa concentração de gás oxigênio, chega ao coração pelas veias cavas e entra no átrio direito, quê se contrai e o direciona ao ventrículo direito. A circulação pulmonar é iniciada com a contração do ventrículo direito, quê bombeia o sangue pelas artérias pulmonares e suas ramificações para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas.
O sangue, agora com alta concentração de gás oxigênio, chega ao coração pelas veias pulmonares e entra no átrio esquerdo do coração, cuja contração o direciona ao ventrículo esquerdo. A circulação sistêmica é iniciada com a contração do ventrículo esquerdo, quê bombeia o sangue para o restante do corpo por meio da artéria aorta e suas ramificações levando gás oxigênio para as células. Então, o sangue com baixa concentração de gás oxigênio retorna ao átrio direito do coração e o ciclo se reinicia.
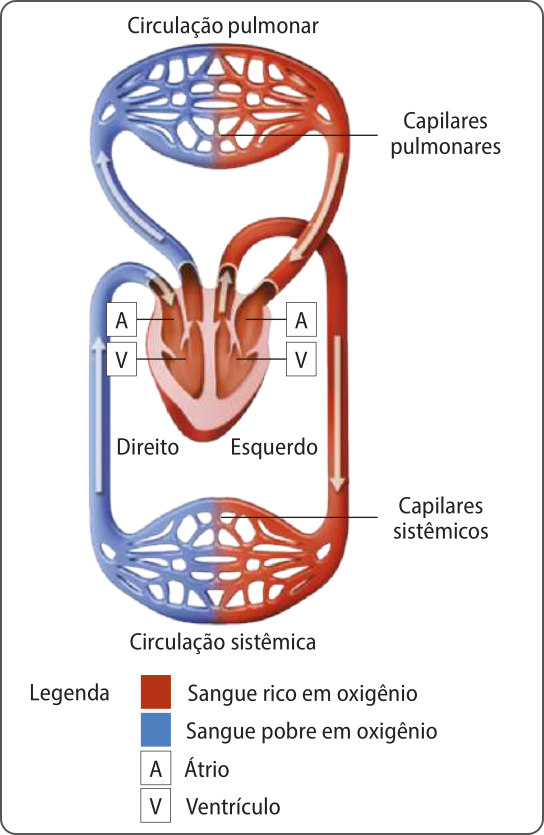
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 919.
Ciclo cardíaco
Um único batimento cardíaco envolve alguns eventos quê, em conjunto, é denominado ciclo cardíaco. Os eventos quê compreendem um ciclo cardíaco são: a contração e o relaxamento dos átrios e a contração e o relaxamento dos ventrículos. Acompanhe-os no esquema a seguir, considerando quê a contração das câmaras do coração se denomina sístole, enquanto o relaxamento é chamado de diástole.
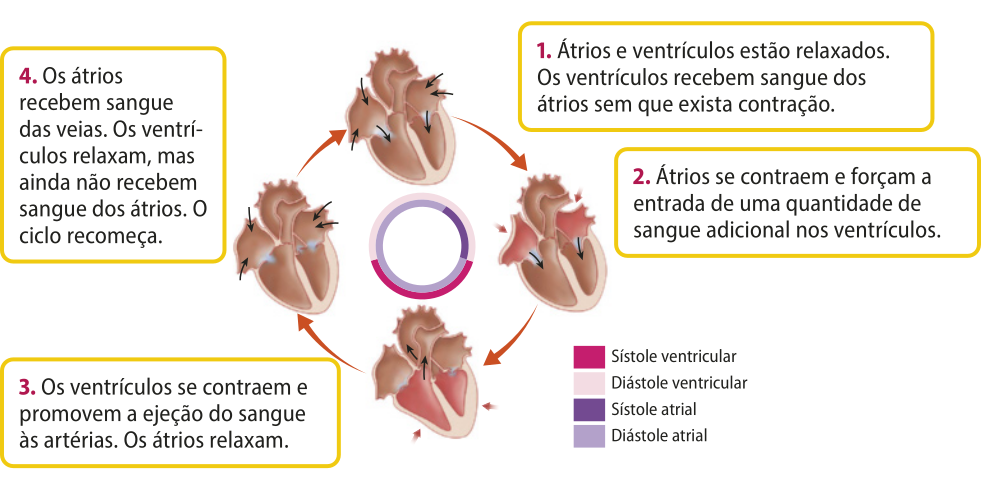
Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 463.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• Assista ao vídeo a seguir e veja o movimento do coração durante o ciclo cardíaco. Vídeo em inglês, com legendas em português.
Como o coração funciona? Publicado por: Né chionál Geográfic. Vídeo (3 min). Disponível em: https://livro.pw/mvdtf. Acesso em: 13 out. 2024.
É possível acionar a legenda no vídeo. Caso precise da janela de Libras, sugere-se o uso de ferramentas digitais como o VLibras (Disponível em: https://livro.pw/noesn. Acesso em: 8 maio 2025.)
Página trezentos e seis
Os batimentos cardíacos mantêm o sangue em circulação em nosso organismo. Quando se determina o número de batimentos por intervalo de tempo, tem-se a freqüência cardíaca. Ela póde variar entre as pessoas e em diferentes situações, como quando estão em repouso ou durante uma atividade física. Em repouso, um homem adulto tem, em média, 75 batimentos por minuto (bpm).
PENSE E RESPONDA
4 Em grupo, planejem e realizem uma maneira simples de medir a freqüência cardíaca. Registrem a freqüência em repouso no caderno.
5 Durante a atividade física, a freqüência cardíaca tende a aumentar significativamente. por quê isso acontece?
Imunidade
A imunidade compõe os mecanismos de defesa do corpo humano contra agentes invasores, como microrganismos, vírus e outros agentes, oferecendo resistência contra o desenvolvimento de doenças infekissiósas. Os mecanismos de defesa do corpo humano podem sêr divididos de acôr-do com a sua especificidade de ação.
As defesas inespecíficas são aquelas quê agem contra qualquer agente estranho no organismo. São exemplos:
• Barreiras físicas: barram a entrada de agentes infekissiósos, como a péle, os pêlos e os cílios;
• Barreiras químicas: produzem substâncias químicas quê agem contra os agentes infekissiósos, como a saliva e as lágrimas;
• Reflexos: expulsam os agentes infekissiósos do corpo, como a tosse e o espirro;
• Processos inflamatórios: caso os agentes infekissiósos ultrapassem as barreiras anteriores, são desencadeados processos inflamatórios mediados por células de defesa, criando-se um ambiente favorável ao combate do agente invasor. Nesses processos, podem ocorrer inchaço, vermelhidão e febre no local.


Página trezentos e sete
As defesas específicas são aquelas em quê há estratégias de combate específicas, mais rápidas e direcionadas, a determinado agente infekissioso. A defesa específica é realizada por linfócitos e anticorpos.
Os linfócitos são um tipo específico de células de defesa presentes no sangue. Eles possuem receptores em sua membrana quê reconhecem antígenos. Os antígenos são estruturas específicas presentes na superfícíe de agentes invasores quê desencadeiam a produção de anticorpos. Os anticorpos, por sua vez, são glicoproteínas produzidas pêlos linfócitos para o combate aos antígenos.
Em caso de infekições, os linfócitos reconhecem os antígenos e produzem anticorpos específicos para eles. Os anticorpos se ligam aos antígenos e ativam uma resposta de combate rápida e direcionada aos agentes invasores. Essa resposta póde variar em diversos fatores, como o tipo de agente invasor.
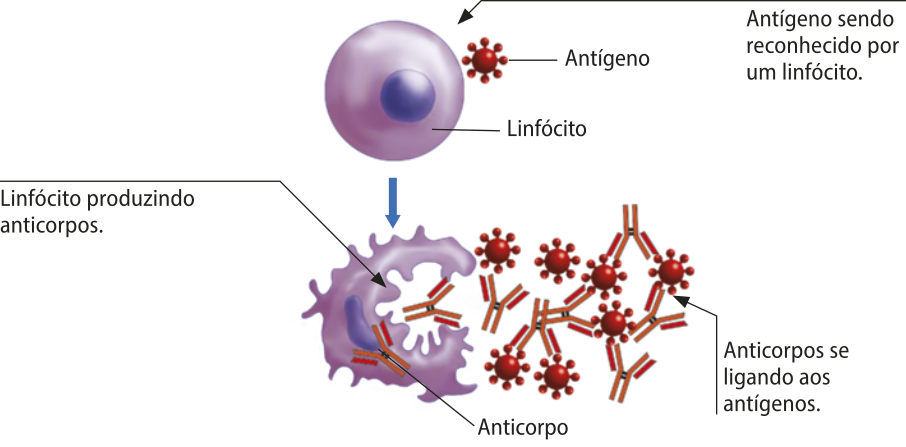
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 953, 961.
Após o primeiro contato com determinado agente infekissioso, o organismo passa a ter memória imunológica. Isso significa quê, em contatos futuros com o mesmo agente infekissioso, o organismo exibirá uma resposta específica mais rápida.
Nessa situação, pode-se dizêr quê o indivíduo apresenta imunidade ativa, pois houve a produção de anticorpos pelo seu organismo. Contudo, ela foi naturalmente adquirida por meio da exposição do organismo ao agente infekissioso, quê ocasionou uma infekição ou uma doença. A imunidade ativa também póde sêr artificialmente adquirida por meio das vacinas, já quê elas estimulam o organismo a produzir anticorpos contra determinados agentes infekissiósos, sem quê ocorra a infekição ou a doença.
Em algumas situações, o organismo póde receber anticorpos prontos, em vez de produzi-los. Nesses casos, refere-se à imunidade passiva. A imunidade passiva póde sêr naturalmente adquirida pelo embrião/feto durante a gestação, quando os anticorpos maternos são transferidos via cordão umbilical, ou pelo bebê, quando os anticorpos maternos são transferidos via amamentação, sêndo importantes para a imunidade nessa fase da vida. A imunidade passiva póde, ainda, sêr artificialmente adquirida pelo organismo por meio dos soros.
PENSE E RESPONDA
6 O corpo humano tem mecanismos de defesa, entretanto, é importante adotar alguns hábitos para reduzir a chance de contrair doenças e infekições em geral. Que hábitos você costuma ter com esse objetivo?
Página trezentos e oito
Vacinas
As vacinas representam uma forma artificial de adquirir a imunidade ativa. As vacinas estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos específicos, geralmente contra vírus ou bactérias, tornando o indivíduo imune a doenças infekissiósas causadas por eles. Esse processo também é denominado imunização.
As vacinas são produzidas a partir de antígenos quê podem sêr obtidos de diversas fontes, como tô-ksinas bacterianas inativadas, vírus ou bactérias mortos ou atenuados, além de proteínas produzidas por técnicas de biotecnologia. Independentemente da fonte, os antígenos presentes nas vacinas não possuem potencial para causar a doença.
O esquema a seguir mostra d fórma resumida como as vacinas agem no organismo.
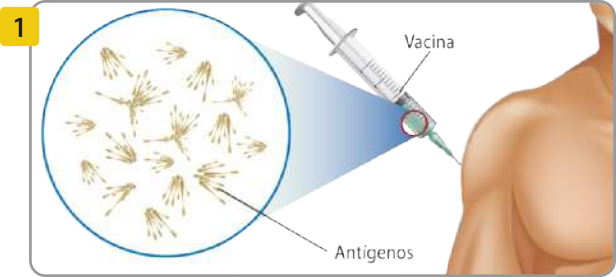
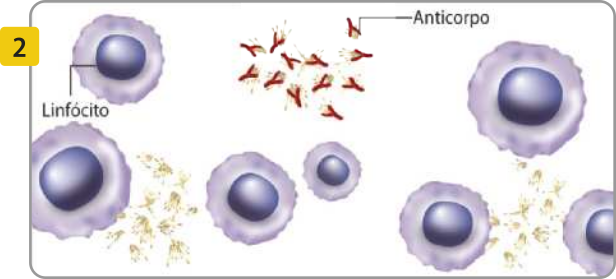
Os linfócitos reconhecem o antígeno introduzido e produzem anticorpos específicos contra ele. Os anticorpos irão se ligar aos antígenos e ativar uma resposta de combate específica e direcionada a eles.
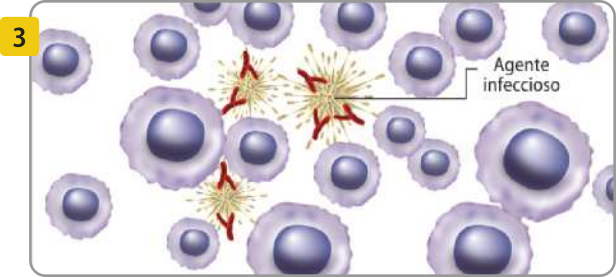
Após o contato com os agentes introduzidos pela vacína, o organismo passa a apresentar memória imunológica. No caso de uma infekição futura, o combate aos agentes infekissiósos será mais rápido e efetivo.
Representação de como a vacína atua no organismo (imagens sem escala; cores fantasia).
Elaborada com base em: BALLALAI, Isabella; BRAVO, Flavia. Imunização: tudo o quê você sempre quis saber. Rio de Janeiro: RMCOM, 2016. p. 12.
As vacinas têm como objetivo proteger os indivíduos do desenvolvimento de doenças ou das suas manifestações graves.
Para quê essa proteção seja a mais eficaz possível, é necessário quê a vacinação seja coletiva, pois contribui para a interrupção do ciclo de transmissão de uma doença. As campanhas de vacinação visam atingir um grande número de pessoas em um curto período e podem sêr direcionadas a faixas etárias e grupos específicos.
PENSE E RESPONDA
7 Faça uma pesquisa e verifique se existe alguma campanha de vacinação vigente em seu município. No caderno, registre as informações encontradas sobre a campanha, como doença, público-alvo, número de doses aplicadas entre outras.
Página trezentos e nove
Devido às campanhas de vacinação, algumas doenças puderam sêr erradicadas no país, como é o caso da varíola e da poliomielite. Isso significa quê nenhum novo caso dessas doenças foi registrado. Contudo, se as pessoas deixarem de se vacinar, é possível quê novos casos voltem a sêr registrados e a circulação das doenças anteriormente erradicadas retórne.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
• No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente 20 vacinas no calendário nacional de vacinação.
Acesse o sáiti a seguir para conhecê-las e aproveite para verificar se você tomou todas as vacinas indicadas para sua idade. Vacinação. Publicado por: Ministério da saúde. Disponível em: https://livro.pw/ibjts. Acesso em: 13 out. 2024.
Soro
Diferentemente das vacinas, o soro representa uma forma de adquirir artificialmente a imunidade passiva. Basicamente, o soro é compôzto por uma solução quê contém anticorpos de um organismo quê já foi imunizado contra determinado antígeno.
Os soros são injetados em organismos não imunes quando anticorpos prontos se fazem necessários rapidamente, como em acidentes envolvendo animais peçonhentos, capazes de inocular tô-ksinas quê podem sêr letais. Nesses casos, o soro ajuda a neutralizar a ação das tô-ksinas no organismo, reduzindo a gravidade de seus efeitos. Para isso, é importante quê sêjam administrados soros específicos ao animal envolvido no acidente. São exemplos o soro antiofídico, quê contém anticorpos para a peçonha de algumas serpentes, e o soro antiaracnídeo, quê contém anticorpos para a peçonha de algumas aranhas e de alguns escorpiões.
Os soros antiofídicos, por exemplo, são produzidos por meio da imunização de cavalos com antígenos específicos. Então, um pequeno volume do sangue do cavalo é retirado para a obtenção de seu plasma, quê contém os anticorpos produzidos contra o antígeno. Essa porção do sangue é purificada para separação dos anticorpos, quê passam por tratamentos específicos para quê possam sêr utilizados em sêres humanos.
No Brasil, o Instituto Butantan é referência na produção de soros.
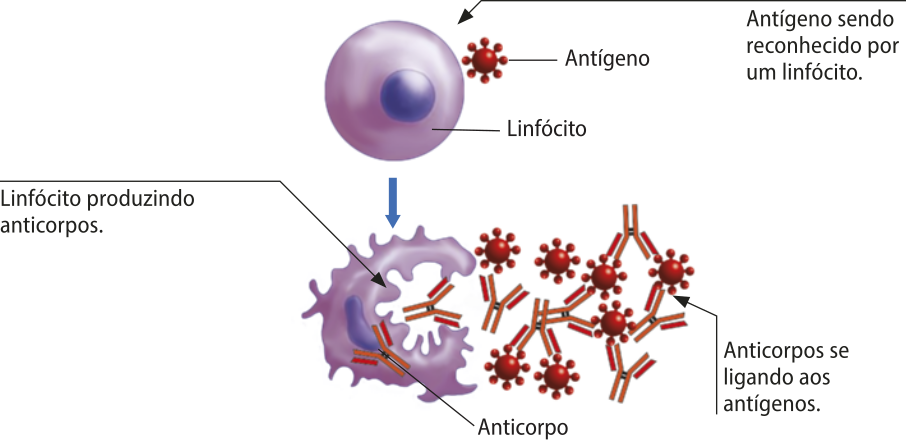
Sistema urinário
O sistema urinário é responsável pela produção e pela eliminação de urína. Alguns produtos residuais do metabolismo, como a ureia, um compôzto nitrogenado produzido pela metabolização de proteínas, também são eliminados junto à urína. Os resíduos do metabolismo são denominados excretas, e sua eliminação é importante para evitar quê atinjam concentrações elevadas no sangue, o quê poderia prejudicar o organismo.
Os componentes do sistema urinário são: rins, ureteres, bexiga urinária e urétra, cujas funções serão estudadas a seguir.
Página trezentos e dez
Os rins são órgãos pares, localizados dorsalmente, ao redor da coluna vertebral, na altura da cintura. Eles produzem a urína. Com isso, dêsempênham funções importantes para o organismo, relacionadas à eliminação de excretas, à manutenção do equilíbrio hídrico e iônico do corpo.
Os ureteres são estruturas tubulares quê conduzem a urína produzida nos rins até a bexiga urinária. A bexiga urinária, por sua vez, é um órgão muscular oco, no qual a urína é armazenada até quê seja eliminada durante a micção, por meio da urétra. A urétra é uma estrutura tubular quê parte da porção inferior da bexiga urinária e se ábri para o meio externo. Nos homens, a urétra se estende ao longo do corpo do pênis e sua abertura é localizada na porção superior dêste órgão. Nas mulheres, a abertura da urétra é localizada entre o clitóris e a abertura da vagina.
Nos homens, a urétra é uma estrutura comum ao sistema urinário (elimina a urina) e ao sistema genital (elimina o sêmen).
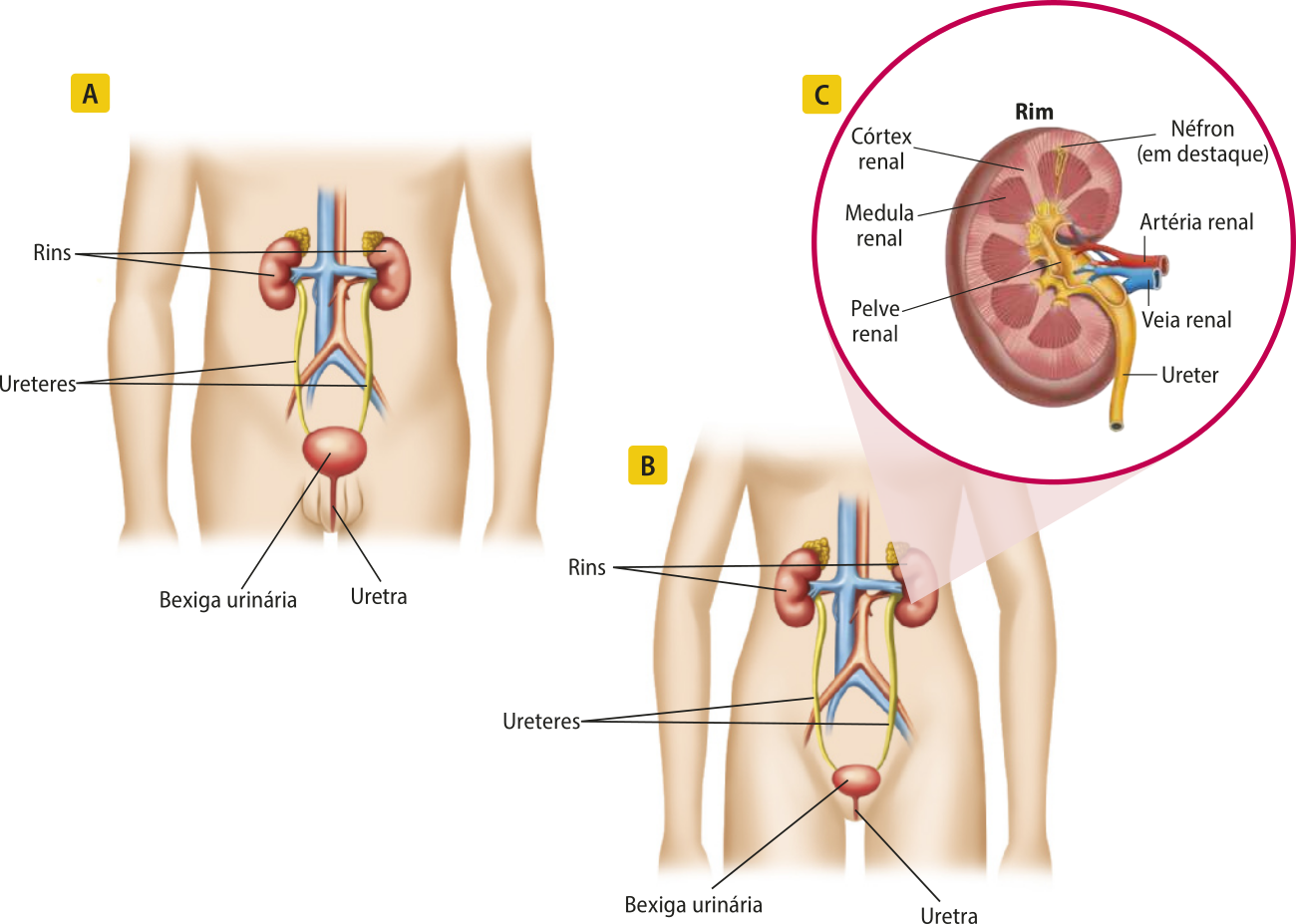
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 1336, 1339 do pdf.
O rim póde sêr dividido em duas regiões: córtex, localizado externamente, e medula, localizada intérnamente. Essas regiões recebem sangue pela artéria renal e suas ramificações. O sangue recebido será filtrado pêlos rins, processo quê inicia a produção de urína. Após sêr filtrado, o sangue é drenado pela veia renal e suas ramificações.
No córtex e na medula renal, encontram-se as unidades funcionais dos rins: os néfrons. Os néfrons são arranjos de túbulos microscópicos envoutos por capilares sangüíneos. Eles produzem a urína, quê é coletada pela pelve renal, a porção superior do ureter. O ureter, então, conduz a urína até a bexiga urinária.
Página trezentos e onze
Produção da urína
Como vimos, a produção da urína ocorre nos néfrons. Os néfrons são constituídos pelas seguintes estruturas: cápsula glomerular, túbulo proximal, alça néfrica, túbulo distal e ducto coletor. Cada uma delas realiza um processo distinto associado à produção da urína, como será apresentado a seguir.
A produção da urína é iniciada com a fiutrassão do sangue conduzido aos rins pela artéria renal e suas ramificações (arteríolas). Nos rins, o sangue trazido pelas ramificações da artéria renal passa por uma rê-de de capilares sangüíneos, denominada glomérulo.
O glomérulo é envouto por uma estrutura oca, chamada cápsula glomerular (1), quê recólhe a solução resultante da fiutrassão do sangue conduzido pelo glomérulo. Essa solução é denominada filtrado glomerular e é composta por á gua e substâncias dissolvidas, com exceção de células e proteínas presentes no sangue, quê ficam retidas e não são filtradas.
O filtrado glomerular recolhido é conduzido ao túbulo proximal (2), onde ocorre a reabsorção de á gua, sais, íons e alguns nutrientes.
A reabsorção continua conforme o filtrado é conduzido à alça néfrica (3), constituída por duas pôr-ções: alça descendente e alça ascendente. Essas pôr-ções têm características distintas, sêndo apenas a alça descendente permeável à á gua. Nesse sentido, a reabsorção de á gua é interrompida ao longo da alça ascendente.
O filtrado é conduzido, então, ao túbulo distal (4), onde ocorre a reabsorção de sais e a secreção de íons para o filtrado, d fórma controlada. O processamento do filtrado é finalizado no ducto coletor (5), quê o conduz até a pelve renal, onde passa a sêr chamado de urína.
As substâncias quê foram reabsorvidas pelo organismo, juntamente ao sangue filtrado, são conduzidas pela veia renal para fora dos rins. As substâncias quê não foram reabsorvidas (como parte da ureia), juntamente àquelas quê foram secretadas no filtrado, serão excretadas do corpo por meio da urína.
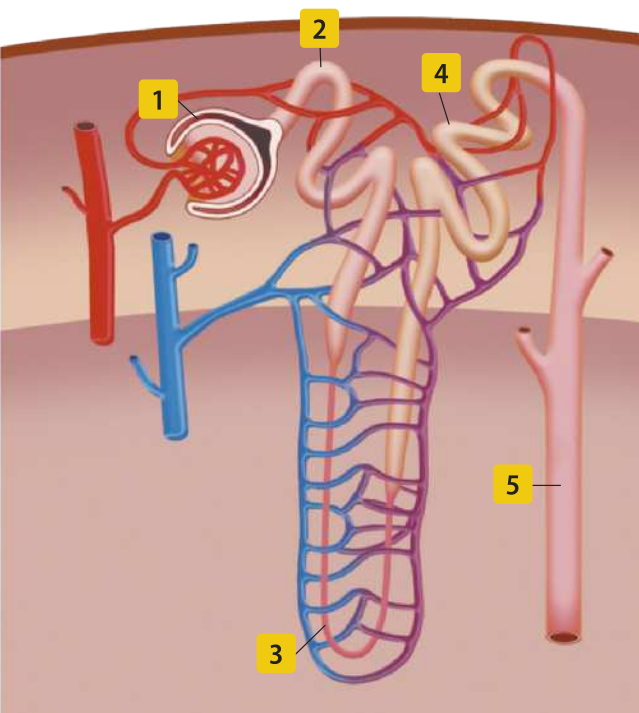
Elaborada com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 593.
PENSE E RESPONDA
8 Nos rins de um sêr humano saudável e bem hidratado, aproximadamente 1.600 litros de sangue são filtrados diariamente. Desse processo, formam-se cerca de 180 litros de filtrado inicial, quê resultam, em média, na produção de 1,5 a 2 litros de urína por dia. Agora, ao refletir sobre essa informação, você acha quê está se hidratando adequadamente ao longo do dia?
9 A côr da urína póde sêr um indicativo de saúde. Faça uma pesquisa e entenda o quê cada côr póde significar.
Página trezentos e doze
Integração dos sistemas e a respiração celular
Os sistemas do corpo humano atuam de maneira integrada para garantir o funcionamento adequado do organismo. A respiração celular evidên-cía essa interação, pois envolve a participação de diversos sistemas para a obtenção de reagentes e a eliminação de produtos resultantes da reação. O esquema a seguir mostra como cada sistema contribui para esse processo.
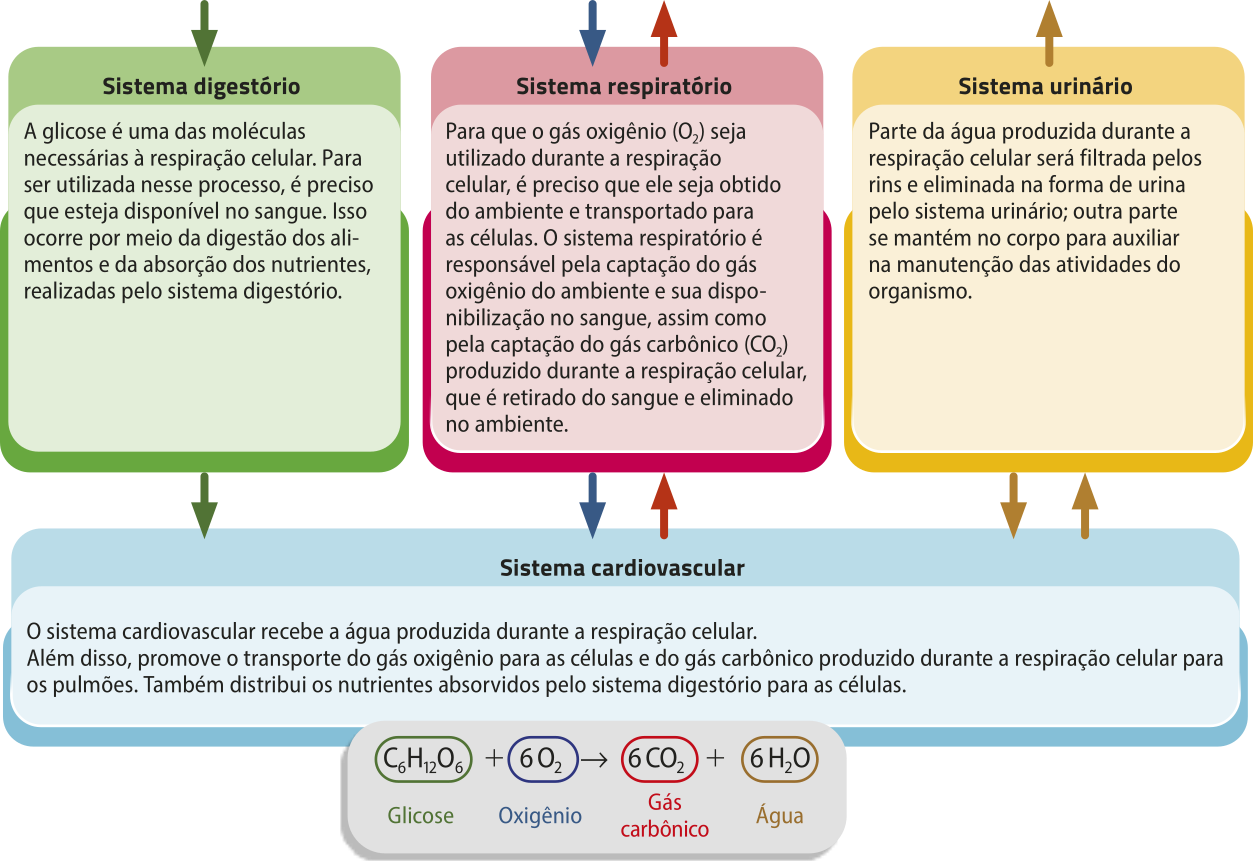
O esquema simplifica a integração entre alguns sistemas do corpo e é específico para a respiração celular. Veja mais informações nas Orientações para o professor.
Representação da integração entre a respiração celular e os diferentes sistemas do corpo humano.
Elaborado com base em: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artméd, 2017. p. 788.
ATIVIDADES
1. Quais são os componentes do sangue? Indique suas respectivas funções.
2. Explique como ocorre a circulação sanguínea no corpo humano.
3. Com relação ao sistema imunológico, diferencie defesa específica de defesa inespecífica e cite exemplos.
4. Onde e como ocorre a produção de urína?
5. A impressão 3D possibilita a criação de objetos tridimensionais a partir de modelos digitais. Essa tecnologia vêm sêndo implementada na Medicina, podendo auxiliar na determinação de diagnósticos e o planejamento de cirurgias. Em fevereiro de 2021, foi realizada em Niterói (RJ) uma cirurgia cardíaca em um bebê quê apresentava um estreitamento da artéria aorta. Graças à impressão de um modelo 3D do coração do paciente, os médicos puderam estudar sua condição e planejar, d fórma mais assertiva, a cirurgia a sêr realizada, quê foi considerada um sucesso.

Página trezentos e treze
Considerando seus conhecimentos sobre o sistema cárdio vascular, responda.
a) Qual é a função da artéria aorta?
b) Que problemas poderiam sêr ocasionados ao organismo do bebê, caso a cirurgia não tivesse sido realizada? Se necessário, realize uma pesquisa para elaborar sua resposta.
c) De quê maneira a impressão 3D auxiliou na resolução do caso dêêsse paciente?
6. Entre agosto e setembro de 2024, cidades de diversos estados brasileiros tiveram o céu coberto por fumaça oriúnda de queimadas provocadas na Amazônea e no Pantanal, levantando um alerta para possíveis riscos à saúde provocados pela inalação de fumaça. Um dos componentes da fumaça é o monóxido de carbono (CO), um gás quê tem alta afinidade pela hemoglobina, se ligando fortemente a ela.
Considerando seus conhecimentos sobre o assunto, responda.
a) O quê é a hemoglobina e qual sua função no organismo?
b) Se uma pessoa inalar uma quantidade expressiva de monóxido de carbono, ela póde ter dificuldade em respirar e apresentar falta de ar. Explique por quê isso ocorre.
7. Cobertura vacinal refere-se ao percentual da população quê foi vacinada, considerando determinada infekição ou doença. Nesse sentido, quanto mais pessoas imunizadas por determinada vacína, maior a cobertura vacinal.
A respeito do assunto, responda às kestões a seguir.
a) Forme um grupo com seus côlégas e escôlham uma vacína para uma doença específica. Posteriormente, obtenham informações na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima do bairro em quê residem e peçam informações sobre a cobertura da vacína escolhida por vocês, nos últimos anos. Pesquisem a respeito da meta mínima recomendada pelo Ministério da Saúde para aquela vacína e anotem as informações obtidas/pesquisadas no caderno.
b) Comparem os dados obtidos por cada grupo no item (a) e verifiquem se existem vacinas quê estão acima ou abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde.
c) Caso existam vacinas quê estão abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde,
elaborem ações quê podem sêr realizadas para aumentar a taxa de cobertura delas.
d) Com o intuito de promover a saúde da população, elaborem panfletos a respeito da importânssia da vacinação e distribuam-nos à comunidade.
8. A hemodiálise é realizada por pacientes cujos rins deixaram de funcionar adequadamente. Nessa técnica, é realizado um procedimento cirúrgico quê une uma artéria e uma veia no braço do paciente (1), onde são inseridos cateteres (tubos) para possibilitar a passagem de sangue. Impulsionado por uma bomba, um dos cateteres conduz o sangue do paciente (2) até um filtro constituído de uma membrana semipermeável (3). Essa membrana filtra impurezas, mantendo células e outros elemêntos no sangue. Essa filtragem é auxiliada por uma solução de á gua ultrapura quê vêm do filtro, atravessa a membrana e carrega consigo as impurezas do sangue, as quais são posteriormente descartadas (4). O sangue filtrado então retorna ao corpo do paciente pelo outro cateter (5).
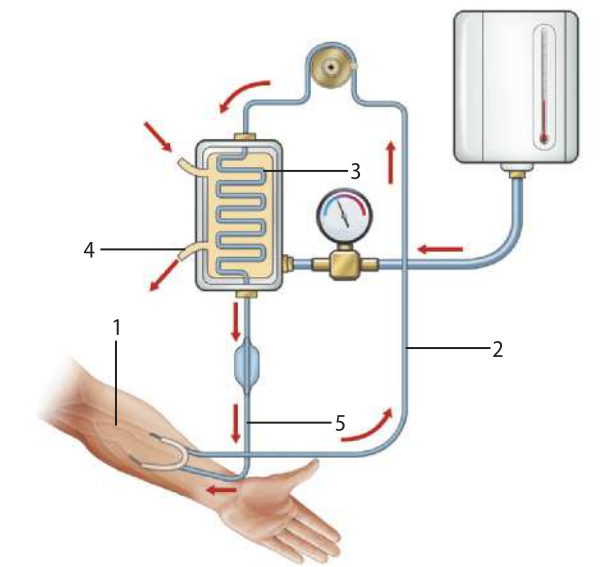
Elaborada com base em: ENTENDA como é feita a hemodiálise. G1, [s. l.], 29 dez. 2019. Disponível em: Disponível em: https://livro.pw/nlopi. Acesso em: 26 ago. 2024.
Com base nas informações apresentadas e em seus conhecimentos, faça o quê se propõe a seguir.
a) O filtro utilizado na máquina de hemodiálise exibe permeabilidade seletiva. O quê isso significa?
Página trezentos e quatorze
b) Qual das etapas descritas corresponderia à eliminação de urína? Explique sua resposta.
c) Faça uma pesquisa sobre as dificuldades em realizar hemodiálise e a importânssia dêêsse procedimento para pessoas com qüadro clínico de insuficiência renal. escrêeva um texto com as informações obtidas e converse com os côlégas.
9. Considere as seguintes informações sobre determinada doença infekissiósa.
• É transmitida pelo contato com secreções contaminadas eliminadas durante a fala ou o espirro;
• Seu agente causador possui como portas de entrada as mucosas da bôca, nariz e olhos.
• Se uma pessoa contaminada espirrar próximo a uma pessoa sadia em um ambiente fechado, é possível quê ela desenvolva a doença.
Com base em seus conhecimentos sobre imunidade, responda.
a) Para ocorrer a infekição, quais barreiras do corpo humano devem sêr atravessadas pelo agente causador da doença?
b) Caso o agente infekissioso atinja a corrente sanguínea de uma pessoa quê não teve contato prévio com ele, como ocorrerá a defesa específica de seu organismo contra esse agente?
c) Ao vivenciar a situação expressa no item (b), a pessoa passa a apresentar imunidade contra esse agente causador. Que tipo de imunidade é essa? Explique sua resposta.
10. A poliomielite, também conhecida como paralizia infantil, é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento de paralizia ou redução da fôrça de alguns músculos, principalmente dos membros inferiores. Ela é causada por um vírus quê póde sêr transmitido pela ingestão de á gua ou alimentos contaminados, além do contato com secreções orais e nasais de pessoas infectadas. A doença foi erradicada no Brasil por meio da vacinação, como representado no gráfico a seguir.
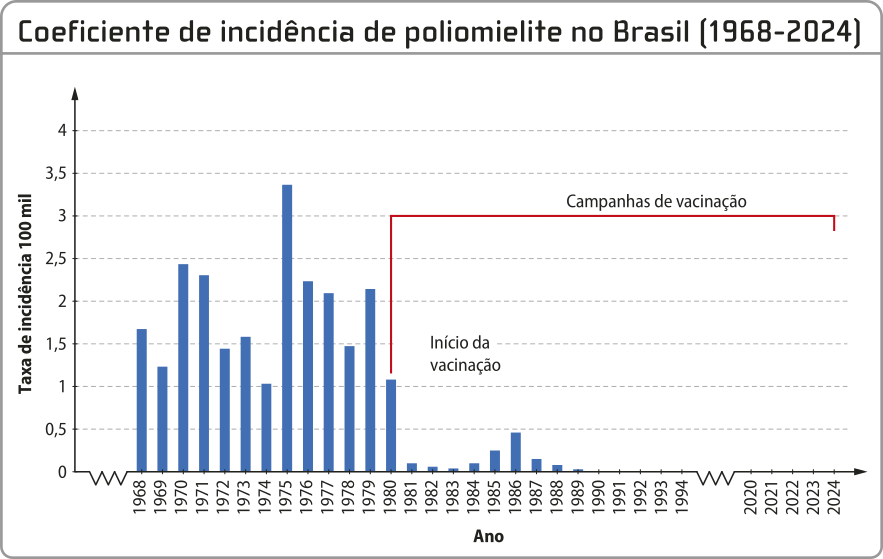
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Coeficiente de incidência de poliomielite e cobertura vacinal com a VOP, em campanhas, Brasil, 1968-2024. Brasília, DF: MS, 2024. Disponível em: https://livro.pw/revbe. Acesso em: 13 out. 2024.
Considerando seus conhecimentos sobre imunização, responda às kestões a seguir.
a) Qual é a importânssia das campanhas de vacinação? Justifique sua resposta utilizando dados do gráfico.
b) Para quê não se registrem novos casos de poliomielite no Brasil, é preciso quê a taxa de cobertura vacinal seja de 95% ou mais, conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde (hó ême ésse). No entanto, entre os anos de 2016 e 2023, a cobertura vacinal dessa doença ficou abaixo dessa recomendação. Quais as implicações dêêsses dados?
c) De modo geral, as pessoas têm deixado de se vacinar. Que fatores contribuem para isso? Faça uma pesquisa sobre o assunto e proponha ações para reverter esse qüadro.
Página trezentos e quinze
Saiba mais
Grupos sangüíneos e sistema ABO
Ao longo da história, houve diversas tentativas de cura para doenças por meio de transfusões sanguíneas. Muitas delas, contudo, não obtiveram sucesso, provocando a morte dos pacientes quê receberam sangue.
A compatibilidade e a incompatibilidade entre o sangue de diferentes indivíduos só passaram a sêr conhecidas em 1900, com os estudos do imunopatologista austríaco káur Landsteiner (1868-1943), quê verificou a existência de grupos sangüíneos, classificados nos tipos A, B, ABO e O. O sistema ABO, como ficou conhecido, está relacionado aos antígenos presentes na superfícíe das hemácias e aos anticorpos contra esses antígenos presentes no plasma sangüíneo.
Veja no qüadro a seguir os antígenos e os anticorpos apresentados por cada tipo sangüíneo.
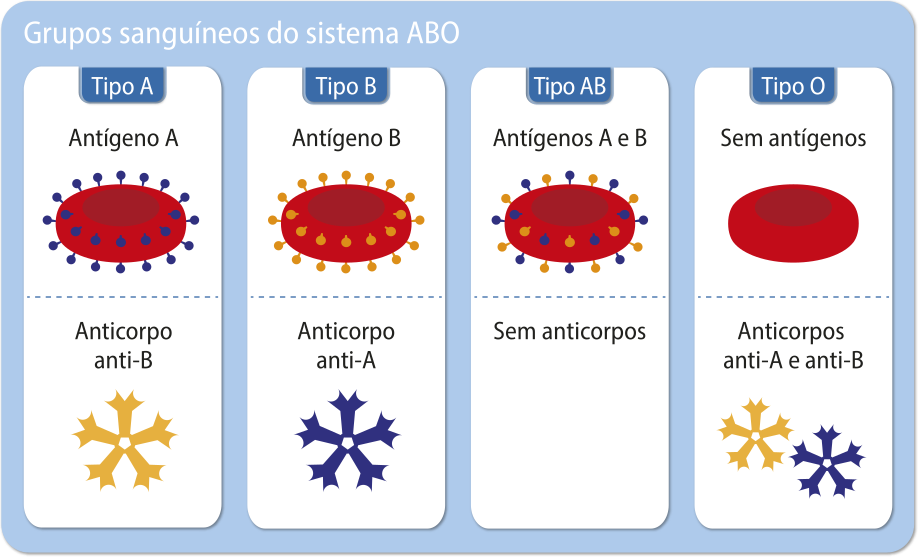
Como indicado no qüadro, o tipo sangüíneo é determinado pelo antígeno presente na superfícíe das hemácias. Os anticorpos, por sua vez, são produzidos contra os antígenos não apresentados pelas hemácias de seu tipo sangüíneo.
Assim, pessoas com o tipo sangüíneo A possuem antígenos A e produzem anticorpos anti-B; pessoas com o tipo sangüíneo B possuem antígenos B e produzem anticorpos anti-A; pessoas com o tipo sangüíneo AB possuem antígenos A e B e não apresentam anticorpos; e pessoas com o tipo sangüíneo O não apresentam antígenos, mas produzem anticorpos anti-A e anti-B.
A presença de anticorpos contra os antígenos presentes na superfícíe das hemácias desencadeia respostas específicas de combate a eles. Assim, faz-se necessário observar os tipos sangüíneos compatíveis para a realização de transfusões sanguíneas.
ATIVIDADES
1. O quê póde acontecer caso uma pessoa com sangue tipo A receba doação de uma pessoa com sangue tipo B?
2. Existem outros fatores relacionados ao tipo sangüíneo, tais como o fator Rh. Faça uma pesquisa sobre esse fator e escrêeva em seu caderno os resultados encontrados.
Página trezentos e dezesseis
TEMA
27
Sistema nervoso
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
Boa parte dos procedimentos cirúrgicos e alguns tipos de exames são realizados apenas após a anestesia do paciente, para quê ele não sinta dor e permaneça confortável durante o processo. Dependendo da situação, a anestesia póde ter efeito no corpo todo (anestesia geral); em apenas uma região do corpo, como nos membros inferiores (regional); ou em um local específico, como na gengiva (local).
A aplicação de anestésicos de efeito geral ou regional é feita por um médico especialista, denominado anestesista. Ele é responsável por selecionar o tipo e a dosagem adequada do anestésico, levando em consideração a saúde do paciente e o procedimento. Além díssu, esse profissional monitora os sinais vitais do paciente durante o processo, intervindo caso necessário.
O sistema nervoso recebe estímulos e envia respostas ao corpo, como no caso da dor. A dor tem um papel importante de proteção. Ela sérve como um sinal de alerta para quê o corpo reaja a lesões ou condições perigosas, permitindo quê a pessoa se afaste da causa da dor ou busque tratamento.
Neste Tema, serão estudados o funcionamento do sistema nervoso na transmissão dessas informações e as principais estruturas quê o compõem.

PENSE E RESPONDA
1 Você já realizou algum procedimento médico em quê foi necessária a aplicação de uma anestesia? Compartilhe as suas vivências com os côlégas.
2 A anestesia age sobre os tecídos nervosos. Como você acha quê eles são afetados pela aplicação de anestésicos durante um procedimento cirúrgico?
Página trezentos e dezessete
Neurônios e o tecido nervoso
O sistema nervoso é responsável pela coordenação dos movimentos e participa do contrôle das atividades dos órgãos do corpo. Para tanto, células especializadas dêêsse sistema transmitem informações a outras células por meio de sinais elétricos de baixa intensidade, denominados impulsos nervosos.
As células especializadas na transmissão de impulsos nervosos são os neurônios, constituídos basicamente pelo corpo celular, pêlos dendritos e pelo axônio. No corpo celular dos neurônios está localizado o núcleo e grande parte das organelas dessas células. Dele, partem extensões curtas e altamente ramificadas denominadas dendritos. Juntamente ao corpo celular, os dendritos recebem os impulsos nervosos quê são enviados aos neurônios. O envio dêêsses impulsos a outras células é realizado pelo axônio, um prolongamento extenso com as extremidades ramificadas quê terminam em estruturas em formato de bulbo, denominadas botões terminais.
Nos vertebrados, os axônios possuem um revestimento membranoso denominado bainha de mielina, cuja constituição é majoritariamente lipídica. Ela atua como isolante elétrico, possibilitando uma maior velocidade na condução de impulsos nervosos. Os neurônios quê apresentam essa estrutura são chamados de neurônios mielínicos.
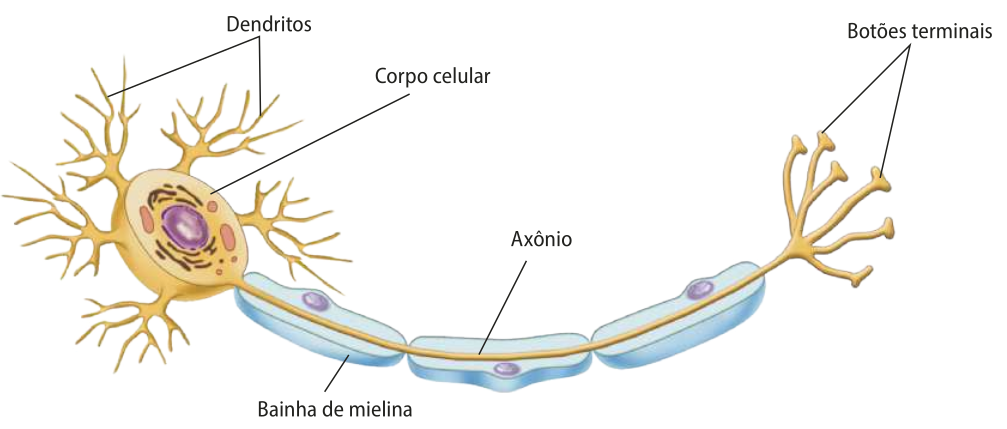
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 561 do pdf.
Além dos neurônios, o tecido nervoso é constituído por células de suporte denominadas gliócitos (ou células da glia). Essas células produzem a bainha de mielina, fornecem nutrientes aos neurônios e regulam a matriz extracelular quê compõe o tecido nervoso.
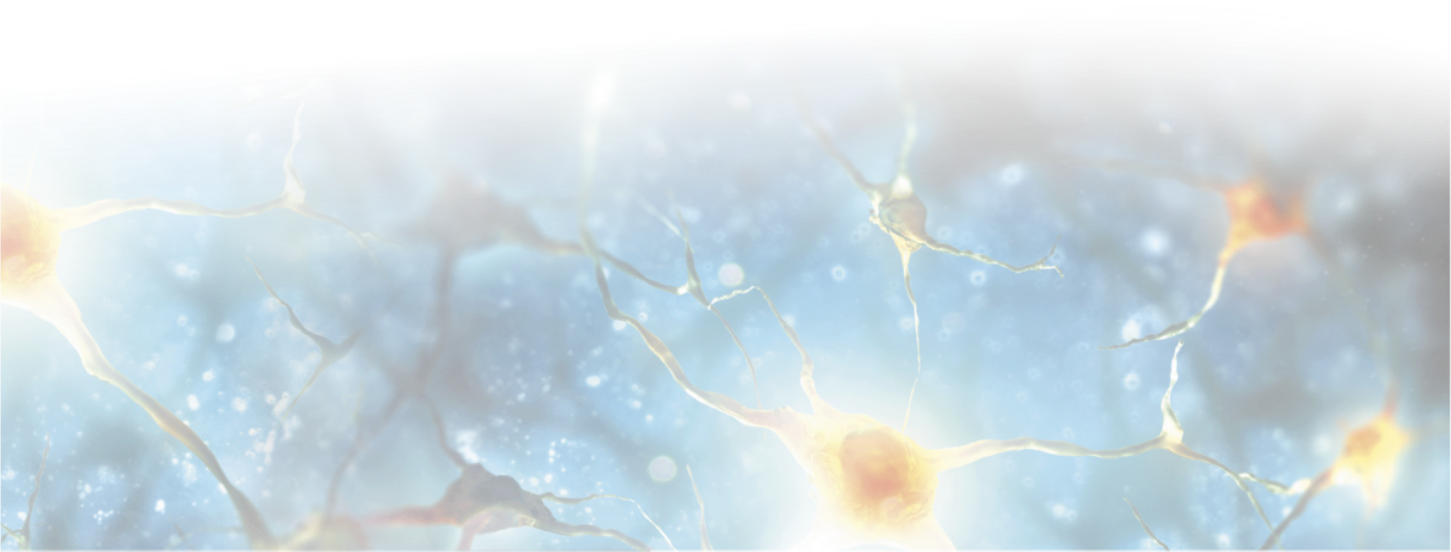
Página trezentos e dezoito
Transmissão de impulsos nervosos
Diversos estímulos ambientais, como a pressão, o calor, o odor e a luminosidade, assim como estímulos internos, como a tempera-túra corporal, a pressão sanguínea, a sede e a fome, são identificados por receptores específicos localizados pelo corpo.
Os receptores enviam esses estímulos aos neurônios, os quais transmitem essas informações por meio de impulsos nervosos até um centro de integração, como o cérebro. O cérebro interpréta essas informações e envia respostas, quê também serão transmitidas pêlos neurônios, por meio de impulsos nervosos, a órgãos ou músculos. Os órgãos ou os músculos, então, executarão essa resposta. No caso dos músculos, por exemplo, a resposta é a contração muscular.
Os impulsos nervosos, portanto, são transmitidos de um neurônio a outro neurônio, ou a outras células, como as quê constituem os músculos e os órgãos. No geral, essa transmissão ocorre do axônio de um neurônio aos dendritos de outro neurônio, por meio da sinapse, região de interação entre um neurônio e outra célula. Nessa região, mensageiros químicos denominados neurotransmissores são liberados pelo neurônio transmissor à célula receptora do estímulo.
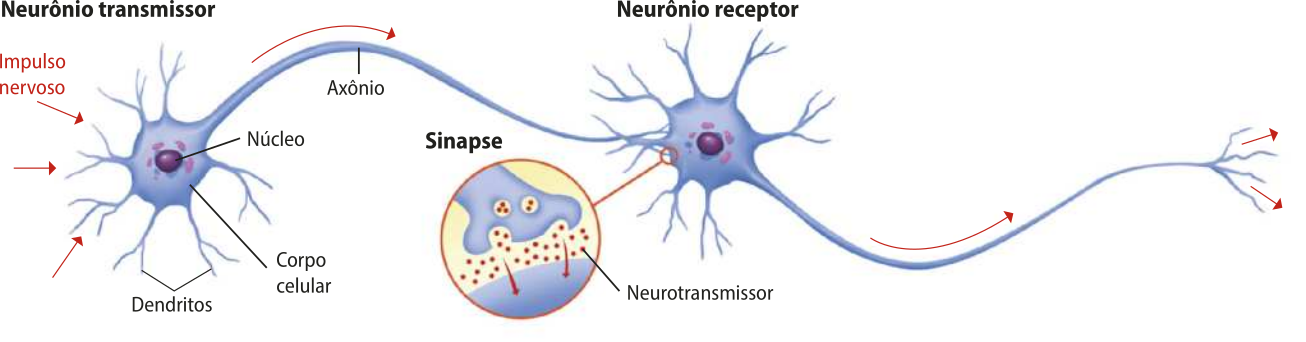
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 1072.
Um neurônio em repouso, ou seja, quê não está transmitindo um impulso nervoso, apresenta a face externa da membrana carregada positivamente e a face interna carregada negativamente. Essa diferença de cargas elétricas entre as faces da membrana plasmática de um neurônio em repouso é denominada potencial de repouso, e é decorrente de uma maior concentração resultante de macromoléculas carregadas negativamente no interior da célula.
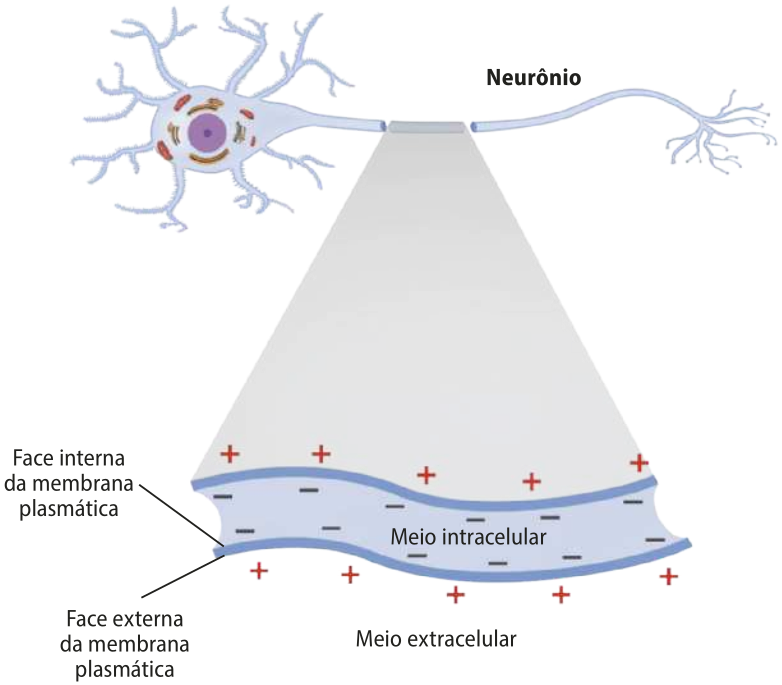
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 4. ed. Porto Alegre: Artméd, 2000. p. 209, 213.
Página trezentos e dezenove
Professor, se desejar, retome o conteúdo de transporte de substâncias pela membrana plasmática abordado no Tema 2.
Quando chega um estímulo ao neurônio, canais transportadores de íons de sódio (Na+) são abertos. Como o meio extracelular apresenta uma maior concentração de íons de sódio, ocorre o transporte passivo dêêsse íon para o interior da célula. Isso faz com quê ocorra uma mudança da voltagem da membrana, resultando em uma face interna cada vez menos negativa, iniciando a despolarização.
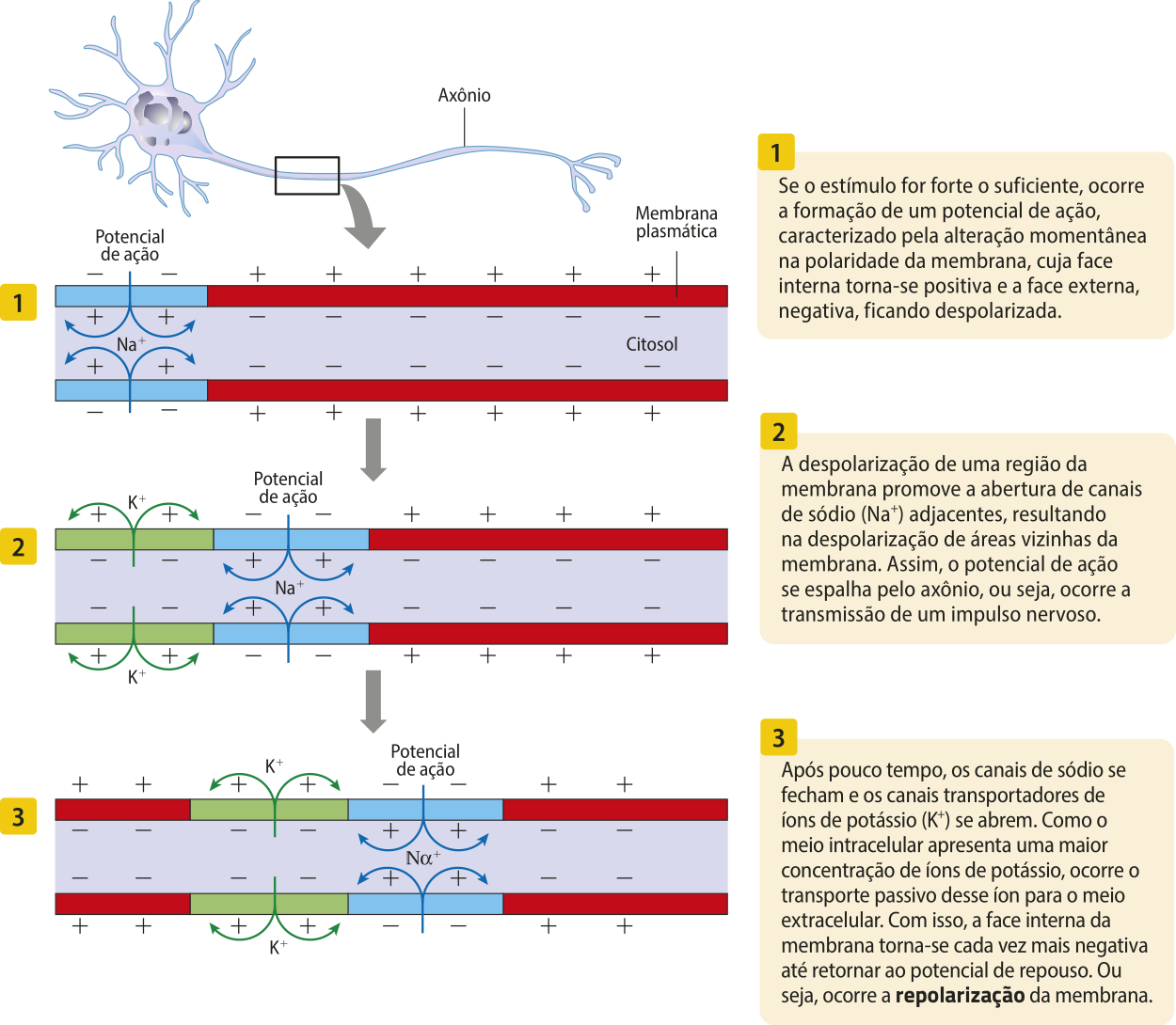
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 1069.
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
Utilize o simulador a seguir para aprofundar seus estudos sobre a transmissão de impulsos nervosos. Neurônio.
Publicado por: Phet. Disponível em: https://livro.pw/oabdc. Acesso em: 27 ago. 2024.
PENSE E RESPONDA
3 Alguns anestésicos inativam os canais de sódio da membrana dos neurônios. Considerando essa informação, explique por quê os anestésicos bloqueiam o envio de informações quê sinalizam a dor ao cérebro.
Página trezentos e vinte
Organização do sistema nervoso
O sistema nervoso do sêr humano é dividido estruturalmente em duas partes: parte central e parte periférica. A parte central do sistema nervoso é formada pelo encéfalo e pela medula espinal e realiza a função de receber e interpretar os estímulos captados por diferentes regiões do corpo humano, além de produzir respostas a eles.
A medula espinal tem formato tubular e se estende desde as vértebras do pescoço até a região lombar, protegida pela coluna vertebral. Ela recebe e direciona informações entre o encéfalo e os órgãos e músculos do corpo.
O encéfalo humano é protegido pelo crânio e póde sêr dividido em cérebro, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico.
O cérebro é a porção anterior do encéfalo. Ele é responsável por receber e interpretar impulsos provenientes de várias partes do corpo, controlar o movimento dos músculos esqueléticos e conectar ambas as funções. Além díssu, o cérebro relaciona-se às emoções, à memória e à aprendizagem.
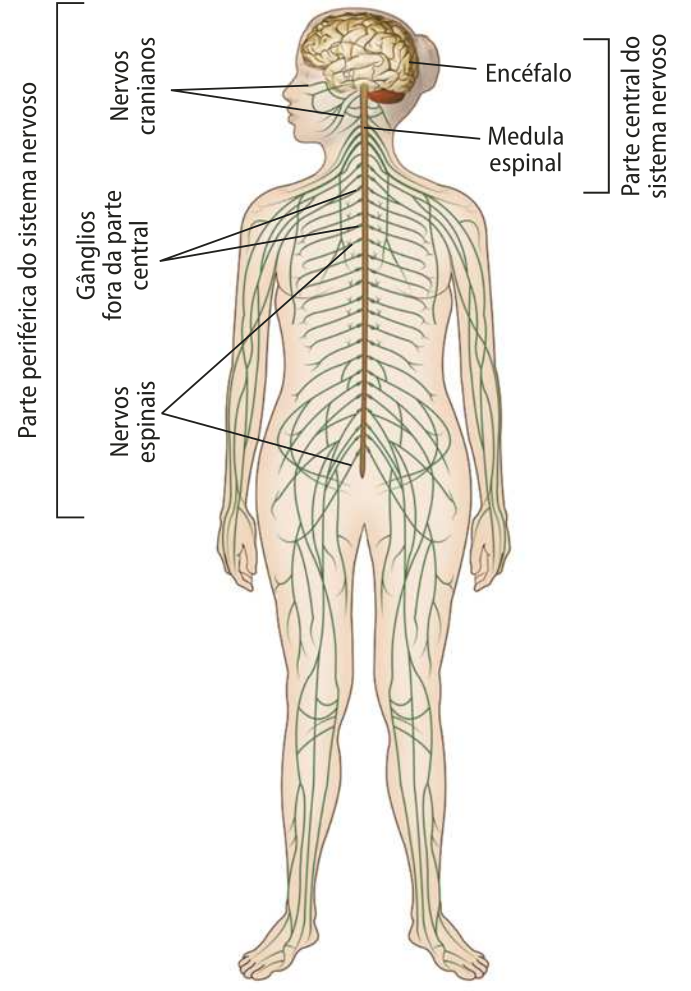
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 1082.
O diencéfalo é subdividido em tálamo e hipotálamo. O tálamo recebe informações do corpo, as classifica e as redireciona ao cérebro, onde serão processadas. O hipotálamo, por sua vez, constitui um centro de contrôle e de regulação da tempera-túra corporal, da sede, da fome, da ansiedade, dos comportamentos sexuais e do ciclo de sono.
O cerebelo atua na coordenação dos movimentos, no equilíbrio e na manutenção da postura. Ele também auxilia na aprendizagem de habilidades motoras.
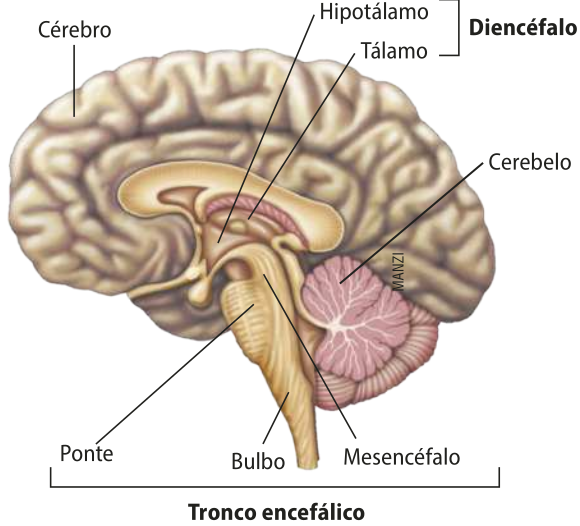
Elaborada com base em: TORTORA, Guérrâr jôsef; dérikson, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 654 do pdf.
Página trezentos e vinte e um
O tronco encefálico é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo recebe e intégra vários tipos de informações provenientes do corpo e as envia para regiões específicas do encéfalo. Também coordena alguns tipos de reflexos visuais. A ponte e o bulbo auxiliam na coordenação dos movimentos do corpo. Outra função do bulbo refere-se ao contrôle dos batimentos cardíacos, da atividade dos vasos sangüíneos, da deglutição e da digestão. A ponte também póde participar dessas atividades, como na regulação da respiração.
A parte periférica do sistema nervoso encaminha as informações provenientes do corpo à parte central do sistema nervoso, além de encaminhar respostas a órgãos e músculos. Ela é constituída, principalmente, por nervos e gânglios.
Os nervos são conjuntos de axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Eles conduzem impulsos nervosos à parte central do sistema nervoso e/ou aos diferentes órgãos do corpo humano.
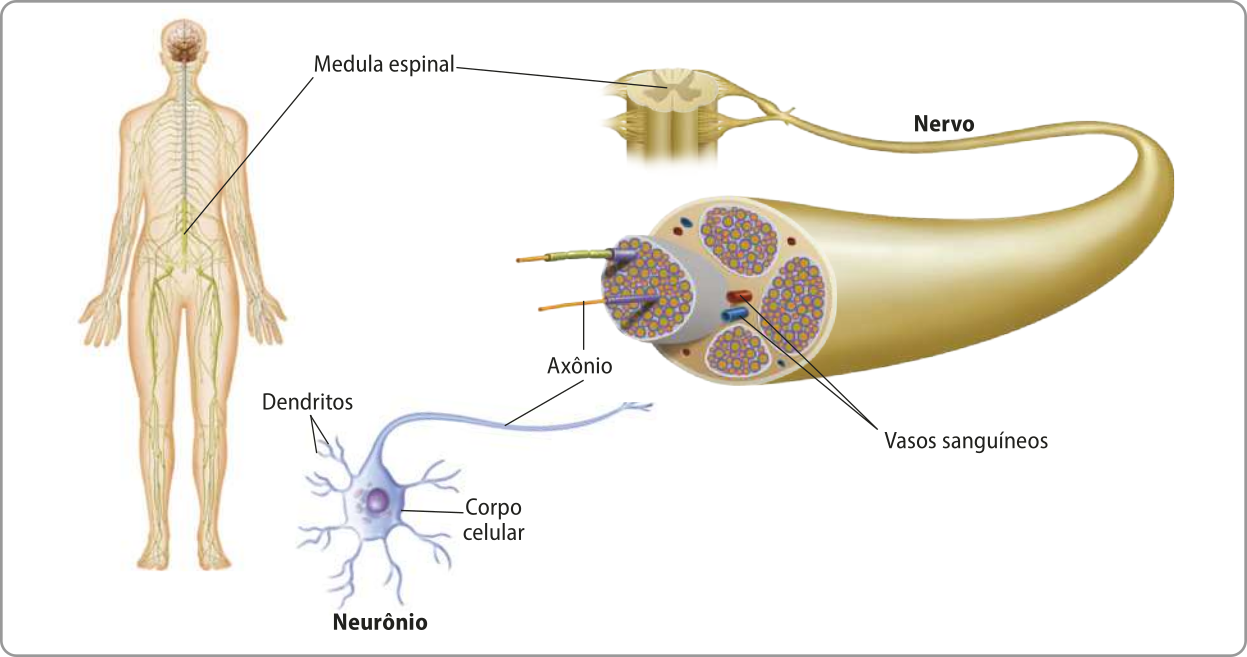
Os gânglios são constituídos por corpos celulares de neurônios não localizados na parte central do sistema nervoso. Eles também atuam na condução de impulsos nervosos para os órgãos do corpo e para a parte central do sistema nervoso.
A parte periférica do sistema nervoso póde sêr dividida em dois componentes: parte somática e divisão autônoma do sistema nervoso.
A parte somática é responsável por conduzir impulsos nervosos para os músculos esqueléticos, de ação voluntária. Ela também está relacionada aos atos reflexos, quê são movimentos involuntários e rápidos gerados d fórma independente do cérebro. Nesse caso, os impulsos nervosos são conduzidos à medula espinal, onde são integrados e encaminhados até os músculos, sinalizando sua contração ou relaxamento.
A divisão autônoma é responsável por conduzir impulsos nervosos para os músculos lisos e cardíaco, de ação involuntária, e para as glândulas.
PENSE E RESPONDA
4 Ao tokár uma superfícíe kemte, automaticamente afastamos a mão dela. Com base nesse exemplo, justifique a importânssia dos atos reflexos para a sobrevivência.
Página trezentos e vinte e dois
ATIVIDADES
1. O sistema nervoso humano é dividido em parte central e parte periférica. Quais são as estruturas quê fazem parte de cada uma dessas divisões e quais são as suas funções?
2. Em seu caderno, faça um desenho de um neurônio. Identifique suas estruturas e represente, através de setas, o caminho seguido pelas informações nervosas recebidas e transmitidas por essa célula.
3. Em uma competição de natação, os atletas se posicionam nas raias da piscina e aguardam o sinal sonoro quê indica o início da próva. Quando o sinal é disparado, os atletas prontamente mergulham na á gua e começam a nadar.
Explique como o sistema nervoso coordena a ação dos nadadores diante do estímulo sonoro quê indica o início da próva.
4. O gráfico a seguir representa o quê ocorre com o potencial da membrana plasmática ao longo de um potencial de ação.
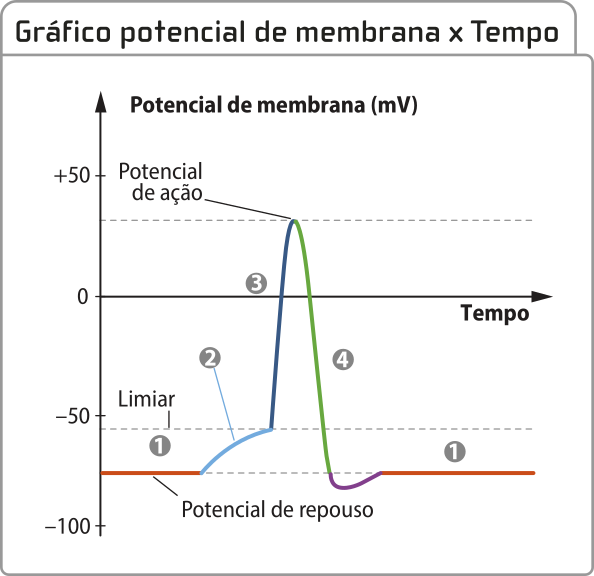
Fonte: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 1068.
Em seu caderno, associe corretamente os momentos 1 a 4 às afirmativas A a D, indicadas a seguir.
A. Quando chega um estímulo ao neurônio, canais transportadores de íons de sódio (Na+) são abertos, e esse íon é transportado para o interior da célula. Isso faz com quê a face interna da membrana fique cada vez menos negativa.
B. Um neurônio apresenta a face externa da membrana carregada positivamente e a face interna carregada negativamente.
C. Após pouco tempo, os canais de sódio se fecham e os canais transportadores de íons de potássio (K+) se abrem, e esse íon é transportado para o meio extracelular. Com isso, a face interna da membrana torna-se cada vez mais negativa, ocorrendo a repolarização da membrana.
D. Se o estímulo for forte o suficiente, ocorre a formação de um potencial de ação, caracterizado pela alteração momentânea na polaridade da membrana, tornando-a despolarizada.
5. A esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns quê acometem o sistema nervoso central. Ela é caracterizada pela destruição da bainha de mielina, o quê póde dificultar ou interromper a transmissão dos impulsos nervosos, resultando na dificuldade contínua de andar e de se equilibrar. Nos locais em quê ocorre a desmielinização formam-se placas de tecido rígido, similares a cicatrizes (esclerose), quê podem aparecer em diferentes áreas do cérebro e da medula espinal (múltipla). Suas causas são desconhecidas, mas sabe-se quê os indivíduos apresentam predisposição genética para ela.
A respeito do assunto, responda às kestões a seguir.
a) O quê é a bainha de mielina e qual é a sua função?
b) Relacione a desmielinização aos sintomas provocados pela esclerose múltipla.
c) A esclerose múltipla é uma doença autoimune. Você sabe o quê isso significa? Realize uma pesquisa a respeito de doenças autoimunes e como ocorre o tratamento delas, sobretudo da esclerose múltipla. Produza um pequeno texto organizando as informações encontradas e compartilhe seu texto com os côlégas.
Página trezentos e vinte e três
Saiba mais
Doença de alzái-mêr
Ao longo da vida, ocorrem diversas transformações no corpo humano. Algumas delas são consequência do processo natural de envelhecimento, como a perda de elasticidade da péle, quê resulta em rugas; a redução da densidade dos óssos, quê os torna frágeis e suscetíveis a fraturas; a redução da fôrça muscular e o enrijecimento das articulações, quê podem restringir a realização de movimentos; a redução da visão e da audição; além da redução de funções relacionadas ao sistema nervoso, como a memória.
A perda de memória é natural ao envelhecimento, mas póde sêr um alerta para a doença de alzái-mêr. Essa doença se caracteriza pela perda progressiva de neurônios em cértas regiões do cérebro associadas à linguagem, ao raciocínio, à memória e ao pensamento abstrato (ideias compléksas quê envolvem generalizações, metáforas, símbolos, hipóteses, entre outros). Como consequência, as pessoas com essa doença apresentam perda de memória, dificuldade na compreensão, no aprendizado e na realização de atividades diárias, tornando-se cada vez mais dependentes de auxílio externo.
Leia o depoimento a seguir de um filho cujo pai tem a doença de alzái-mêr.
“A convivência é desafiadora, porque é uma mistura de vários sentimentos, entre eles a tristeza.
[...] Quando eu converso com meu pai, a memória não dura um minuto — ele logo esquece.
[...]
Gosto de pensar quê, mesmo quê ele não lembre quê fui até a casa dele, aquele momento juntos o deixa muito feliz. Quando você pergunta se ele está bem, ele responde quê sim porque eu estou lá com ele, porque as netas estão lá. Pede abraço, pede carinho. A parte física, o amor, o afeto é o quê tem valor para ele, muito mais do quê qualquer memória. O pôdêr está na sensação e no presente, mesmo quê ele não se lembre daquele momento no futuro. Já me perguntei se vê-lo e fazermos programas juntos tem algum impacto, ou se como ele esquece não tem importânssia. Mas tem. É maior do quê só akilo quê fica na consciência.
[...]”
STELZER, Manuela; ALGAVE, Andressa. Cuidar de quem está esquecendo. Gama, São Paulo, 22 ago. 2021. Disponível em: https://livro.pw/wblxi. Acesso em: 14 out. 2024.

ATIVIDADES
1. A doença de alzái-mêr afeta quê parte do sistema nervoso?
2. Como é sua convivência com idosos? Em grupo, conversem sobre esse assunto e, em seguida, elaborem um vídeo para promover o respeito e a valorização do idoso. Compartilhem o vídeo nas rêdes sociais da turma.
Página trezentos e vinte e quatro
TEMA
28
Genética mendeliana
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
O milho é um dos cereais amplamente consumidos no mundo, principalmente devido ao seu alto teor nutritivo e à grande produtividade. Contudo, as características do milho atual são diferentes das quê eram no passado, como mostra a ilustração a seguir.
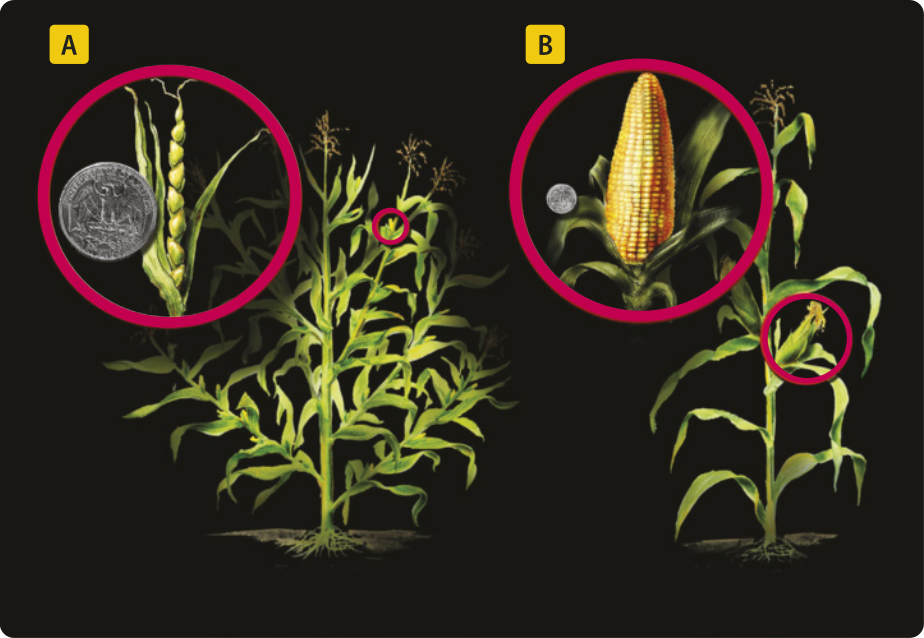
Há cerca de 10 mil anos, os sêres humanos já haviam estabelecido moradias fixas, cultivavam plantas e criavam animais. Uma prática comum desde essa época era selecionar e plantar os frutos com qualidades desejáveis, descartando aqueles quê não as possuíam.
Com o passar do tempo, as espécies vegetais cultivadas foram sêndo gradualmente modificadas, de modo quê algumas características de interêsse humano, como o sabor do fruto, a produtividade da planta e a resistência a pragas, predominassem entre os plantíos.
Um exemplo díssu é o milho, cujo cultivo se iniciou há aproximadamente 9 mil anos em uma região onde hoje se encontra o México. No início, plantava-se uma forma selvagem de milho, chamada de teosinto, com características bem distintas do milho atual. Ao cultivar uma planta com espigas maiores e uma maior quantidade de grãos, essas características eram transmitidas para a geração seguinte, o quê mostra o papel fundamental da hereditariedade nesse processo. Esse será o foco dêste Tema.
PENSE E RESPONDA
1 Que diferenças visuais você consegue identificar entre o teosinto e a espiga de milho atual ilustrados anteriormente?
2 Como você explicaria essas diferenças? Converse com os côlégas.
Página trezentos e vinte e cinco
Introdução aos estudos de Mendel
A hereditariedade compreende a transmissão de características entre gerações, ou seja, dos progenitores aos seus descendentes. Apesar de os primeiros estudos sobre a hereditariedade terem sido desenvolvidos somente no século XIX, os sêres humanos já possuíam noções práticas sobre a transmissão de características hereditárias havia tempos. O exemplo do milho, apresentado anteriormente, é uma evidência díssu, já quê as características das espigas quê eram selecionadas foram herdadas pelas gerações seguintes.
Os primeiros entendimentos científicos sobre os princípios básicos da hereditariedade foram realizados pelo monge austríaco Gregor Mendel (1822-1884). Mendel realizou experimentos envolvendo ervilhas da espécie Pisum sativum, conhecidas popularmente como ervilhas-de-jardim, entre os anos de 1856 e 1864.
Seus estudos se voltaram à compreensão dos mecanismos de transmissão de sete características das ervilhas-de-jardim: textura da semente, côr da semente, côr das flores, formato da vagem, côr da vagem, posição das flores e altura das plantas. Cada uma dessas características apresenta duas variações, indicadas no qüadro a seguir.
Textura da semente |
|
|
|---|---|---|
côr da semente |
|
|
côr das flores |
|
|
Formato da vagem |
|
|
côr da vagem |
|
|
Posição das flores |
|
|
Altura das plantas |
|
|
Representação das variações das características das ervilhas-de-jardim estudadas por Mendel (imagens sem escala; cores fantasia).
Elaborado com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 270.
Em seus experimentos, Mendel realizou diversos cruzamentos entre ervilhas-de-jardim distintas, analisando a proporção em quê as variações dessas características apareciam entre os descendentes.
Um dos motivos do sucesso de seus estudos foi a escolha dessa espécie de ervilha, quê é de fácil cultivo, tem crescimento rápido e produz muitos descendentes, o quê permitiu a realização de análises estatísticas. Além díssu, ele optou por analisar características quê apresentam poucas variações e são de fácil identificação.
Página trezentos e vinte e seis
A primeira lei de Mendel
Para a realização de seus experimentos, Mendel selecionou plantas de linhagens puras. Ou seja, plantas quê produziam descendentes quê sempre apresentavam os mesmos traços de seus genitores. Por exemplo, ao considerar a altura das ervilhas-de-jardim, podemos observar duas variações: plantas altas e plantas baixas. Assim, plantas altas puras são aquelas quê sempre produzem descendentes altos, e plantas baixas puras sempre produzem descendentes baixos.
As plantas puras selecionadas por Mendel compreendem a geração P (geração parental). Para realizar os cruzamentos, ele removeu as antéras das flores antes quê liberassem grãos de pólen, evitando a ocorrência da autofecundação. Em seguida, realizou manualmente a fecundação cruzada entre diferentes indivíduos da geração P: depositava os grãos de pólen de uma planta no estigma das flores de outra planta, como representado na ilustração a seguir. Com isso, ele tinha contrôle sobre a reprodução das ervilhas.
- Autofecundação
- : fecundação entre os gametas masculino e feminino de um mesmo indivíduo.

Elaborada com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 71 do pdf.
Mendel verificou quê, após esses cruzamentos iniciais, todos os descendentes, chamados de geração F1, apresentavam apenas uma das variações das características analisadas. No caso da altura das plantas, os cruzamentos entre plantas altas puras e baixas puras resultavam apenas em descendentes altos.
Na sequência, Mendel permitiu quê os indivíduos da geração F1 realizassem a autofecundação. Em seguida, verificou quê os descendentes da geração F1, chamados de geração F2, apresentavam ambas as variações das características analisadas. No caso da altura das plantas, foram observadas plantas altas e plantas baixas, em uma proporção aproximada de 75% altas e 25% baixas. Essa proporção de 3: 1 também foi observada para as demais características analisadas.
Página trezentos e vinte e sete
Veja na imagem a seguir os cruzamentos realizados por Mendel para estudar a característica altura das ervilhas-de-jardim.
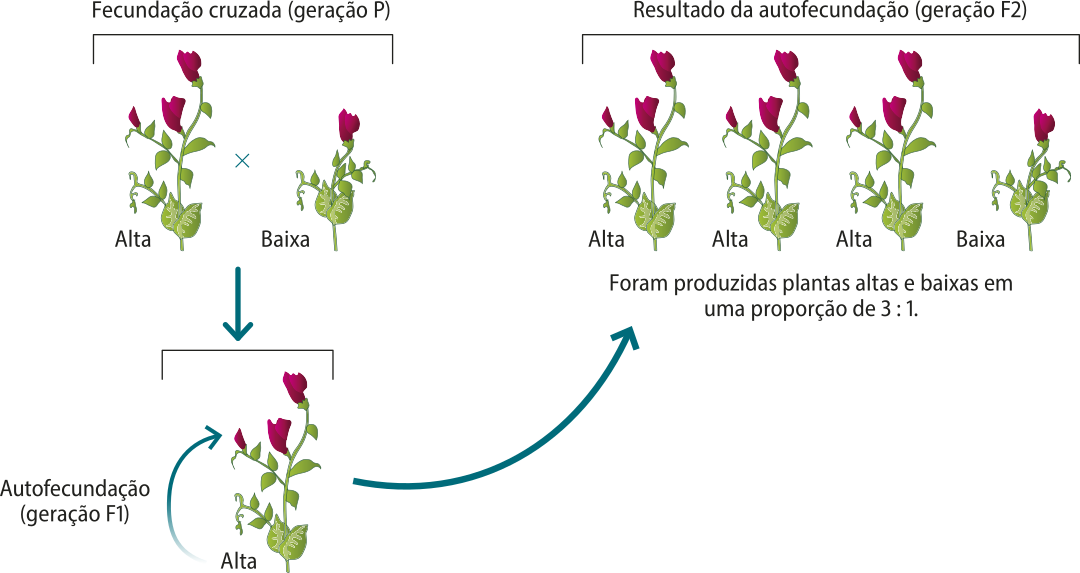
Elaborada com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 72 do pdf.
Ao analisar seus resultados, Mendel propôs a existência de fatores hereditários responsáveis por conferir as características das plantas quê estava estudando e chegou às seguintes conclusões:
• os fatores hereditários são transmitidos dos parentais aos descendentes por meio da reprodução;
• os fatores estão presentes em pares: um dos fatores é herdado de um dos parentais, e o outro fator, do outro parental;
• os fatores podem existir sôbi duas formas: dominante (que se manifesta mesmo na presença do fator recessivo) e recessivo (que se manifesta apenas quando não há o fator dominante).
Para compreender as conclusões de Mendel, analise novamente o exemplo da altura das ervilhas-de-jardim. Para essa característica, existem duas variações de fatores: o fator planta alta e o fator planta baixa.
Na geração P, foi realizado o cruzamento entre plantas puras. Por serem puras, essas plantas apresentavam um par de fatores idênticos: plantas altas puras apresentavam dois fatores de planta alta; enquanto as plantas baixas puras apresentavam dois fatores de planta baixa.
Na geração F1, todos os descendentes eram altos. Mesmo sêndo altos, eles possuíam ambos os fatores: um fator planta alta (herdado de um dos parentais) e um fator planta baixa (herdado do outro parental). Mas, nesse caso, o fator planta alta seria dominante em relação ao fator planta baixa e, por isso, se manifestava. Como o fator planta baixa é recessivo, não se manifestava na presença do fator dominante.
A presença de ambos os fatores na geração F1 justifica o reaparecimento de indivíduos baixos na geração F2, quê era constituída tanto por plantas altas quanto por plantas baixas.
Página trezentos e vinte e oito
Genes e alelos
Atualmente, sabe-se quê os fatores hereditários descritos por Mendel são os genes, segmentos do dê ene há quê carregam informações genéticas para as características herdáveis.
Como já estudamos, organismos diploides apresentam cromossomos homólogos. Em cromossomos homólogos, os genes estão localizados em uma mesma posição e podem se apresentar sôbi diferentes formas, denominadas alelos. Quando os alelos quê codificam uma característica são os mesmos nos dois cromossomos homólogos, o indivíduo é chamado de homozigoto, e quando são diferentes, é chamado de heterozigoto.
Os alelos podem sêr identificados por meio de lêtras. Por convenção, alelos dominantes são indicados por lêtras maiúsculas, e alelos recessivos, por lêtras minúsculas. No exemplo estudado, a altura das ervilhas-de-jardim está relacionada a um gene, quê apresenta duas variações: um alelo para planta alta (dominante), quê será identificado por B, e um alelo para planta baixa (recessivo), quê será identificado por b.
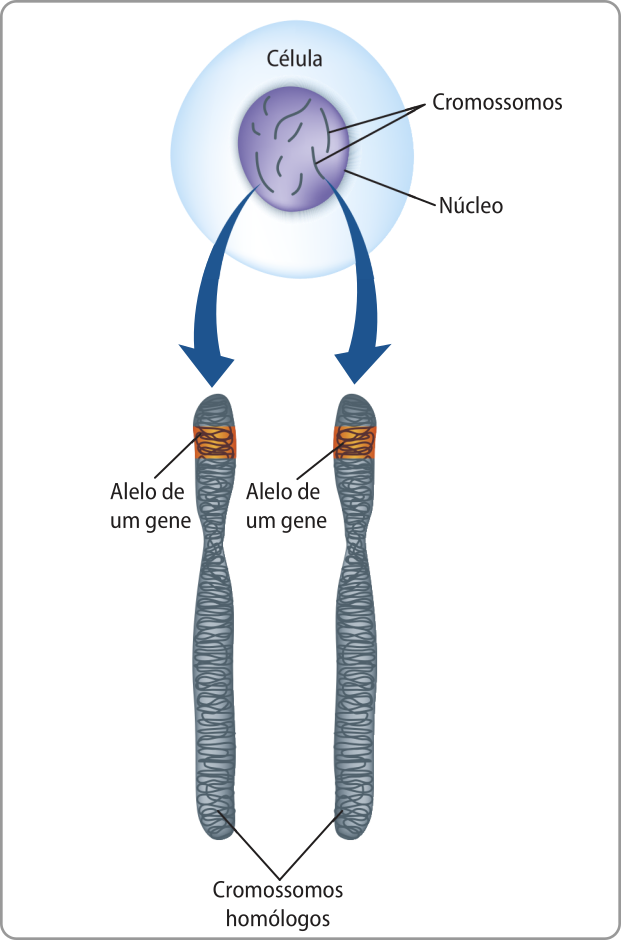
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 271.
Genótipo e fenótipo
A constituição de alelos de um indivíduo, seja para uma característica ou para todo o conjunto de genes, corresponde ao genótipo.
No exemplo estudado, as plantas puras da geração P possuíam alelos idênticos (sendo homozigotas). No caso, as plantas altas puras possuíam dois alelos dominantes B (genótipo BB) e as plantas baixas puras possuíam dois alelos recessivos b (genótipo bb). Já as plantas da geração F1 apresentavam alelos diferentes (sendo heterozigotas). No caso, um alelo B e um alelo b (genótipo Bb).
O genótipo determina, em parte, o fenótipo, quê compreende as características observáveis em um indivíduo. No exemplo, os genótipos BB e Bb manifestam o fenótipo planta alta, enquanto o genótipo bb manifesta o fenótipo planta baixa.
É importante destacar quê o fenótipo também é influenciado pelo ambiente em quê o indivíduo se desen vólve. Por exemplo, apesar de uma ervilha-de-jardim possuir o genótipo para planta alta, ela não necessariamente será alta, uma vez quê seu desenvolvimento póde sêr comprometido caso cresça em um meio com quantidades insuficientes de á gua, luz ou nutrientes.
Genótipo |
Fenótipo |
|---|---|
BB (homozigoto dominante) |
Planta alta |
Bb (heterozigoto) |
Planta alta |
bb (homozigoto recessivo) |
Planta baixa |
Página trezentos e vinte e nove
A primeira lei de Mendel e a meiose
Os alelos são transmitidos durante a reprodução. No caso de organismos quê se reproduzem d fórma sexuada, essa transmissão ocorre por meio dos gametas, quê, em organismos diploides, são gerados através da meiose. Nesse processo, há a separação dos cromossomos homólogos, o quê significa quê apenas um dos alelos de um mesmo gene vai para cada um dos gametas formados. Por isso, os gametas apresentam apenas um dos alelos de seu parental.
Nesse sentido, considerando a altura das ervilhas-de-jardim, tem-se quê plantas altas homozigotas (BB) produzem somente gametas com alelo B e plantas baixas homozigotas (bb) produzem apenas gametas com alelo b. Plantas altas heterozigotas (Bb) produzem dois tipos de gametas, com alelo B e com alelo b, em proporções iguais.
Analise o esquema a seguir quê representa a produção de gametas de uma ervilha-de-jardim heterozigota para altura (Bb).
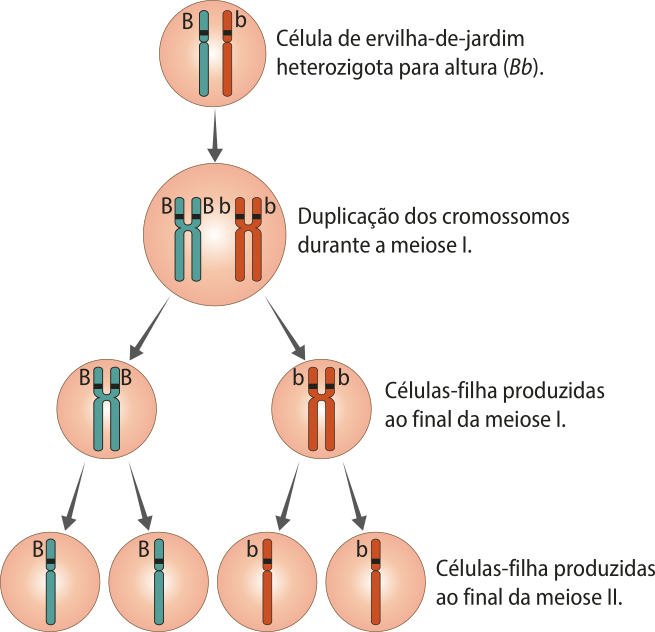
Elaborada com base em: PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 106 do pdf.
A partir do esquema, é possível observar quê os alelos são separados durante a formação dos gametas na meiose, em proporções iguais. Isso define a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação.
Ao analisar os cruzamentos realizados por Mendel para o estudo da altura das ervilhas-de-jardim, percebe-se quê, na geração P, foram realizados cruzamentos entre plantas altas homozigotas (BB), quê produzem gametas B, e plantas baixas homozigotas (bb), quê produzem gametas b. A fecundação dêêsses gametas (B x b) resulta apenas em plantas altas heterozigotas (Bb).
Página trezentos e trinta
Na geração F1, Mendel permitiu a ocorrência da autofecundação das plantas altas heterozigotas (Bb), quê produzem gametas B e b. Neste caso, a fecundação poderia ocorrer entre dois gametas B (B x B), e resultar em uma planta alta homozigota (BB); entre um gameta B e um gameta b (B x b), e resultar em uma planta alta heterozigota (Bb); ou entre dois gametas b (b x b), e resultar em uma planta baixa homozigota (bb).
O qüadro a seguir representa essas informações.
Na geração F2, obissérve quê a proporção de genótipos dos descendentes é de 1: 2: 1 (proporção genotípica). Já a proporção dos fenótipos dos descendentes é de 3: 1.
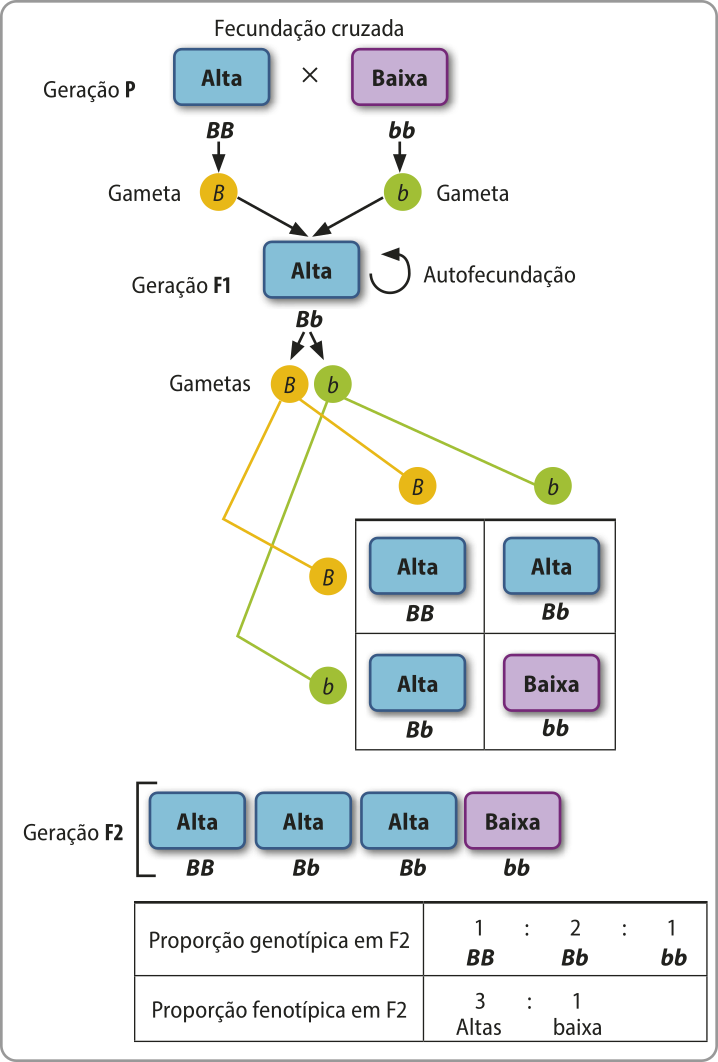
Elaborado com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 74 do pdf.
Tipos de dominância
As características das ervilhas-de-jardim estudadas por Mendel são exemplos de dominância completa. Nesse tipo de dominância, a presença do alelo dominante determina o fenótipo do indivíduo, uma vez quê inibe a expressão do alelo recessivo (por exemplo, o genótipo heterozigoto Bb resulta em ervilhas-de-jardim altas). O fenótipo codificado pelo alelo recessivo somente se manifestará quando o genótipo for homozigoto recessivo (por exemplo, apenas o genótipo bb resulta em ervilhas-de-jardim baixas).
Atualmente, também são conhecidos outros tipos de dominância, como a incompleta e a codominância, quê serão estudados a seguir.
Dominância incompleta
A dominância incompleta ocorre quando os indivíduos heterozigotos possuem um fenótipo intermediário em relação aos homozigotos. Esse padrão de dominância póde sêr evidenciado na côr das flores da planta chamada popularmente de maravilha (Mirabilis jalapa). No caso, indivíduos homozigotos podem apresentar flores vermelhas (FVFV) ou brancas (FBFB), enquanto indivíduos heterozigotos apresentam flores rosadas (FVFB).
Página trezentos e trinta e um
Isso ocorre porque indivíduos de flores vermelhas (FVFV) apresentam duas cópias funcionais do alelo FV, responsável pela produção adequada de pigmento vermelho, enquanto indivíduos de flores brancas (FBFB) apresentam duas cópias do alelo FB, quê não codifica a produção de pigmentos. Já os indivíduos heterozigotos (FVFB) apresentam apenas uma cópia funcional do alelo FV, tendo uma produção reduzida de pigmento vermelho, o quê resulta em flores rosadas. O esquema a seguir representa o cruzamento entre flores vermelhas e brancas.
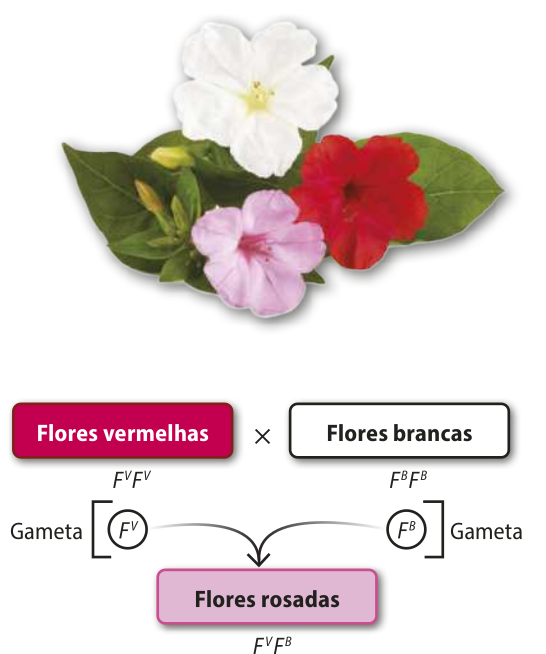
Codominância
A codominância ocorre quando os indivíduos heterozigotos expressam, d fórma simultânea, o fenótipo de ambos os homozigotos. Isto é, ambos os alelos são expressos ao mesmo tempo. Esse padrão de dominância póde sêr evidenciado na côr da pelagem de bovinos da raça Shorthorn.
No caso, os homozigotos podem ter pelagem vermelha (PVPV) ou branca (PBPB). Já os heterozigotos (PVPB) apresentam pelagem malhada, com pêlos vermelhos e brancos. Isso ocorre porque o alelo PV é responsável por codificar a pelagem vermelha, enquanto o alelo PB codifica a pelagem branca, sêndo ambos funcionais, mesmo em heterozigose. O esquema a seguir representa o cruzamento entre indivíduos de pelagem vermelha e de pelagem branca.
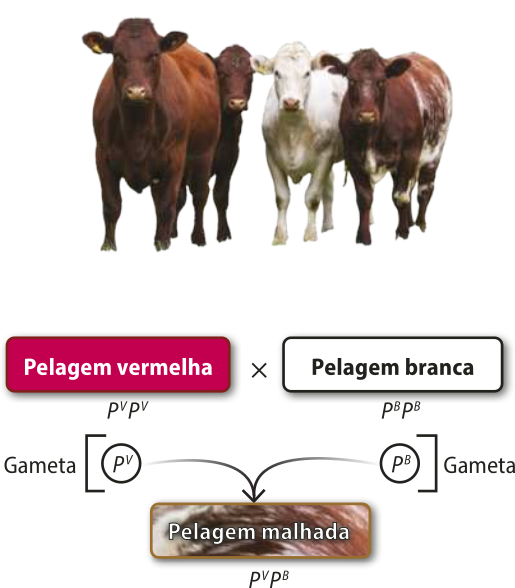
Probabilidade genética
A probabilidade expressa a razão entre o número de vezes em quê um evento póde ocorrer e o número total de possíveis desfechos. Por exemplo, considere um dado de seis faces. A probabilidade de lançar um dado e obtêr o número 5 voltado para cima é de 1 evento em 6 possíveis desfechos (que, nesse caso, equivalem às seis faces do dado). Ou seja, a probabilidade é de

Página trezentos e trinta e dois
PENSE E RESPONDA
3 Considere quê uma pessoa tenha três botões de mesmo tamãnho em seu bolso, sêndo dois azuis e um vêrde. Qual a probabilidade de a pessoa retirar, aleatoriamente, um botão azul de seu bolso?
Mas como aplicar a probabilidade aos cruzamentos genéticos? Para isso, é possível utilizar o quadrado de Punnett, uma ferramenta desenvolvida no início do século XIX pelo geneticista inglês Reginald Crundall Punnett (1875-1967). O quadrado de Punnett é construído da seguinte forma: nas margens, registra-se o alelo presente nos possíveis gametas formados pêlos genitores, e em seu interior registra-se a combinação entre esses alelos.
Analise o exemplo a seguir feito para o cruzamento entre ervilhas-de-jardim altas heterozigotas (Bb x Bb), como na geração F1 estudada por Mendel.
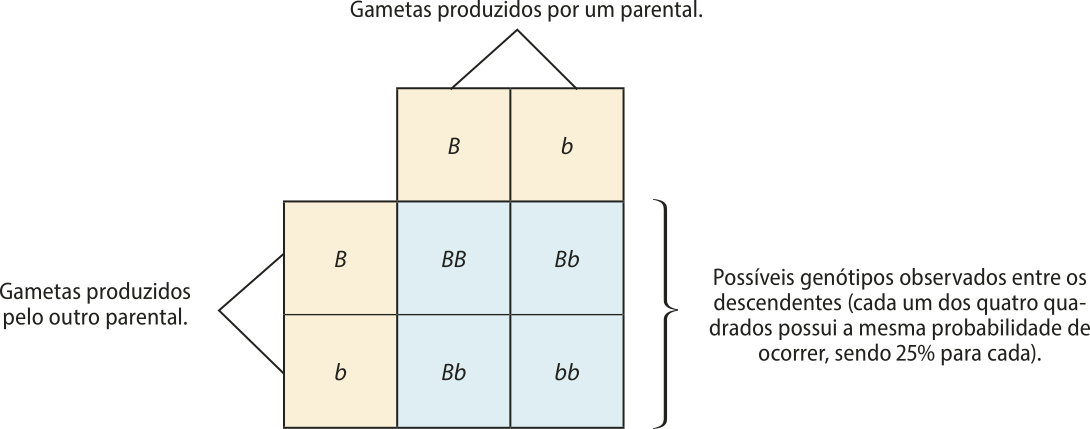
Nesse cruzamento, observa-se quê existem quatro possíveis desfechos para os genótipos dos descendentes. Um dêêsses desfechos é o genótipo BB, resultado da fecundação de dois gametas B (B x B), cada um oriundo de um parental diferente. Dois desfechos possíveis levam ao genótipo Bb, resultantes da fecundação de um gameta B de um parental e de um gameta b de outro parental (B x b), e vice-versa (b x B). O último desfêecho possível é o genótipo bb, resultado da fecundação de dois gametas b (b x b), de parentais diferentes.
Sendo assim, é possível dizêr quê, entre os descendentes dêêsse cruzamento, a probabilidade de o genótipo BB ocorrer é de (ou 25%); do genótipo Bb, de (ou 50%); e do genótipo bb, de (ou 25%). Essa foi a proporção genotípica da geração F2 estudada anteriormente, de 1: 2: 1.
A partir dessas informações, também se póde fazer previsões sobre os possíveis fenótipos dos descendentes. Nesse exemplo, a probabilidade de os descendentes serem altos (genótipos BB e Bb) é de (ou 75%) e de serem baixos (genótipo bb) é de (ou 25%). Essa foi a proporção fenotípica da geração F2 estudada anteriormente, de 3: 1.
Outra maneira de prever os desfechos possíveis de um cruzamento genético é utilizar duas regras de probabilidade: a regra da multiplicação e a regra da adição.
PENSE E RESPONDA
4 Considere quê Mendel tenha realizado o cruzamento entre uma ervilha-de-jardim alta homozigota (BB) e uma ervilha-de-jardim alta heterozigota (Bb). Determine a probabilidade de se obtêr um descendente alto heterozigoto (Bb) nesse cruzamento utilizando o quadrado de Punnett.
Página trezentos e trinta e três
A regra da multiplicação (“regra do e”) diz respeito à probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem juntos. Ela é calculada a partir da multiplicação das probabilidades independentes de ocorrência dêêsses eventos.
Vamos retornar ao exemplo do dado. Para calcular a probabilidade de realizar dois lançamentos quê resultem, ambos, na face quê indica o número 5 para cima, é preciso multiplicar a probabilidade independente de cada um dêêsses eventos ocorrer. No caso, a probabilidade de obtêr o número 5 no primeiro lançamento é de assim como a probabilidade de obtêr o mesmo número no segundo lançamento. Por isso, para determinar a probabilidade de ambos os eventos ocorrerem juntos, é preciso multiplicar suas probabilidades independentes , o quê equivale a .
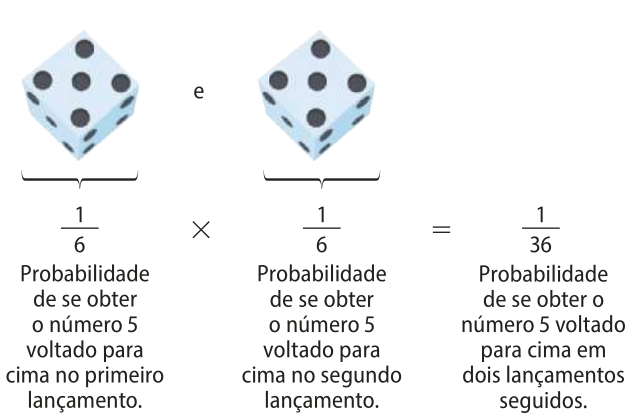
Considere novamente o cruzamento entre ervilhas-de-jardim altas heterozigotas (Bb x Bb). Como seria possível determinar a probabilidade de se obtêr um descendente com genótipo bb, a partir dêste cruzamento? Para isso, é preciso considerar os gametas envolvidos na fecundação. Nesse caso, a fecundação deve ocorrer entre dois gametas quê apresentem o alelo b. Portanto, para obtêr um descendente com genótipo bb, é preciso multiplicar a probabilidade de cada parental produzir um gameta com alelo b d fórma independente.
A probabilidade de se produzir um gameta com alelo b é a mesma para ambos os parentais, e equivale a . Assim, ªº multiplicá-las ( x ), tem-se quê a probabilidade de se obtêr um descendente com genótipo bb é de .
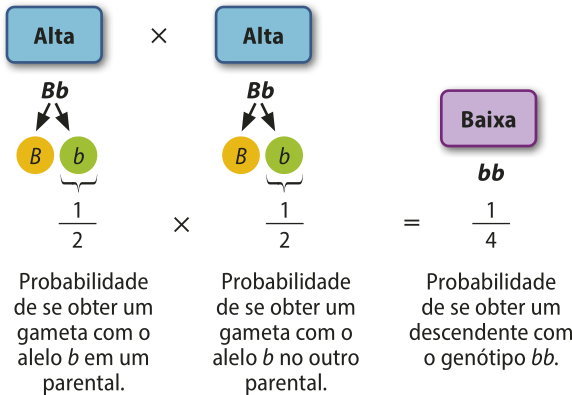
PENSE E RESPONDA
5 Considere quê uma pessoa tenha uma moeda em mãos e faça dois lançamentos.
Qual é a probabilidade de ambos os lançamentos resultarem na face coroa da moeda voltada para cima?
Página trezentos e trinta e quatro
A regra da adição (“regra do ou”) diz respeito à probabilidade de um evento ocorrer entre dois ou mais eventos. Ela é calculada a partir da adição das probabilidades independentes de ocorrência dêêsses eventos.
No exemplo do dado, a probabilidade de realizar um lançamento e se obtêr, por exemplo, o número 5 ou o número 6 é de , pois é preciso somar suas probabilidades independentes ( + . )
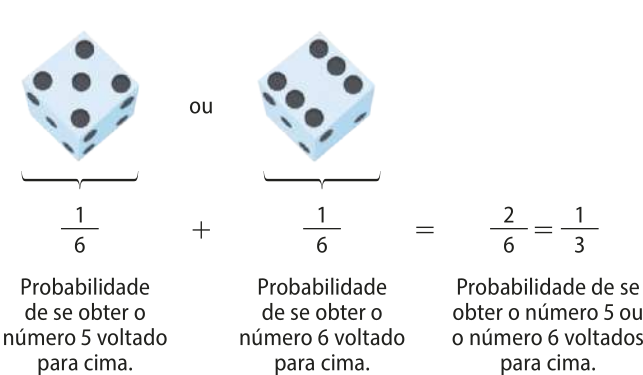
Retomando mais uma vez o cruzamento entre ervilhas-de-jardim altas heterozigotas (Bb x Bb): como seria possível determinar a probabilidade de se obtêr um descendente homozigoto, a partir dêêsse cruzamento? Neste caso, é preciso considerar quê os descendentes altos podem ter genótipo BB (homozigoto dominante) ou bb (homozigoto recessivo). Sendo assim, é preciso somar a probabilidade de ocorrência dêêsses eventos d fórma independente.
Nesse cruzamento, a probabilidade de se obtêr um descendente com genótipo BB é de , assim como a probabilidade de se obtêr um descendente com genótipo bb. Ao somá-las + ,temos quê a probabilidade de se obtêr um descendente homozigoto é de ou 50%.
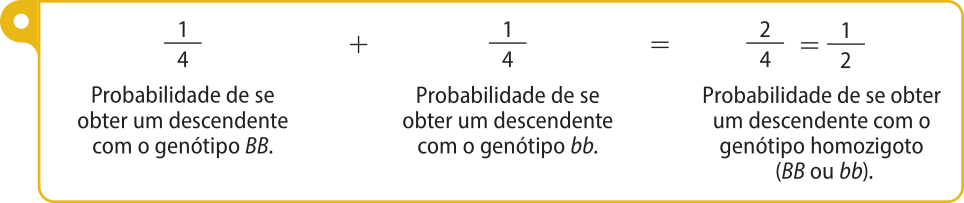
PENSE E RESPONDA
6 Considere quê uma pessoa tenha quatro botões de mesmo tamãnho em seu bolso, sêndo dois azuis, um vêrde e um amarelo. Qual é a probabilidade de a pessoa retirar um botão vêrde ou um botão amarelo de seu bolso?
7 No cruzamento entre ervilhas-de-jardim altas heterozigotas (Bb x Bb), qual é a probabilidade de se obtêr um descendente alto?
Heredogramas
As características humanas condicionadas por um par de alelos estão presentes em autossomos, e não em cromossomos sexuais.
Algumas características humanas são condicionadas por um par de alelos, e, por isso, sua transmissão ocorre conforme a primeira lei de Mendel. Para estudá-las, é possível elaborar heredogramas. Os heredogramas são representações semelhantes a uma árvore genealógica, quê ilustram como ocorre a transmissão de uma ou mais características genéticas entre ancestrais e descendentes de uma família.
Página trezentos e trinta e cinco
Os símbolos comumente utilizados em um heredograma estão representados a seguir.
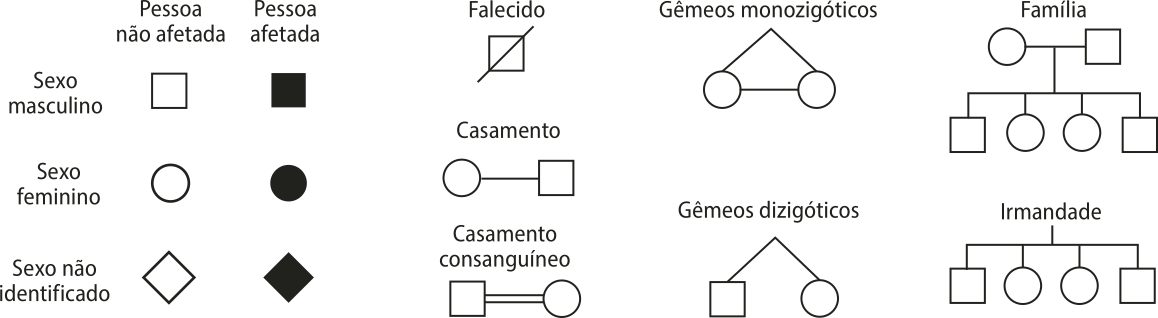
Elaborada com base em: PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 233-234 do pdf.
Como exemplo de heredograma, vamos estudar a ocorrência do albinismo em uma família hipotética. O albinismo se caracteriza pela ausência do pigmento melanina no corpo e está relacionado a um gene, quê conta com dois alelos: A e a. Por sêr uma condição homozigota recessiva, o genótipo de uma pessoa albina é aa, enquanto os possíveis genótipos de pessoas não albinas são AA e Aa.
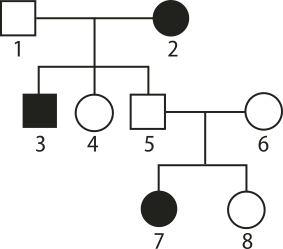

A partir da análise do heredograma apresentado, é possível fazer algumas afirmações.
• Há três indivíduos do sexo biológico masculino (1, 3 e 5) e cinco indivíduos do sexo biológico feminino (2, 4, 6, 7 e 8).
• Os indivíduos 2, 3 e 7 são albinos, e, portanto, possuem genótipo aa.
• Os indivíduos 1, 4, 5, 6 e 8 não são albinos, e, portanto, possuem o alelo A em seu genótipo. Como ainda não conhecemos seus genótipos, podemos representá-los por A? (o ponto de interrogação significa quê o outro alelo ainda não é conhecido).
• Os indivíduos 1 e 2 tiveram três filhos (3, 4 e 5), sêndo quê um deles é albino (3). Portanto, obrigatória mente, os genitores devem carregar o alelo a em seu genótipo. Isso significa quê o genótipo do indivíduo 1 é Aa.
• Os indivíduos 5 e 6 tiveram duas filhas (7 e 8), sêndo quê uma delas é albina (7). Seguindo o mesmo raciocínio, pode-se afirmar quê os genitores carregam o alelo a em seu genótipo. Mas, como eles não são albinos, têm genótipo Aa.
Com isso, observa-se a composição da família conforme qüadro a seguir.
Indivíduo |
Genótipo |
Fenótipo |
|---|---|---|
1 |
Aa |
Não albino |
2 |
aa |
Albino |
3 |
aa |
Albino |
4 |
Aa |
Não albino |
5 |
Aa |
Não albino |
6 |
Aa |
Não albino |
7 |
aa |
Albino |
8 |
A? |
Não albino |
PENSE E RESPONDA
8 Qual é a probabilidade de o indivíduo 8 sêr homozigoto dominante? E de sêr heterozigoto?
Página trezentos e trinta e seis
A segunda lei de Mendel
Além de estudar a transmissão das sete características de ervilhas-de-jardim d fórma isolada, Mendel também analisou como ocorria a transmissão de duas características simultaneamente. Como exemplo, será analisada a côr e a textura da semente. Sobre essas características, Mendel sabia quê a côr amarela era dominante sobre a côr vêrde, assim como a textura lisa era dominante sobre a textura rugosa, pois já havia estudado esses aspectos separadamente.
Para avaliar a transmissão simultânea da côr e da textura das sementes das ervilhas-de-jardim, Mendel conduziu o seguinte experimento: realizou a fecundação cruzada entre plantas de linhagens puras (geração P) para ambas as características. Ou seja, promoveu o cruzamento entre plantas com sementes amarelas lisas e plantas com sementes verdes rugosas. Ele observou quê os descendentes produzidos na geração F1 apresentavam apenas as variações dominantes das características estudadas, no caso, todas as plantas possuíam sementes amarelas lisas.
Então, na sequência, Mendel permitiu quê os indivíduos da geração F1 realizassem a autofecundação e verificou quê os descendentes produzidos na geração F2 apresentavam as variações dominantes e recessivas das características analisadas. No exemplo considerado, foram observadas plantas com sementes amarelas lisas, vêrde lisas, amarelas rugosas e verdes rugosas em uma proporção de 9: 3: 3: 1, respectivamente.
Observe na imagem a seguir os resultados observados nesses cruzamentos.
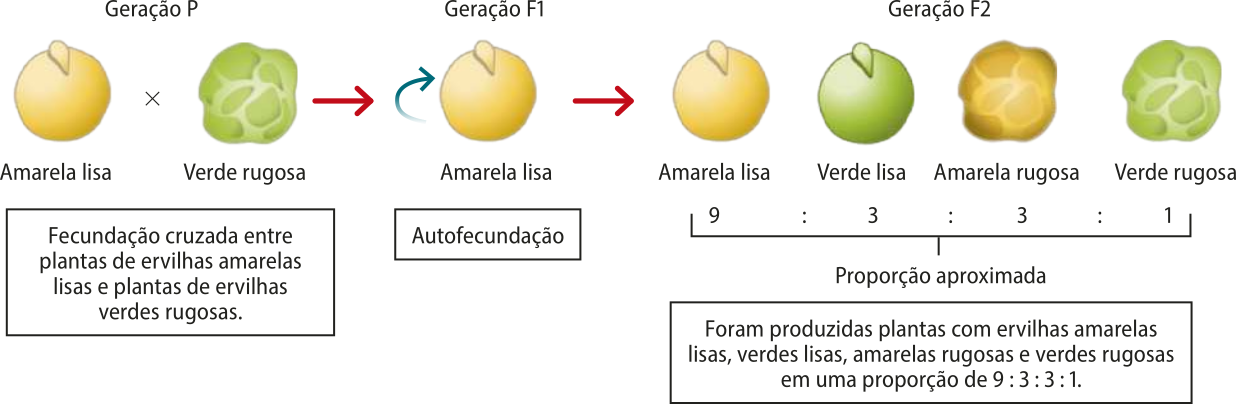
Elaborada com base em: PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 117 do pdf.
Como esses resultados podem sêr explicados? Considere quê o gene quê confere a côr das sementes possui um alelo V para a côr amarela e um alelo v para a côr vêrde. Nesse sentido, as sementes amarelas podem apresentar os genótipos VV e Vv, enquanto as sementes verdes apresentam o genótipo vv. Considere também quê o gene quê confere a textura das sementes possui o alelo R para a textura lisa e o alelo r para a textura rugosa. Sendo assim, as sementes lisas podem apresentar os genótipos RR e Rr, enquanto as sementes rugosas apresentam o genótipo rr.
Como as plantas da geração P eram puras, elas possuíam genótipos homozigotos: as sementes amarelas lisas apresentavam genótipo VVRR e as sementes verdes rugosas apresentavam genótipo vvrr. Na geração P, os gametas produzidos pelas sementes amarelas lisas puras possuem os alelos VR, enquanto os gametas produzidos pelas sementes verdes rugosas puras possuem os alelos vr. Assim, a fecundação dêêsses gametas (VR x vr) resulta em indivíduos com sementes amarelas lisas de genótipo heterozigoto VvRr.
Página trezentos e trinta e sete
Na geração F1, as plantas com sementes amarelas lisas heterozigotas VvRr podem produzir quatro tipos de gametas distintos: VR, Vr, vR e vr. As diversas possibilidades de combinação entre esses gametas resultam em diferentes genótipos e fenótipos na geração F2. Analise o esquema a seguir.
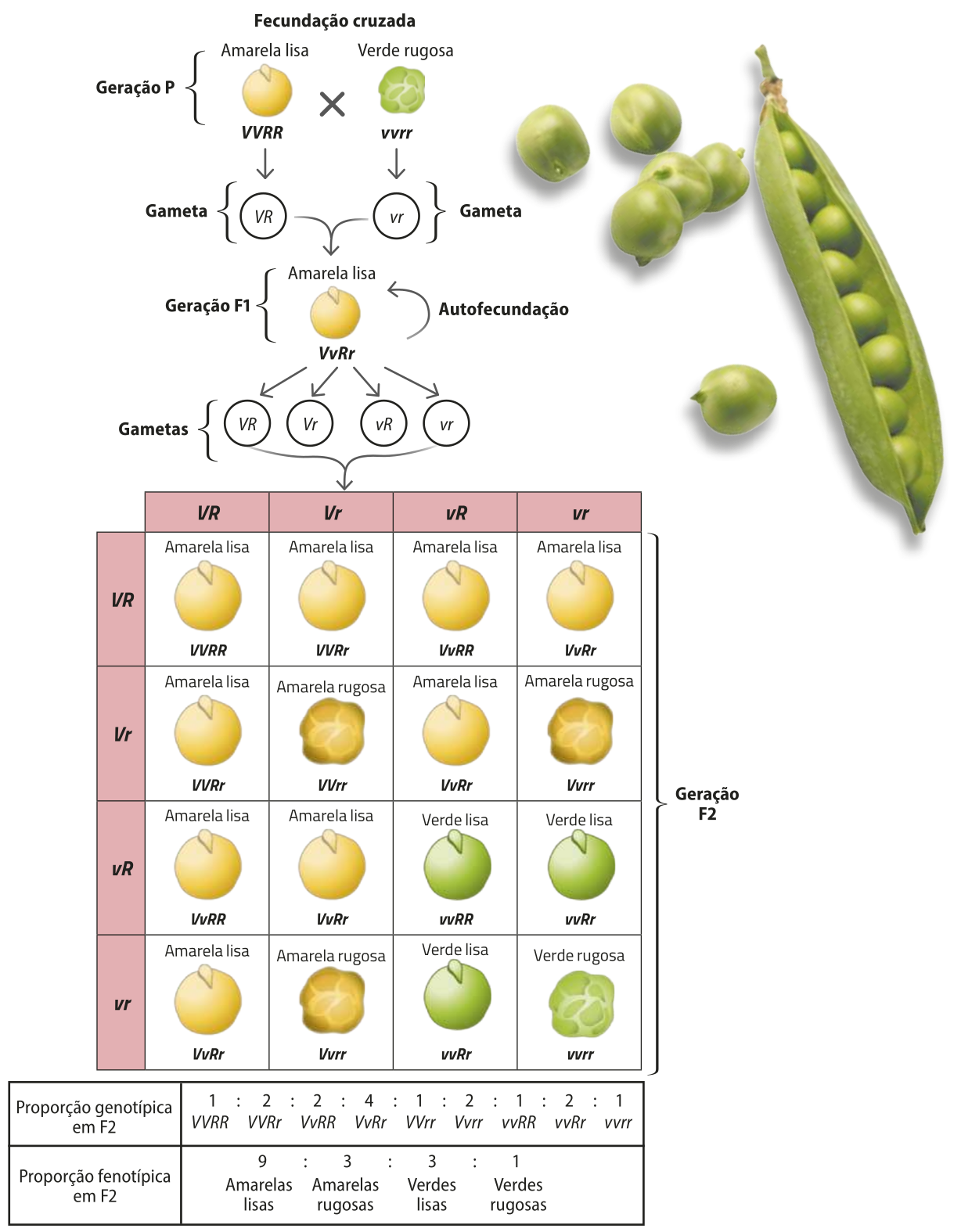
Elaborado com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 77 do pdf.
Na geração F2, obissérve quê a proporção genotípica dos descendentes é de 1: 2: 2: 4: 1: 2: 1: 2: 1. Já a proporção fenotípica é de 9: 3: 3: 1, quê foi a proporção observada por Mendel.
Página trezentos e trinta e oito
A segunda lei de Mendel e a meiose
Com base nesses resultados, Mendel propôs quê os fatores hereditários de características diferentes se separam d fórma independente na meiose. Em outras palavras, genes diferentes se distribuem independentemente entre os gametas formados. Essa conclusão constitui a segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente.
Como visto no estudo da transmissão da côr e da textura das sementes das ervilhas-de-jardim, as plantas amarelas lisas heterozigotas (VvRr) produzem gametas com diferentes combinações, como VR, Vr, vR e vr. Essas combinações são produzidas d fórma independente, como representado no esquema a seguir.
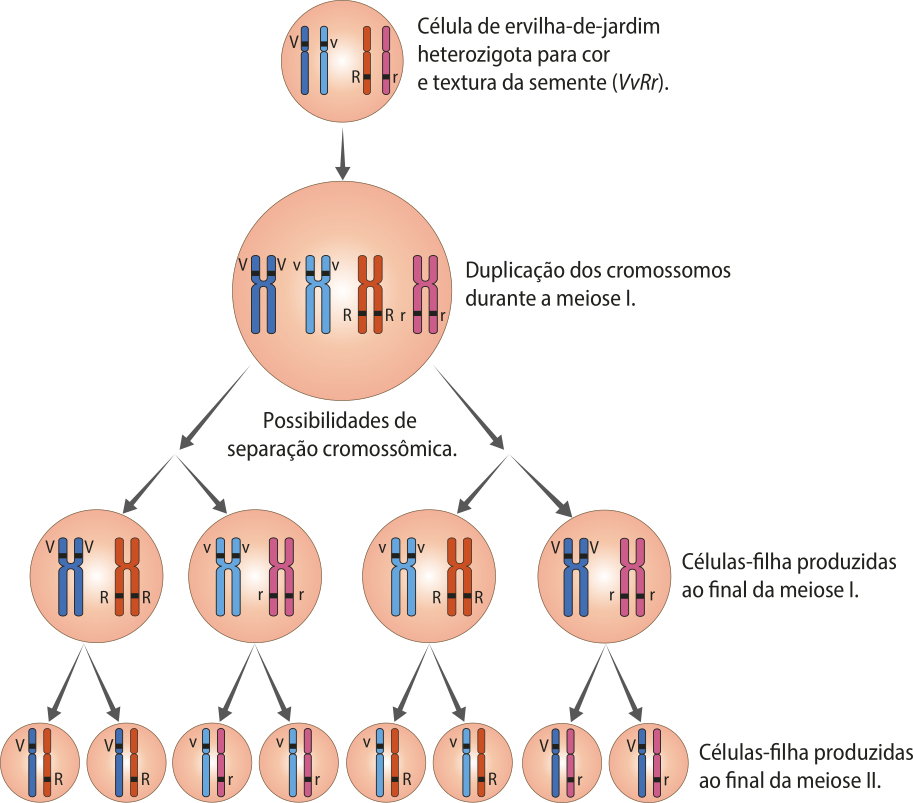
Elaborada com base em: PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 118 do pdf.
Genética além de Mendel
Até o momento, as características hereditárias analisadas contavam com dois alelos. Mas existem genes quê apresentam mais de dois alelos, ao quê se denomina alelos múltiplos ou polialelia. É importa nt e destacar quê, em casos de alelos múltiplos, o genótipo de cada indivíduo se mantém com apenas dois alelos. Além díssu, seu mecanismo de herança não é diferente das características codificadas por dois alelos – a diferença é quê existe uma maior possibilidade de genótipos e fenótipos. Como exemplo, serão analisados os tipos sangüíneos de sêres humanos.
Como já estudado anteriormente nesta Unidade, entre os sêres humanos existem quatro tipos sangüíneos: A, B, AB e O. Esses tipos sangüíneos são determinados por três alelos: o alelo IA, quê codifica o antígeno A; o alelo IB, quê codifica o antígeno B, e o alelo i, quê não codifica antígenos. As relações de dominância entre esses alelos são distintas, de tal forma quê o alelo IA e o alelo IB são ambos dominantes em relação ao alelo i, mas são codominantes entre si.
Página trezentos e trinta e nove
Dessa forma, tem-se seis possíveis genótipos para o sistema ABO, representados no qüadro ao lado.
Possíveis genótipos |
Fenótipo (Tipo sanguíneo) |
|---|---|
IAIA ou IAi |
A |
IBIB ou IBi |
B |
IA IB |
AB |
ii |
O |
PENSE E RESPONDA
9 Considere quê uma mulher com tipo sangüíneo AB se case com um homem com tipo sangüíneo O. Qual é a probabilidade de o casal ter um filho com tipo sangüíneo A?
ATIVIDADES
1. O quê é hereditariedade?
2. Mendel realizou estudos sobre a hereditariedade com ervilhas-de-jardim (Pisum sativum). Quais são as características dessa planta quê contribuíram para o sucesso de seus estudos?
3. Explique o quê é dominância completa, dominância incompleta e codominância.
4. Uma das características analisadas por Mendel foi a côr das pétalas das flores de ervilhas-de-jardim, quê poderiam sêr brancas ou púrpuras. Analise os resultados dos cruzamentos realizados por Mendel para a análise dessa característica, representados no esquema a seguir.
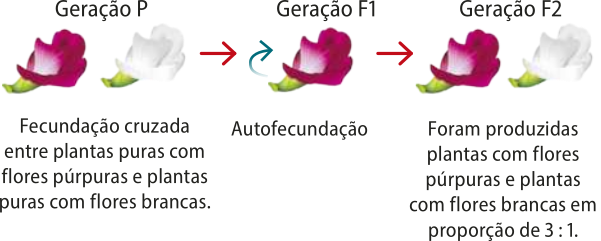
Elaborada com base em: PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 128 do pdf.
a) Qual das variações é dominante e qual delas é recessiva? Explique sua resposta.
b) Considere a letra “A” para representar os alelos quê codificam a característica côr das pétalas das ervilhas-de-jardim. Indique os genótipos dos indivíduos quê constituem as gerações P, F1 e F2. Em sua resposta, utilize o quadrado de Punnett.
c) Considere quê, na geração F1, Mendel tenha realizado dois cruzamentos seguidos entre plantas de flores púrpuras. Qual é a probabilidade de se obtêr uma planta de flor púrpura no primeiro cruzamento e uma planta de flor branca no segundo cruzamento?
d) Caso Mendel tivesse realizado um cruzamento entre plantas de flores brancas, qual seria a probabilidade de os descendentes apresentarem flores púrpuras? Explique sua resposta.
5. A anemia falciforme é uma condição genética caracterizada pela alteração do formato regular das hemácias. Nessa condição, as hemácias possuem formato de foice, o quê dificulta o transporte de gás oxigênio pelo organismo. Sabendo quê a doença se manifesta com genótipo homozigoto recessivo, analise o heredograma e responda às kestões a seguir. (Utilize A ou a para as representações.)
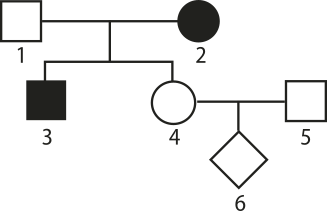
a) Qual é o genótipo dos indivíduos 1, 2, 3 e 4?
b) Considere quê o indivíduo 5 seja homozigoto. Qual é a probabilidade de seu filho (indivíduo 6) possuir anemia falciforme?
c) Considere quê o indivíduo 5 seja heterozigoto. Qual a probabilidade de seu filho (indivíduo 6) possuir anemia falciforme?
Página trezentos e quarenta
6. Os frutos da berinjela podem sêr de três cores: roxa (genótipo PP), rajada (genótipo Pp) e branca (genótipo pp).

Com base nessas informações e em seus conhecimentos, responda.
a) A côr das berinjelas é um exemplo de padrão de dominância completa, de dominância incompleta ou de codominância? Explique sua resposta.
b) Considere o cruzamento entre uma berinjela-roxa e uma berinjela-branca. Qual é a probabilidade de se produzir descendentes rajados?
c) Considere o cruzamento entre uma berinjela-rajada e uma berinjela-branca. Qual é a probabilidade de se produzir descendentes de côr roxa?
d) Considere quê um agricultor queira produzir apenas berinjelas de côr roxa em sua safra. Quais plantas parentais ele deve adquirir para atingir seu objetivo? Explique sua resposta.
7. A determinação do tipo sangüíneo de uma pessoa póde sêr feita por meio de um simples procedimento laboratorial. No caso, pingam-se duas gotas de sangue do paciente sôbi uma lâmina de vidro. Em uma das gotas de sangue, pinga-se uma gota de soro anti-A e na outra, soro anti-B. O resultado é determinado por meio da ocorrência da aglutinação das hemácias (uma reação entre o anticorpo presente no soro e o antígeno presente na superfícíe das hemácias, formando aglomerações de massas celulares). Por exemplo, caso ocorra aglutinação na presença de ambos os soros (anti-A e anti-B), isso é um indicativo da presença dos antígenos A e B na parede das hemácias do paciente. Portanto, seu sangue é do tipo AB.
Considere quê dois indivíduos (I e II) foram realizar um teste de tipagem sanguínea.
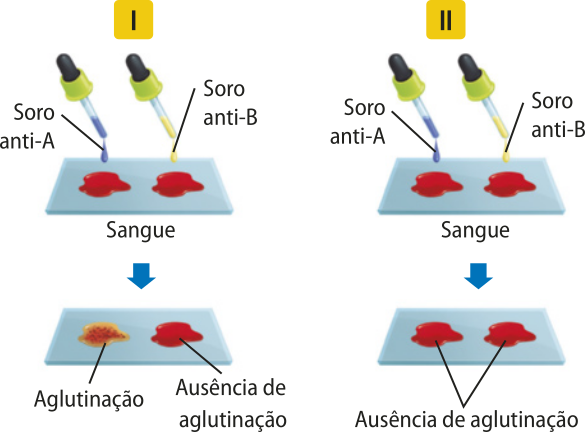
a) Qual é o tipo sangüíneo do indivíduo I? E do indivíduo II? Explique sua resposta.
b) Quais são os possíveis genótipos dos indivíduos I e II?
c) Considere quê os indivíduos I e II desê-jam ter filhos biológicos e quê um dos indivíduos seja heterozigoto para seu tipo sangüíneo. Qual é a probabilidade de um filho dêste casal sêr do tipo sangüíneo O? Explique sua resposta.
8. Considere o estudo da transmissão simultânea de duas características de ervilhas-de-jardim: altura das plantas e côr das sementes.
a) Quais são os genótipos e os fenótipos dos descendentes do cruzamento entre uma planta alta com sementes amarelas (BBVv) e uma planta baixa com sementes verdes (bbvv)? Indique a proporção entre os fenótipos observados.
b) Quais são os genótipos e os fenótipos dos descendentes do cruzamento entre uma planta alta com sementes amarelas (BbVv) e uma planta baixa com sementes amarelas (bbVv)? Indique a proporção entre os fenótipos observados.
Página trezentos e quarenta e um
TEMA
29
Interações gênicas e herança quantitativa
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
Até o momento, você estudou mecanismos de herança relacionados a um único gene, quê codifica apenas uma característica. Foram analisados alguns exemplos quê possuem dois alelos, como a altura, a côr e a textura da semente das ervilhas-de-jardim estudadas por Mendel. Também foram observadas outras situações quê envolvem mais de dois alelos, como o sistema ABO, quê determina os tipos sangüíneos humanos.
Contudo, parte das características exibidas pêlos sêres vivos, incluindo os sêres humanos, é determinada por mais de um gene e pelas interações quê estabelecem uns com os outros. No caso dos sêres humanos, a côr da péle e a côr dos olhos são exemplos. Essas características, combinadas a outras, são responsáveis pela diversidade notada, por exemplo, na população brasileira. Neste Tema, ampliaremos nóssos estudos sobre a hereditariedade, compreendendo outros mecanismos de herança.

PENSE E RESPONDA
1 A imagem desta página retrata uma população. Em sua opinião, quê ideia o artista conseguiu passar a partir de sua pintura?
2 Faça uma ilustração quê, para você, represente a população brasileira. Explique-a a um colega e converse sobre o assunto.
Página trezentos e quarenta e dois
Interações gênicas
Interação gênica refere-se a quando uma única característica fenotípica é determinada pela interação entre dois ou mais genes. Os casos de interação gênica resultam em novos fenótipos, diferente do quê seria esperado nos estudos de Mendel, como será analisado nos exemplos a seguir.
Interação não epistática
A interação não epistática ocorre quando os genes atrelados a determinada característica não interferem na manifestação um do outro. Ou seja, manifestam-se d fórma independente. Como exemplo, tem-se a crista de galinhas-domésticas, característica estudada por Reginald Punnett e pelo biólogo inglês uílhãm Bateson (1861-1926).
Entre as galinhas-domésticas, existem quatro tipos de crista: noz, rosa, ervilha e simples. Essa característica é determinada por dois genes, os genes R e E. A presença do alelo dominante R condiciona a crista rosa, enquanto a presença do alelo dominante E condiciona a crista ervilha. Contudo, quando ambos os alelos dominantes, R e E, estão presentes, manifesta-se a crista noz. Já quando apenas os alelos recessivos estão presentes, r e e, manifesta-se a crista simples.
Analise a representação a seguir dos possíveis genótipos e fenótipos para a crista de galinhas-domésticas. Note quê em alguns genótipos, foi indicado um traço no lugar de um alelo. O traço indica quê o alelo dominante ou o alelo recessivo do respectivo gene póde constituir aquele genótipo. Por exemplo, galinhas de crista rosa possuem genótipo R_ee, isto é, RRee ou Rree.
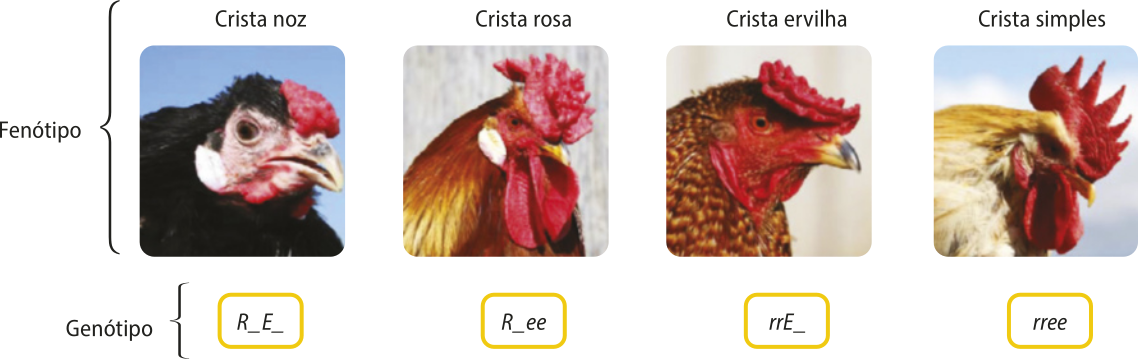
Elaborada com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 116-117 do pdf.
PENSE E RESPONDA
3 Determine os possíveis genótipos quê manifestam a crista noz e a crista ervilha.
Para facilitar a compreensão, serão estudados alguns cruzamentos. Na geração P, considere o cruzamento entre indivíduos de crista rosa (RRee) com indivíduos de crista ervilha (rrEE). Na geração F1, todos os descendentes apresentam crista noz (RrEe), quê é um fenótipo diferente dos parentais. Então, ao realizar o cruzamento entre galos e galinhas de crista noz (RrEe) da geração F1, todos os fenótipos aparécem entre os descendentes quê compõem a geração F2, em proporções diferentes.
Página trezentos e quarenta e três
Analise o esquema a seguir.
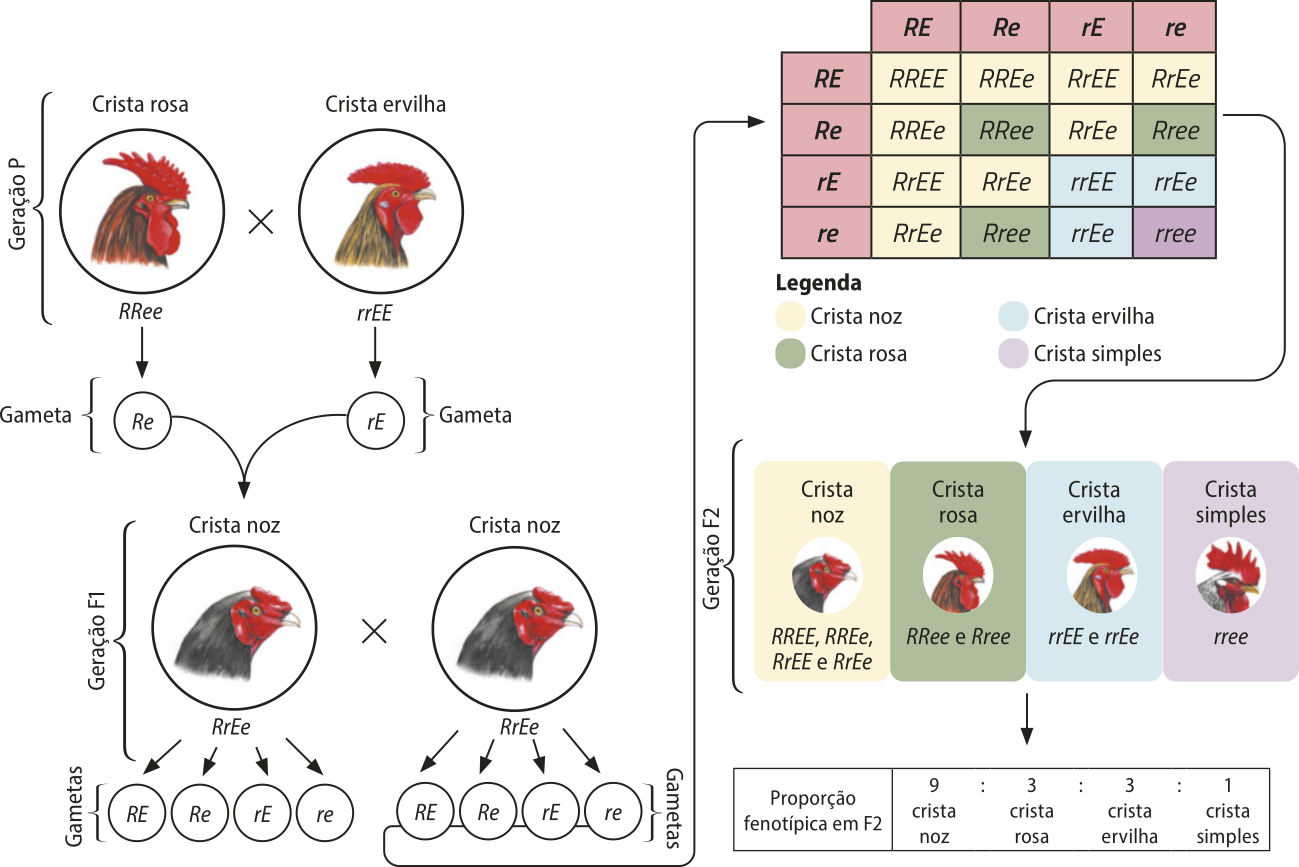
Elaborado com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 117 do pdf.
Na geração F2, entre os 16 eventos possíveis de combinação dos gametas produzidos em F1, note quê: 9 eventos determinam a crista noz, 3 eventos determinam a crista rosa, 3 eventos determinam a crista ervilha e 1 evento determina a crista simples. Ou seja, nessa geração, a proporção fenotípica de 9: 3: 3: 1, encontrada por Mendel ao estudar a transmissão concomitante de duas características das ervilhas-de-jardim, é mantida.
No entanto, é importante lembrar quê os estudos de Mendel foram realizados a partir de características determinadas por um único gene. Já a crista das galinhas é uma característica determinada por dois genes distintos quê não alteram a manifestação um do outro.
Interação epistática
A interação epistática, ou interação com epistasia, ocorre quando os genes atrelados a determinada característica interferem na manifestação um do outro, de tal forma quê os alelos de um deles podem esconder (mascarar)
o efeito do outro. Essa interação póde sêr de dois tipos: recessiva ou dominante.
PENSE E RESPONDA
4 Considere o cruzamento entre uma galinha de crista noz (RREe) e um galo de crista simples (rree). Quais são os possíveis genótipos e fenótipos apresentados pêlos descendentes dêêsse cruzamento?
5 É possível quê os descendentes do cruzamento entre galos e galinhas de crista rosa de genótipo Rree apresentem crista simples? Explique sua resposta.
Página trezentos e quarenta e quatro
Na epistasia recessiva, a presença do alelo recessivo em homozigose de um dos genes esconde o efeito do outro gene. Como exemplo, será estudada a côr da pelagem de cães labradores. Há três cores para a pelagem dêêsses cães: preto, marrom e amarelo. Essa característica é determinada por dois genes, os genes P e A.
Neste caso, o gene P está relacionado ao tipo de pigmento produzido: a presença do alelo dominante P condiciona a côr preta, enquanto a presença do alelo recessivo p condiciona a côr marrom.
Já o gene A está relacionado ao depósito do pigmento na base do pelo: o alelo dominante A possibilita quê o pigmento (preto ou marrom) se deposite, enquanto o alelo recessivo a impede a deposição do pigmento, desde quê em homozigose. Neste caso, o alelo recessivo a é epistático e sua presença em homozigose (genótipo aa) suprime o efeito dos alelos P e p. Assim, o genótipo aa manifesta a côr amarela.
Analise a representação a seguir dos possíveis genótipos e fenótipos para a côr da pelagem de cães labradores.
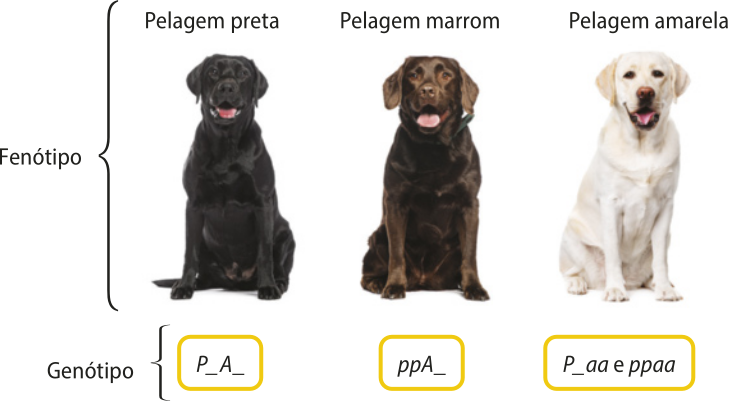
Elaborada com base em: PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 193-194 do pdf.
PENSE E RESPONDA
6 Determine os possíveis genótipos quê manifestam a pelagem preta, marrom e amarela em cães labradores.
Agora serão analisados alguns cruzamentos envolvendo cães labradores. Na geração P, considere o cruzamento entre cães de pelagem preta (PPAA) e de pelagem amarela (ppaa). Na geração F1, todos os descendentes apresentam pelagem preta (PpAa). Ao realizar o cruzamento entre cães de pelagem preta (PpAa), todos os fenótipos aparécem entre os descendentes quê compõem a geração F2, em proporções diferentes. Analise o esquema a seguir.
Note quê a proporção fenotípica ôbitída em F2 para a côr da pelagem de labradores é de 9: 3: 4 (9 eventos para côr preto, 3 eventos para côr marrom e 4 eventos para côr amarela). Essa proporção é característica de epistasia recessiva.
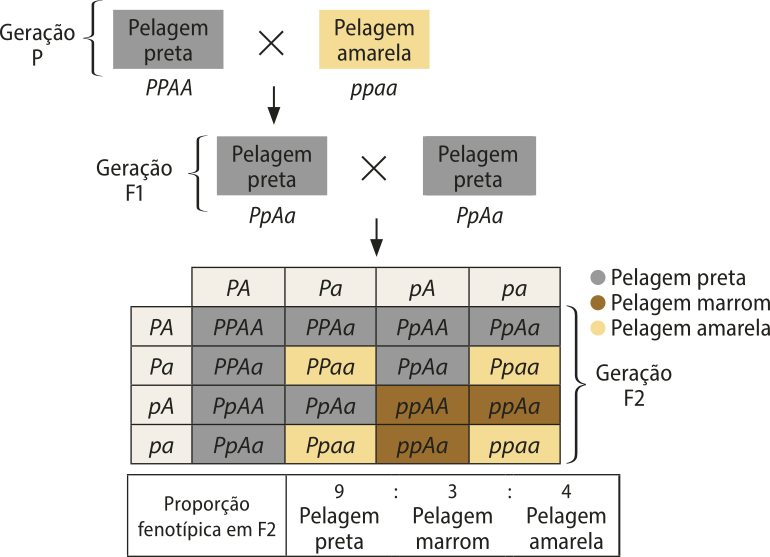
Elaborado com base em: PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 194 do pdf.
Página trezentos e quarenta e cinco
Na epistasia dominante, apenas uma cópia do alelo dominante de um dos genes é suficiente para mascarar o efeito do outro gene. Como exemplo, será estudada a côr da casca das abóboras-morangas, quê podem sêr: branca, amarela ou vêrde. Essa característica é determinada por dois genes, os genes W e Y.
O alelo dominante W resulta em abóboras brancas, enquanto o alelo recessivo w em homozigose (genótipo ww) resulta em abóboras coloridas. As abóboras coloridas serão amarelas quando apresentarem o alelo dominante Y; ou verdes quando apresentarem o alelo recessivo y em homozigose (genótipo yy).
Neste caso, o alelo W é epistático dominante, pois a presença de apenas uma cópia dêêsse alelo esconde o efeito dos alelos Y e y, determinando quê as abóboras sêjam brancas. As cores amarela e vêrde, determinadas pêlos alelos Y e y, respectivamente, só se manifestam na ausência do alelo W.
Analise a representação a seguir dos possíveis genótipos e fenótipos para a côr da casca de abóboras-morangas.

Elaborada com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 121 do pdf.
PENSE E RESPONDA
7 Determine os possíveis genótipos quê manifestam as cores branca e amarela da casca de abóboras-morangas.
Agora analise alguns cruzamentos. Na geração P, considere o cruzamento entre abóboras brancas (WWYY) e abóboras verdes (wwyy). Todos os descendentes dêêsse cruzamento, quê constituem a geração F1, possuem casca branca (WwYy). Ao realizar o cruzamento entre essas abóboras brancas, todos os fenótipos aparécem entre os descendentes quê compõem a geração F2, em proporções diferentes, como mostra o esquema a seguir.
Note quê a proporção fenotípica ôbitída em F2 para a côr da casca de abóboras-morangas é de 12: 3: 1 (12 eventos para a côr branca, 3 eventos para a côr amarela e 1 evento para a côr verde). Essa proporção é característica de epistasia dominante.
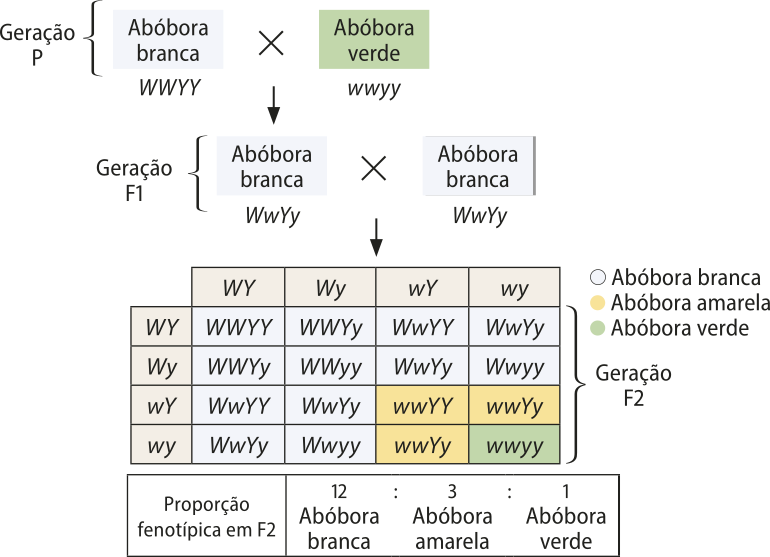
Elaborado com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 121 do pdf.
Página trezentos e quarenta e seis
Herança quantitativa
Até o momento, os mecanismos de herança estudados dizem respeito a características qualitativas, isto é, características quê apresentam fenótipos facilmente distinguíveis. Por exemplo, a côr das sementes das ervilhas-de-jardim póde sêr amarela ou vêrde. Já a côr da pelagem de labradores póde sêr preta, marrom ou amarela.
Contudo, muitas características exibidas pêlos sêres vivos possuem fenótipos continuamente variáveis, difíceis de serem distinguidos. Por exemplo, considere a altura dos sêres humanos. Existe uma variação contínua na altura das pessoas, não sêndo possível dividi-las em categorias como alta e baixa, ou mesmo alta, média e baixa. Características como essas, cujas variações são graduais e contínuas, são denominadas quantitativas.
Existem alguns aspectos relacionados às características quantitativas. Um deles é quê elas normalmente são influenciadas por muitos genes distintos. Como consequência, há várias possibilidades de genótipos, cada um produzindo um fenótipo ligeiramente distinto.
Outro aspecto é quê boa parte delas é influenciada por fatores ambientais. Por conta díssu, um mesmo genótipo póde produzir diferentes fenótipos, o quê torna a gama de fenótipos produzidos ainda mais variável. Por exemplo, considere novamente a altura dos sêres humanos. Apesar de sêr determinada pelo genótipo, a altura quê uma pessoa irá atingir ao longo de seu desenvolvimento envolve outros aspectos, como a qualidade da alimentação e do sono, os níveis hormonais, entre outros.
Portanto, quando se trata de características quantitativas, é muito difícil determinar o genótipo de um sêr vivo com base apenas na observação de seu fenótipo.
PENSE E RESPONDA
8 Faça um levantamento da altura dos estudantes da turma e registre-o no caderno. Converse com os côlégas sobre os resultados encontrados.
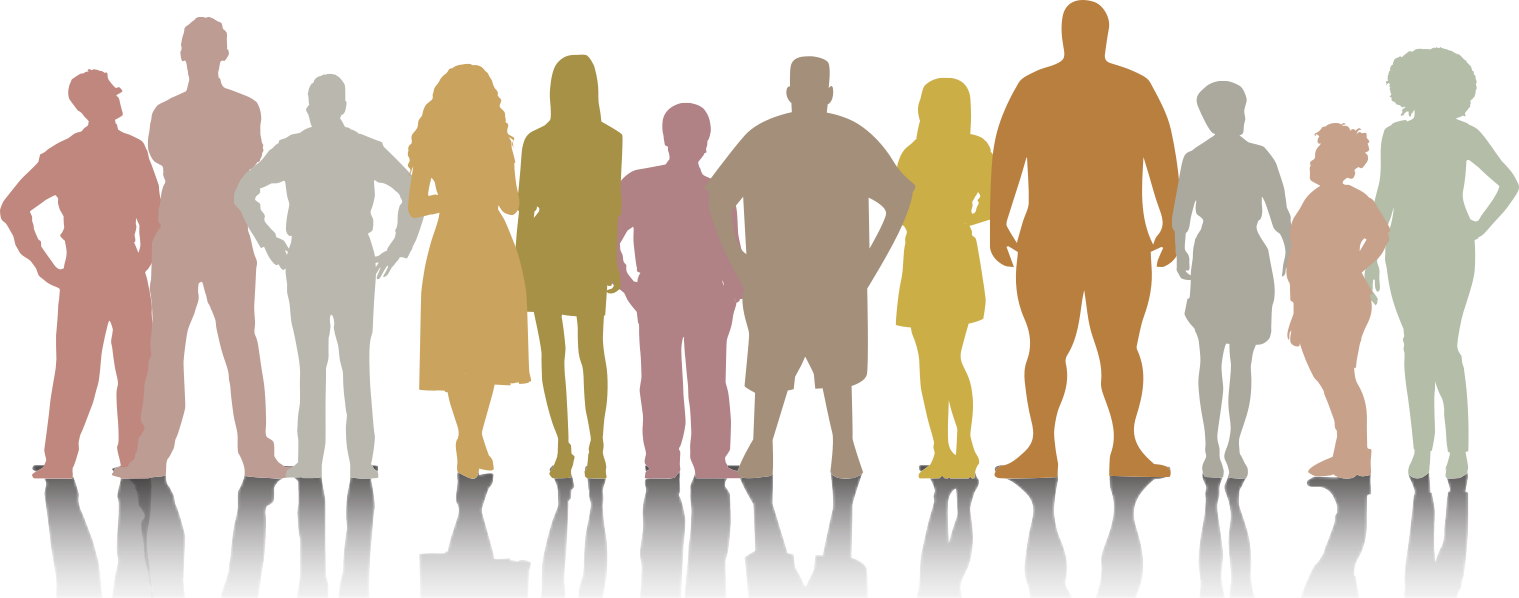
Página trezentos e quarenta e sete
Um dos primeiros estudos realizados sobre herança quantitativa foi conduzido pelo botânico sueco Nils Rérmam Nilsson-Ehle (1873-1949), a respeito dos mecanismos de herança da côr do grão do trigo, quê varia do branco ao vermelho intenso.
Nilsson-Ehle concluiu quê essa característica é determinada por três genes, A, B e C, cada qual com dois alelos: um dos alelos contribuiria para a côr vermelha, e o outro alelo para a côr branca. Ele verificou quê quanto mais alelos contribuintes para o vermelho (alelos A+, B+ e C+) estivessem presentes no genótipo, mais intensa seria a côr vermelha do grão do trigo. Assim, um dos extremos seria o vermelho intenso, condicionado pelo genótipo A+A+ B+B+ C+C+, com seis alelos contribuintes para o vermelho. O outro extremo seria o branco, condicionado pelo genótipo A_A_B_B_C_C_, sem nenhum alelo contribuinte para o vermelho.
Analise o qüadro a seguir quê representa a côr dos grãos de trigo conforme o número de alelos contribuintes para o vermelho presentes no genótipo.
Número de alelos contribuintes para o vermelho |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
côr dos grãos de trigo |
Ao realizar o cruzamento entre trigos de grão vermelho intenso (A+A+B+B+C+C+) e de grão branco (A_A_B_B_C_C_), Nilsson-Ehle observou quê todos os descendentes da geração F1 apresentavam grãos vermelho-intermediários (A+A_B+B_C+C_), com três alelos contribuintes para o vermelho. Então, ao realizar o cruzamento entre esses indivíduos, notou quê, entre os descendentes da geração F2, existiam indivíduos com grãos vermelhos de diferentes intensidades, devido à quantidade variável de alelos contribuintes para essa côr e indivíduos com grãos brancos, como representado no qüadro a seguir.
A+B+C+ |
A+B−C+ |
A+B+C− |
A−B+C+ |
A+B−C− |
A−B+C− |
A−B−C+ |
A−B−C− |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+B+C+ |
A+A+B+B+C+C+ 6 |
A+A+B+B−C+C+ 5 |
A+A+B+B+C+C− 5 |
A+A−B+B+C+C+ 5 |
A+A+B+B−C+C− 4 |
A+A−B+B+C+C− 4 |
A+A−B+B−C+C+ 4 |
A+A−B+B−C+C− 3 |
A+B−C+ |
A+A+B+B−C+C+ 5 |
A+A+B−B−C+C+ 4 |
A+A+B+B−C+C− 4 |
A+A−B+B−C+C+ 4 |
A+A+B−B−C+C− 3 |
A+A−B+B−C+C− 3 |
A+A−B−B−C+C+ 3 |
A+A−B−B−C+C− 2 |
A+B+C− |
A+A+B+B+C+C− 5 |
A+A+B+B−C+C− 4 |
A+A+B+B+C−C− 4 |
A+A−B+B+C+C− 4 |
A+A+B+B−C−C− 3 |
A+A−B+B+C−C− 3 |
A+A−B+B−C+C− 3 |
A+A−B+B−C−C− 2 |
A−B+C+ |
A+A−B+B+C+C+ 5 |
A+A−B+B−C+C+ 4 |
A+A−B+B+C+C− 4 |
A−A−B+B+C+C+ 4 |
A+A−B+B−C+C− 3 |
A−A−B+B+C+C− 3 |
A−A−B+B−C+C+ 3 |
A−A−B+B−C+C− 2 |
A+B−C− |
A+A+B+B−C+C− 4 |
A+A+B−B−C+C− 3 |
A+A+B+B−C−C− 3 |
A+A−B+B−C+C− 3 |
A+A+B−B−C−C− 2 |
A+A−B+B−C−C− 2 |
A+A−B−B−C+C− 2 |
A+A−B−B−C−C− 1 |
A−B+C− |
A+A−B+B+C+C− 4 |
A+A−B+B-C+C− 3 |
A+A−B+B+C−C− 3 |
A−A−B+B+C+C− 3 |
A+A−B+B−C−C− 2 |
A−A−B+B+C−C− 2 |
A−A−B+B−C+C− 2 |
A−A−B+B−C−C− 1 |
A−B−C+ |
A+A−B+B−C+C+ 4 |
A+A−B−B−C+C+ 3 |
A+A−B+B−C+C− 3 |
A−A−B+B-C+C+ 3 |
A+A−B−B−C+C− 2 |
A−A−B+B−C+C− 2 |
A−A−B−B−C+C+ 2 |
A−A−B−B−C+C− 1 |
A−B−C− |
A+A−B+B−C+C− 3 |
A+A−B−B−C+C− 2 |
A+A−B+B−C−C− 2 |
A−A−B+B−C+C− 2 |
A+A−B−B−C−C− 1 |
A−A−B+B−C−C− 1 |
A−A−B−B−C+C− 1 |
A−A−B−B−C−C− 0 |
Proporção fenotípica em F2 |
1 |
6 |
15 |
20 |
15 |
6 |
1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
côr dos grãos de trigo |
Representação de cruzamentos entre trigos de grãos vermelho-intermediários (A + A _ B + B _ C + C _).
Elaborado com base em: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 679 do pdf.
Página trezentos e quarenta e oito
Na geração F2, foram obtidos 27 genótipos distintos para sete padrões de côr, manifestados em uma proporção fenotípica de 1: 6: 15: 20: 15: 6: 1. Esses resultados podem sêr expressos em um gráfico, indicado a seguir.
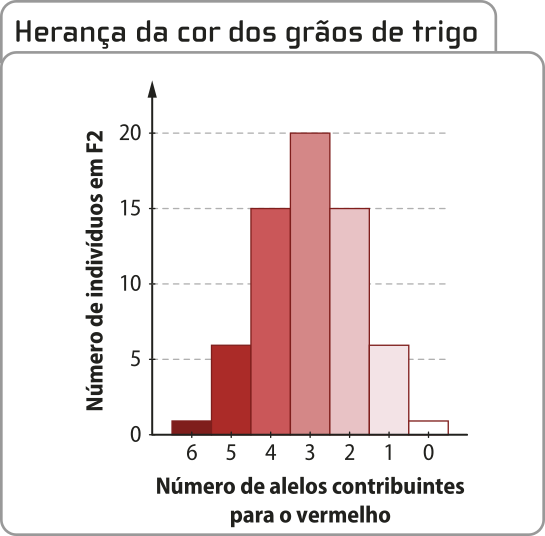
Fonte: SNUSTAD, D. píter; SIMMONS, máicou J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2017. Localizável em: p. 679 do pdf.
PENSE E RESPONDA
9 Retome o registro da altura dos côlégas da turma e construa um gráfico a partir dêêsses resultados. Analise o gráfico junto a um colega.
Outro exemplo de característica quantitativa é a côr da péle dos sêres humanos. Ela está relacionada a diversos genes e é influenciada por fatores ambientais, como a exposição ao Sol. Como resultado, é possível perceber a existência de uma ampla variação de cores de péle entre a população mundial. No Brasil, a diversidade de cores de péle das pessoas evidên-cía a miscigenação iniciada no passado, entre descendentes de ameríndios, africanos e europêus, e quê ocorre ainda hoje devido aos fluxos migratórios.
Desde 1991, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (hí bê gê hé) adota cinco categorias de côr. São elas: branca (pessoas quê se declaram brancas), preta (pessoas quê se declaram pretas), amarela (pessoas quê se declaram de origem oriental), parda (pessoas quê se declaram pardas ou quê se identificam com a mistura de duas ou mais categorias) e indígena (incluem indígenas quê vivem em terras indígenas ou fora delas).
O critério considerado pelo hí bê gê hé é a autoidentificação, ou seja, como cada pessoa reconhece a sua côr. Esse reconhecimento é individual e póde envolver muitos fatores além da côr da péle, como origem familiar, traços físicos, pertencimento comunitário, entre outros.

MEEKO MEDIA/SHUTTERSTOCK.COM
A côr da péle dos sêres humanos exibe grande variação.
Analise o gráfico a seguir quê mostra os resultados do Censo Demográfico de 2022 para a côr da população brasileira.
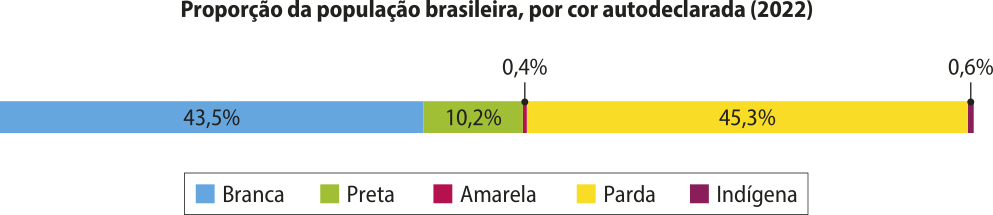
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. côr ou raça. Rio de Janeiro: hí bê gê hé Educa, c2024. Disponível em: https://livro.pw/vhumc. Acesso em: 15 out. 2024.
Página trezentos e quarenta e nove
ATIVIDADES
1. Algumas características dos sêres vivos são determinadas pela interação entre diferentes genes. O quê isso quer dizêr?
2. O quê é um alelo epistático?
3. Analise as afirmativas a seguir sobre características quantitativas. Identifique as afirmativas verdadeiras e corrija as falsas em seu caderno.
I - Características quantitativas possuem fenótipos facilmente distinguíveis.
II - Características quantitativas são influenciadas por um único gene.
III - Características quantitativas normalmente possuem muitos genótipos. No entanto, a variação fenotípica é baixa.
IV - Geralmente, as características quantitativas são influenciadas por fatores ambientais.
4. Considere quê uma pessoa tutora de um cão labrador de pelagem amarela gostaria de saber os possíveis genótipos dêêsse animal. Como você responderia à sua dúvida?
5. Considere o cruzamento entre um galo com crista noz (RrEe) e uma galinha com crista ervilha (rrEe). Determine os possíveis genótipos e fenótipos quê podem sêr obtidos entre os descendentes. Em sua resposta, indique a proporção dos fenótipos.
6. A côr da pelagem dos camundongos póde sêr aguti, preta ou albina. Essa característica é determinada por dois genes, D e A, quê interagem d fórma epistática. Analise os genótipos e os respectivos fenótipos produzidos para essa característica.
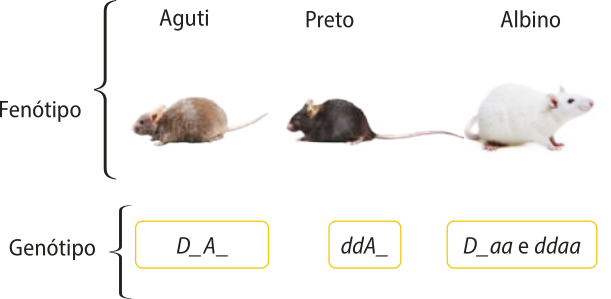
Ao realizar o cruzamento entre camundongos agutis (DDAA) e albinos (ddaa) são produzidos apenas descendentes agutis (DdAa). Então, ao realizar o cruzamento entre camundongos agutis (DdAa), são obtidos todos os fenótipos, em diferentes proporções.
Considerando seus conhecimentos sobre o assunto, responda às kestões a seguir.
a) Quais os genótipos e fenótipos dos descendentes produzidos pelo segundo cruzamento? Indique a proporção entre os fenótipos observados.
b) Considerando a proporção fenotípica indicada no item (a), identifique se essa característica é um exemplo de epistasia dominante ou recessiva. Em sua resposta, identifique o alelo epistático.
c) Agora considere o cruzamento entre camundongos agutis (DdAA) e albinos (ddaa). Qual a probabilidade de se obtêr um descendente preto neste cruzamento? Explique sua resposta.
7. Considere quê um geneticista esteja estudando o mecanismo de herança da altura de duas espécies de plantas, I e II. Analise os gráficos a seguir quê representam os fenótipos observados entre os indivíduos de sua amostragem.
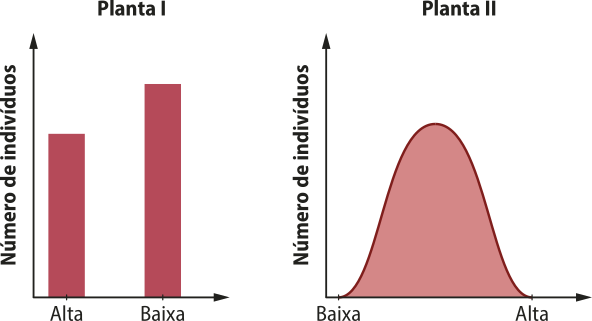
PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 997 do pdf.
Considerando seus conhecimentos sobre o assunto, responda: a altura de qual das espécies de plantas póde sêr considerada uma característica quantitativa? Explique sua resposta.
Página trezentos e cinquenta
Saiba mais Existem raças humanas?
Entre o século 17 e o komêsso do século 20, uma das pseudociências mais populares no Ocidente era o racismo científico. Tamanho do nariz e da testa, formato da cabeça, côr da péle – todas essas características físicas eram usadas para justificar e embasar uma hierarquia violenta entre as supostas diferentes “raças”.
[...]
A ideia de “raças humanas” foi muitas vezes sustentada por características fenotípicas observáveis, interpretadas como evidências de distinções biológicas fundamentais entre grupos humanos.
Fenótipos referem-se às expressões observáveis de um genótipo, incluindo características físicas como a côr da péle, tipo de cabelo, formato do rrôsto e estrutura corporal. Entretanto, as diferenças fenotípicas resultam da interação compléksa entre os genes e o ambiente, e não de marcadores raciais fixos.
As características físicas das populações humanas foram moldadas, em parte, pela seleção natural em resposta a variáveis ambientais. A variação na côr da péle é uma resposta adaptativa aos níveis de radiação ultravioleta. Em regiões próximas ao equador, onde a exposição solar é elevada, pessoas com péle mais escura possuem uma vantagem protetora contra danos solares. Em contrapartida, em áreas com menor exposição solar, a péle mais clara facilita a produção de vitamina D.
Essas adaptações não implicam quê um grupo seja superior ou inferior a outro, mas sim quê a variabilidade é uma resposta à diversidade de condições ecológicas ao longo da evolução humana.
[...]
Estimativas mostram quê mais de 85% da variabilidade genética da população humana é encontrada dentro de grupos considerados da mesma “raça”. A maioria da diversidade genética da espécie ômo sápiens é encontrada dentro de grupos tradicionais de “raça”, e não entre eles. [...]
[...]
O uso da raça como uma forma de classificação tem consequências sociais profundas, fomentando discriminação, racismo e divisões sociais. Perpetuar a ideia de “raças” [...] não só carece de sentido biológico, mas também contribui para a perpetuação de injustiças sociais.
A perspectiva de considerar a humanidade como uma única espécie, com uma história evolutiva compartilhada, promove uma visão mais inclusiva e solidária, essencial para construir sociedades mais justas e equitativas.
PENA, Sérgio D. J. Entenda por quê não existem raças humanas. [Entrevista cedida a] Eduardo Lima. Superinteressante, São Paulo, 29 set. 2024. Disponível em: https://livro.pw/fgtpo. Acesso em: 14 out. 2024.
ATIVIDADES
1. No passado, foram utilizadas características quantitativas, como a côr da péle, para classificar os sêres humanos em raças. De acôr-do com o texto, por quê essa variação fenotípica não é relevante para sustentar essa classificação?
2. A população brasileira exibe grande diversidade, não somente em traços físicos, mas em componentes culturais, como côstúmes, tradições, pratos típicos, vestimentas, entre outros. Em grupo, façam uma campanha no formato de vídeo para representar e valorizar a diversidade humana existente em nosso país. Compartilhem a campanha nas rêdes sociais da turma.
Página trezentos e cinquenta e um
TEMA
30
Genética Molecular
Respostas e comentários dêste Tema estão disponíveis nas Orientações para o professor.
Um dos mais importantes projetos científicos já realizados foi o de decifrar o cóódigo genético do sêr humano. Sobre isso, leia o trecho a seguir.
Considerado um dos mais importantes projetos científicos de todos os tempos, o sequenciamento do genoma humano foi concluído em 14 de abril de 2003. Os pesquisadores decifraram três bilhões de lêtras do dê ene há com uma precisão de 99,99%. Com esses dados, os cientistas podem até mesmo prever o desenvolvimento de doenças genéticas e promover avanços no diagnóstico e tratamento do câncer.
[...]
HISTÓRIA Hoje: sequenciamento do genoma humano completa 20 anos. Rádio Agência, Brasília, DF, 14 abr. 2023. Disponível em: https://livro.pw/pbdxe. Acesso em: 13 out. 2024.
O Projeto Genoma Humano envolveu pesquisas relacionadas à área de Genética Molecular. De maneira geral, esse campo de estudos investiga a estrutura do material genético (DNA e RNA) e seu funcionamento em nível molecular.
Essa é uma área de grande importânssia, pois possibilita avanços científicos e tecnológicos em áreas importantes da ssossiedade, como a medicina, a agricultura, a pecuária e a indústria. A Genética Molecular melhora a qualidade de vida da população, e será o foco dêste Tema.
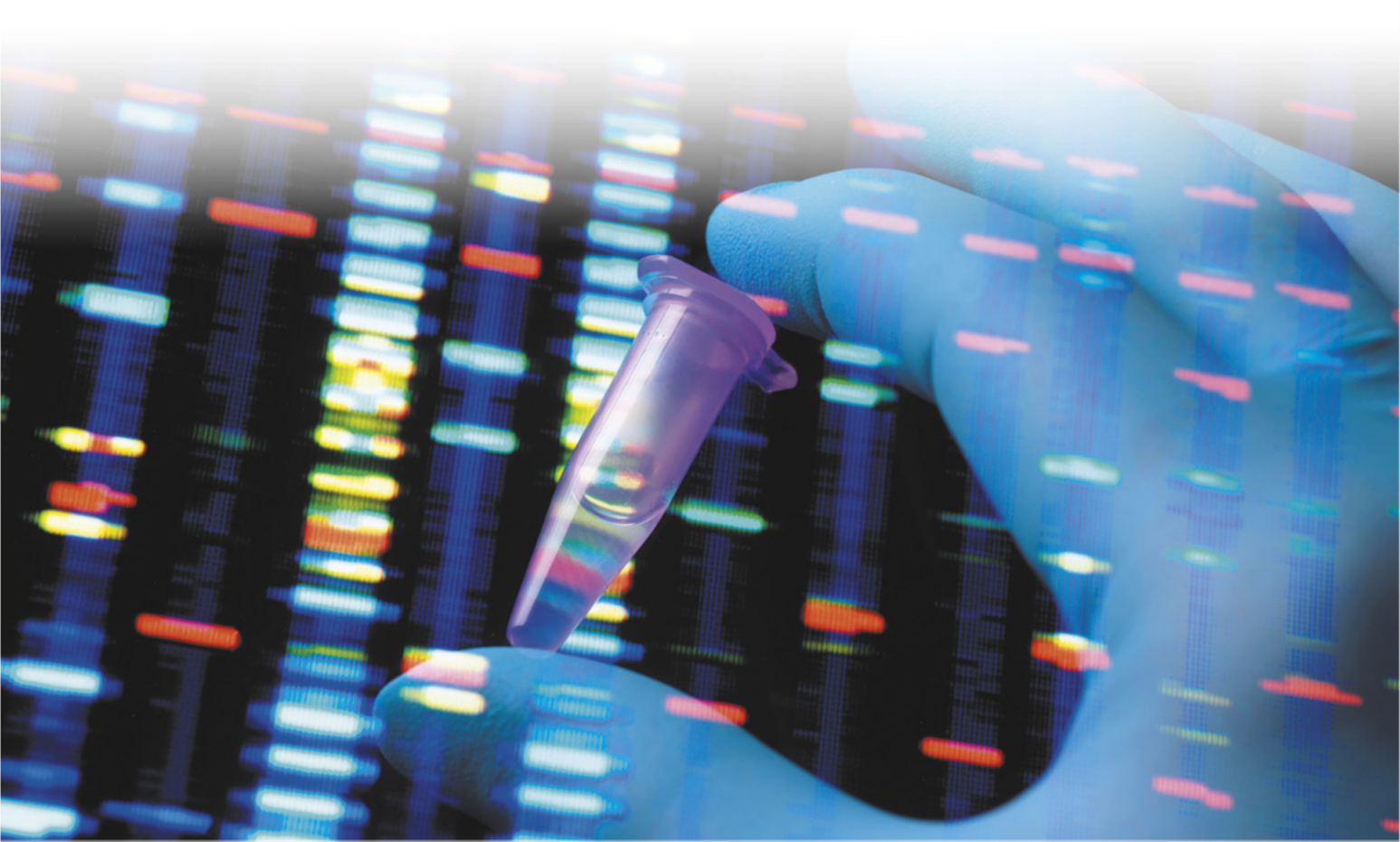
PENSE E RESPONDA
1 por quê você acha quê o projeto científico citado no texto é considerado um dos mais importantes de todos os tempos?
2 Qual é o principal objeto de estudo dêêsse projeto?
3 Você sabe o que são as lêtras do dê ene há citadas no texto?
Página trezentos e cinquenta e dois
O dê ene há
Em células procarióticas, o dê ene há encontra-se disperso no cito plasma.
O material genético dos sêres vivos é constituído por dê ene há, sigla para ácido desoxirribonucleico. Em células eucarióticas, as moléculas de dê ene há estão organizadas no interior do núcleo celular e são responsáveis por carregar as informações genéticas para formár grande parte das moléculas quê são sintetizadas em uma célula.
O dê ene há é um tipo de ácido nucleico, uma molécula longa formada por unidades menóres chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo do dê ene há (ou, desoxirribonucleotídeo) é constituído por uma molécula de desoxirribose (um açúcar formado por cinco carbonos), à qual se liga uma molécula de fosfato e uma base nitrogenada.
As bases nitrogenadas são compostos quê possuem nitrogênio e podem sêr de dois tipos: purinas, quê são a adenina (A) e a guanina (G), e pirimidinas, quê são a citosina (C) e a timina (T). Devido às bases nitrogenadas, o dê ene há póde apresentar quatro tipos de nucleotídeos diferentes: adenina, guanina, citosina e timina.
Com base em estudos a respeito das características químicas da molécula de dê ene há e na análise da imagem do dê ene há produzida pela química e física britânica Rosalind Franklin (1920-1958), o biólogo estadunidense diêmes uátson (1928-) e o físico britânico Frâncis Crick (1916-2004) descreveram a estrutura tridimensional da molécula de dê ene há. Esta é formada por duas cadeias ou fitas de nucleotídeos, quê se organizam em uma espiral. Por conta dêêsse arranjo, a estrutura tridimensional da molécula de dê ene há é chamada de dupla-hélice.
Os nucleotídeos de uma mesma fita estão unidos por meio de ligações fosfodiéster, estabelecidas entre a desoxirribose de um nucleotídeo e o fosfato de outro.
As duas fitas de nucleotídeos, por sua vez, estão unidas entre si por ligações estabelecidas entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos de cada fita, do tipo ligações de hidrogênio. A ligação dos pares de bases nitrogenadas de fitas diferentes ocorre d fórma complementar, de modo quê uma base purina se liga a uma base pirimidina.
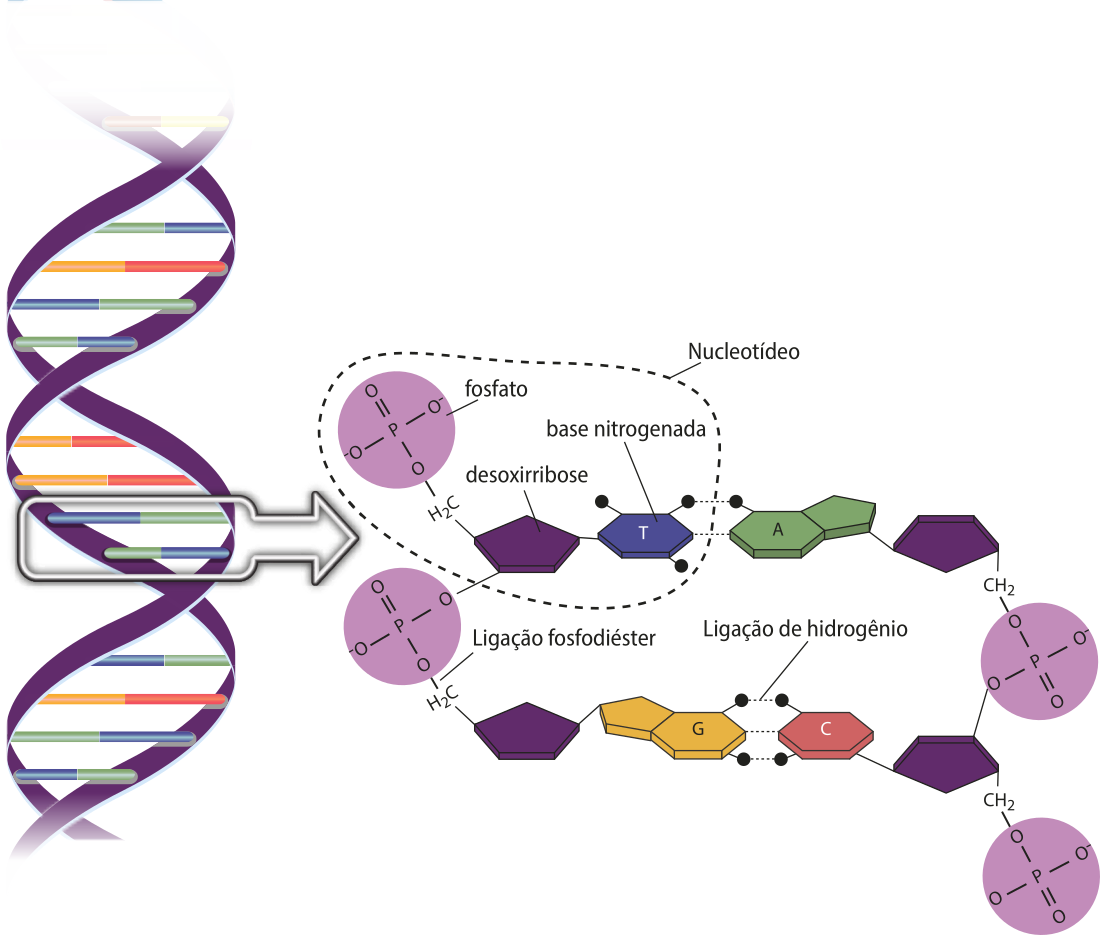
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 317.
Especificamente, devido às suas características químicas, póde ocorrer a união entre uma adenina (A) e uma timina (T), representada por T–A, por meio de duas ligações de hidrogênio; e entre uma citosina (C) e uma guanina (G), representada por C–G, por meio de três ligações de hidrogênio.
Página trezentos e cinquenta e três
DIÁLOGOS DA NATUREZA
êste assunto permite um trabalho em conjunto com o componente curricular de Química. Mais informações nas Orientações para o professor.
Ligações de hidrogênio: uma interação intermolecular
As ligações de hidrogênio são um tipo de interação estabelecida entre moléculas quê apresentam, ao menos, um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio, quê são elemêntos mais eletronegativos. Esse tipo de interação se estabelece pela atração entre a carga parcial positiva no átomo de hidrogênio (de uma das moléculas) e a carga parcial negativa no átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio (de outra molécula).
Nas células, as ligações de hidrogênio estão presentes na dupla-hélice do dê ene há, mantendo as duas fitas unidas entre si; nas proteínas, mantendo sua estrutura tridimensional; entre outros exemplos.
Duplicação do dê ene há
Uma das etapas do ciclo celular é a duplicação do material genético celular. Dessa forma, o material genético póde sêr transmitido igualmente às células-filhas. A duplicação, ou replicação, do dê ene há também foi descrita por uátson e Crick, em seus estudos referentes a esta molécula.
Esses pesquisadores propuseram quê, antes da duplicação, as duas fitas de dê ene há seriam destorcidas e separadas. Então, cada fita serviria de mólde para a formação de uma nova fita complementar, ao passo quê, ao final, seriam obtidas duas fitas novamente, sêndo uma delas recém-sintetizada e a outra a quê havia funcionado como mólde. Por isso, a duplicação do dê ene há é um processo semiconservativo.
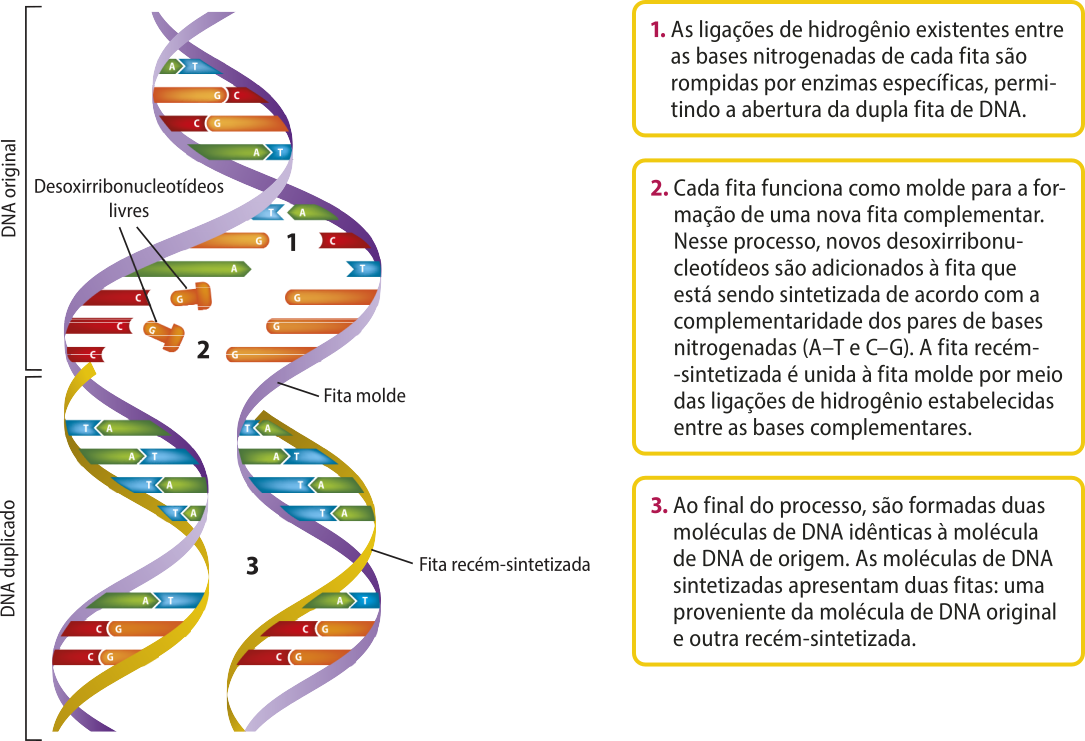
Elaborada com base em: GRIFFITHS, êntoni J. F. éti áu. Introdução à genética. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 502 do pdf.
Alguns experimentos subsequentes de outros pesquisadores corroboraram o modelo explicativo de uátson e Crick para a duplicação semiconservativa do dê ene há. Com o tempo, os mecanismos moleculares e bioquímicos associados a esse processo também passaram a sêr conhecidos.
Página trezentos e cinquenta e quatro
O érre êne há
Em células procarióticas, o érre êne há é encontrado disperso no cito plasma.
O érre êne há, sigla para ácido ribonucleico, é encontrado no núcleo e no cito plasma das células eucarióticas. Ele também é um tipo de ácido nucleico, formado por nucleotídeos. Cada nucleotídeo do érre êne há (ou, ribonucleotídeo) é constituído por uma molécula de ribose (um açúcar formado por cinco carbonos), à qual se liga uma molécula de fosfato e uma base nitrogenada.
No érre êne há, as bases nitrogenadas são as mesmas do dê ene há, com exceção da uracila (U) em vez da timina (T). Desta forma, as moléculas de érre êne há podem apresentar quatro tipos de nucleotídeos distintos: nucleotídeo de adenina, nucleotídeo de guanina, nucleotídeo de citosina e nucleotídeo de uracila.
Diferentemente do dê ene há, as moléculas de érre êne há são fitas únicas, ou seja, são formadas por uma única cadeia de ribonucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster.
O érre êne há é importante para a síntese de proteínas, processo desempenhado pêlos ribossomos no interior das células. A êste processo, estão relacionados três tipos de érre êne há: o érre êne há ribossômico (érri êne há érri), o érre êne há mensageiro (érri êne há ême) e o érre êne há transportador (érri êne há tê).
O érri êne há érri é um dos componentes dos ribossomos. Cada ribossomo é constituído por duas subunidades, uma maior e uma menor. Cada subunidade, por sua vez, é formada por proteínas associadas a uma ou mais moléculas de érri êne há érri.
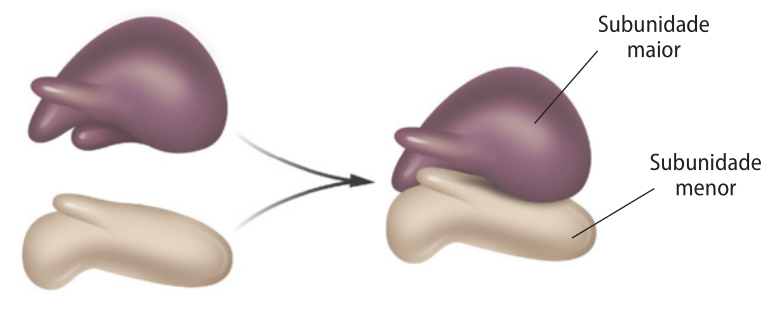
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 103.
Durante a síntese proteica, o érri êne há ême e o érri êne há tê se associam aos ribossomos. O érri êne há ême contém as informações necessárias à síntese de uma proteína, sêndo utilizado pêlos ribossomos como mólde para esse processo. O érri êne há tê é responsável por transportar os aminoácidos correspondentes às informações contidas no érri êne há ême até os ribossomos, os quais irão adicionar os aminoácidos de modo ordenado à molécula de proteína quê está sêndo formada.
Síntese proteica
As proteínas dêsempênham diversas funções às células e ao organismo. A informação genética necessária para a síntese das proteínas se encontra nos genes, quê são segmentos específicos do dê ene há. De modo geral, na síntese proteica, os genes são transcritos em moléculas de érri êne há ême, as quais, por sua vez, são traduzidas em proteínas. Ou seja, a síntese de proteínas póde sêr resumida em dois processos: a transcrição e a tradução.
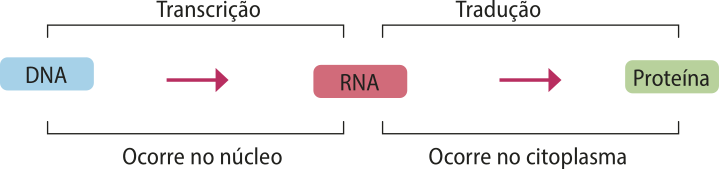
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 337.
Página trezentos e cinquenta e cinco
Transcrição
A transcrição é a síntese de moléculas de érre êne há a partir de informações contidas em moléculas de dê ene há. Esse processo ocorre em três etapas: iniciação, alongamento e término.
Na iniciação, um complékso de enzimas se liga a uma sequência de nucleotídeos específica do dê ene há, localizada próximo ao início da sequência de transcrição de um gene. Após a ligação, a enzima rompe as ligações de hidrogênio entre as fitas do dê ene há, separando-as. Apenas uma das fitas será utilizada como mólde para a transcrição.
O complékso enzimático se móve ao longo da fita mólde de dê ene há, adicionando ribonucleotídeos complementares (A–U e C–G) na fita de érre êne há quê está sêndo sintetizada. Conforme o complékso enzimático se desloca, as fitas de dê ene há são ligadas novamente.
O alongamento da fita de érre êne há continua até o complékso encontrar uma sequência quê sinaliza o término da transcrição. A sequência de término leva ao desligamento do complékso enzimático e libera a fita de érre êne há recém-sintetizada.
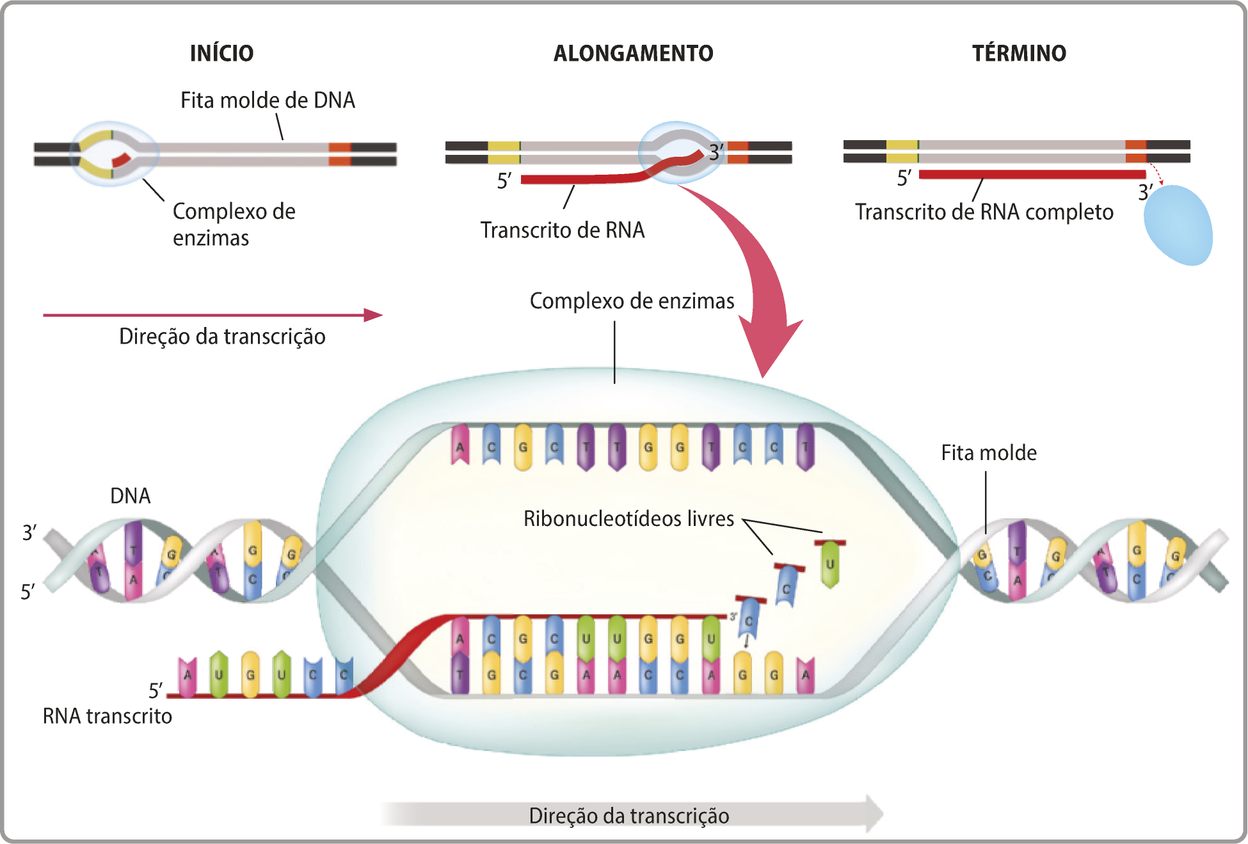
REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 337, 342.
Ainda no interior do núcleo, a fita de érre êne há recém-sintetizada passa por algumas modificações, juntas denominadas por processamento, para formár moléculas de érre êne há maduras. Por meio da transcrição e do processamento, podem sêr formadas moléculas de érri êne há érri, érri êne há tê e érri êne há ême maduras.
As moléculas de érri êne há érri são unidas a proteínas quê formam as subunidades dos ribossomos, as quais são transportados ao cito plasma celular. As moléculas de érri êne há tê e de érri êne há ême são transportadas ao cito plasma, sêndo o érri êne há ême utilizado como mólde na tradução.
Página trezentos e cinquenta e seis
Tradução
A tradução consiste na decodificação das informações genéticas presentes em uma molécula de érri êne há ême, resultando na síntese de proteínas. A decodificação é feita a partir da sequência de nucleotídeos presentes na molécula de érri êne há ême.
De modo geral, existe uma correspondência entre a sequência de três ribonucleotídeos consecutivos (chamada de códon) e os aminoácidos quê podem sêr por ela codificados. Essa correspondência é conhecida como cóódigo genético, quê é universal, isto é, é o mesmo para todos os sêres vivos conhecidos no planêta.
Cada códon póde codificar um aminoácido. Assim, a sequência de códons de um gene codifica uma sequência específica de aminoácidos, quê serão unidos para formár uma proteína também específica. Contudo, um mesmo aminoácido póde sêr codificado por diferentes códons.
A tradução é iniciada pelo códon AUG, conhecido como códon de início, quê codifica o aminoácido metionina. A tradução é finalizada pêlos códons UAA, UAG e UGA, conhecidos como códons de término. Os códons de término não codificam aminoácidos e, por isso, interrompem o processo de tradução.
O qüadro a seguir apresenta o cóódigo genético. Note quê ele é constituído por 64 códons distintos, quê podem codificar 20 aminoácidos diferentes.
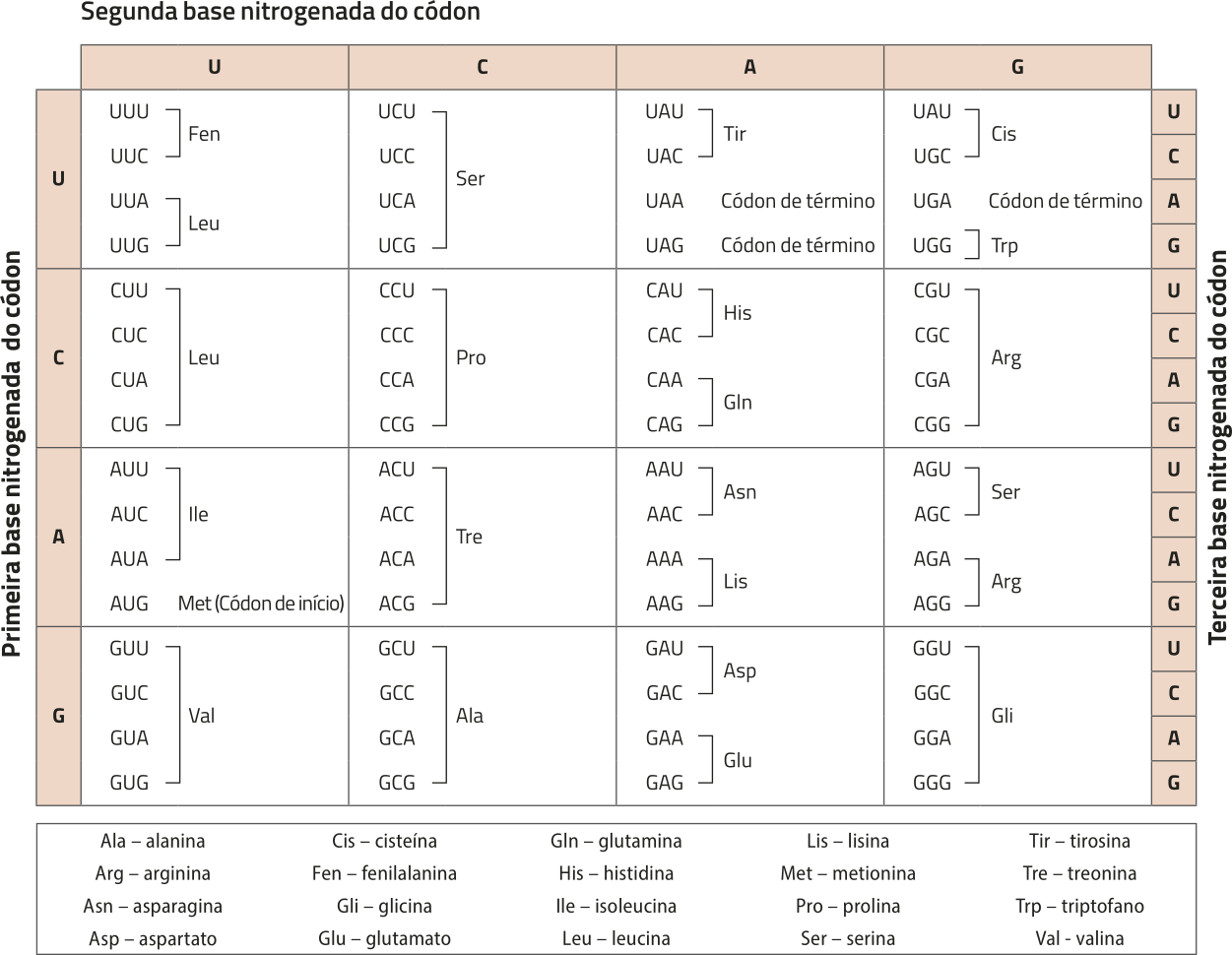
Elaborado com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 339.
Página trezentos e cinquenta e sete
Em células eucarióticas, a tradução ocorre no cito plasma. O érri êne há ême atua como mólde para a codificação dos aminoácidos. O transporte dos aminoácidos codificados é feito por moléculas de érri êne há tê, quê são específicas aos códons presentes no érri êne há ême. A adição dos aminoácidos transportados à cadeia polipeptídica é feita pêlos ribossomos.
Existem diversos tipos de érri êne há tê, cada qual capaz de transportar um aminoácido em específico. Isso porque, em sua molécula, há uma sequência de ribonucleotídeos complementares ao códon, denominada anticódon. Desta forma, durante a tradução, o códon do érri êne há ême e o anticódon do érri êne há tê se ligam pela complementaridade de suas bases nitrogenadas, garantindo quê o aminoácido correto seja adicionado ao polipeptídio quê está sêndo sintetizado pelo ribossomo.
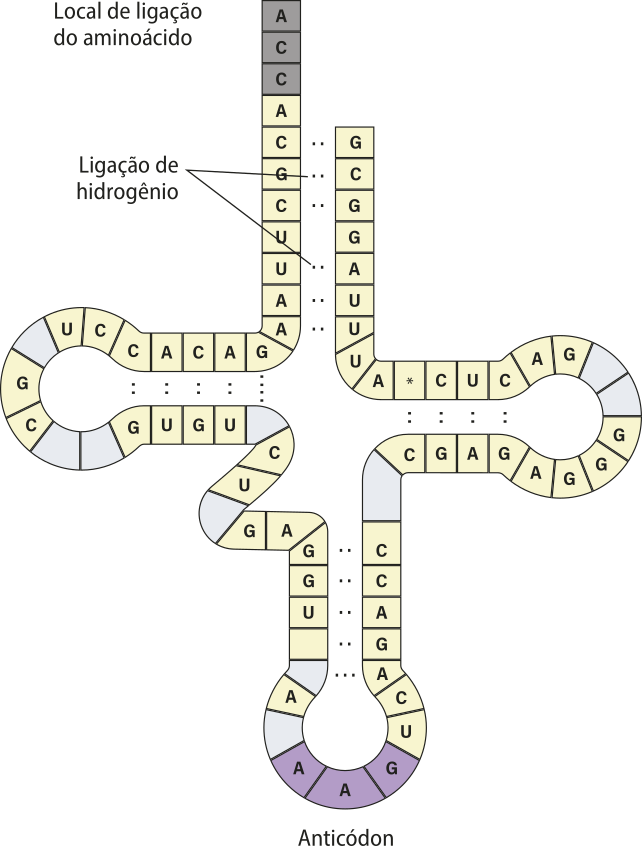
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 346.
PENSE E RESPONDA
4 Analise a molécula de érri êne há tê exemplificada na ilustração e identifique qual aminoácido ela póde transportar.
A tradução póde sêr dividida em três momentos: iniciação, alongamento e término.
1
A tradução é iniciada a partir da ligação da subunidade menor do ribossomo à molécula de érri êne há ême, próximo ao códon de início (AUG). A subunidade menor se desloca até encontrar o códon de início. Quando isso ocorre, há a ligação entre ele e o anticódon do érri êne há tê quê carrega a metionina, o primeiro aminoácido da cadeia polipeptídica quê será sintetizada. Com isso, há a associação da subunidade maior à menor, formando o ribossomo completo.
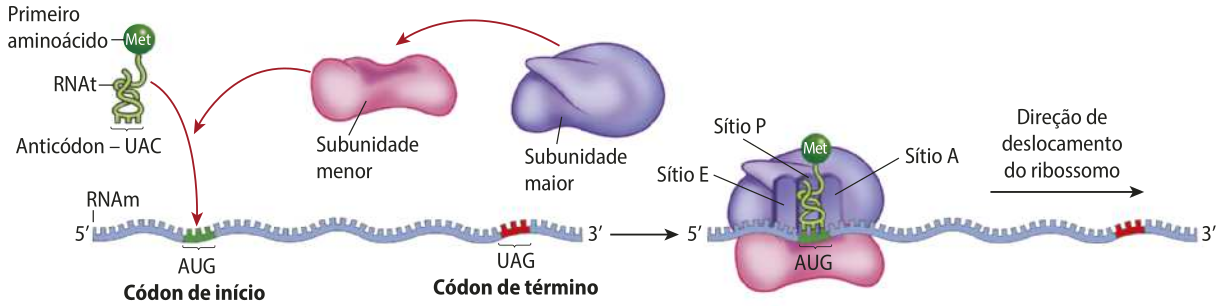
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 348.
Página trezentos e cinquenta e oito
2
O ribossomo completo se desloca em uma mesma direção ao longo da cadeia polipeptídica, iniciando o alongamento, ou seja, a adição dos aminoácidos subsequentes. O ribossomo apresenta sítios de ligação para os érri êne há tê, tais como o sítio A e o sítio P. Conforme o ribossomo se desloca, há a leitura de um novo códon no sítio A (1), onde o érri êne há tê correspondente se liga ao códon lido. No sítio P, há a adição do aminoácido transportado à cadeia polipeptídica em produção (2). No sítio E, ocorre o desligamento do érri êne há tê (3). Assim, conforme o ribossomo se desloca, há a exposição de um novo códon no sítio A.
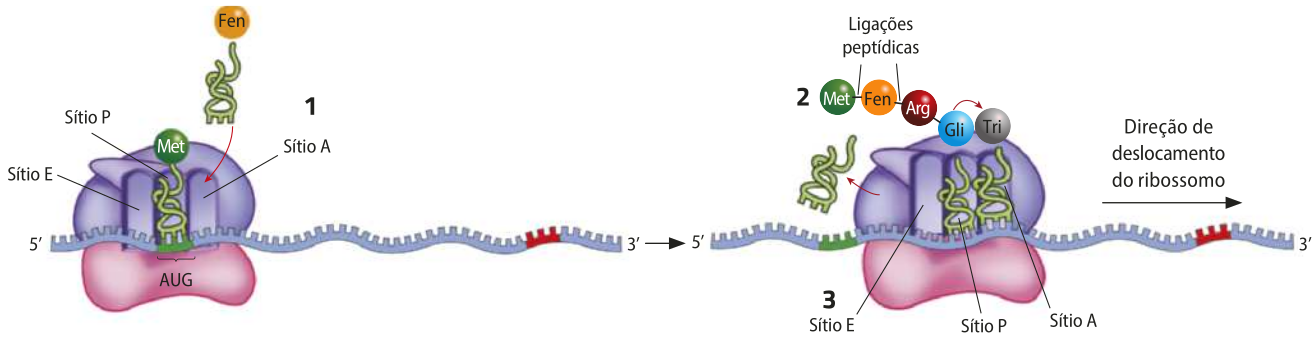
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 350.
3
A tradução é finalizada quando o sítio A do ribossomo é ocupado por um códon de término (UAG, UAA ou UGA). Quando isso ocorre, uma proteína denominada fator de liberação se liga ao códon de término, promovendo a saída do último érri êne há tê, a liberação da cadeia polipeptídica formada e a dissociação das subunidades do ribossomo e da molécula de érri êne há ême.
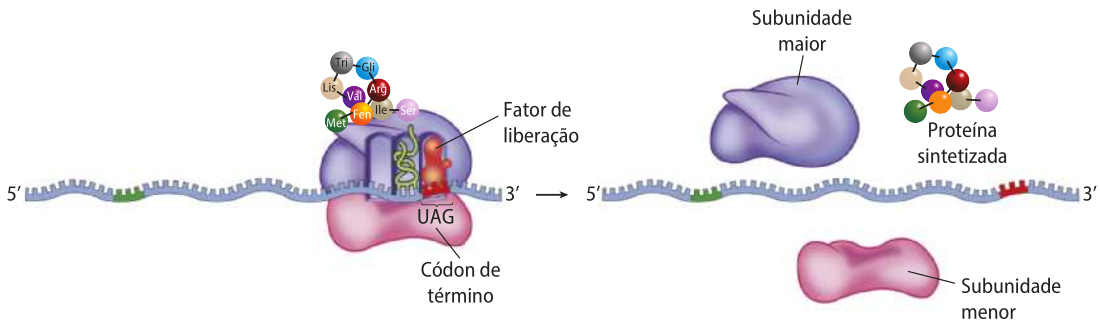
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 351.
Após o término da tradução, de modo geral, a cadeia polipeptídica formada passa por uma série de modificações para se tornar uma proteína funcional. Uma dessas modificações é o enovelamento da cadeia, assumindo uma conformação específica tridimensional. Em alguns casos, ocorre a associação entre duas ou mais cadeias enoveladas para formár uma proteína ativa.
As proteínas ativas, então, podem permanecer no cito plasma celular ou serem direcionadas a outras regiões da célula, como o núcleo, ou a outras organelas.
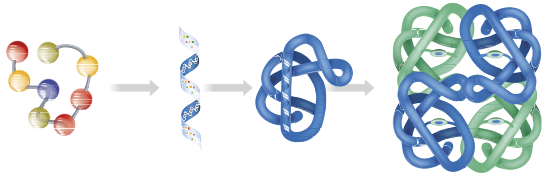
Elaborada com base em: NELSON, Daví L.; COX, máicou M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5. ed. Porto Alegre: Artméd, 2011. p. 92.
Página trezentos e cinquenta e nove
Mutação gênica
Uma mutação corresponde a uma alteração da sequência de nucleotídeos quê formam o material genético. Quando essa alteração ocorre na sequência de um gene, ela é denominada mutação gênica. Os mecanismos relacionados à mutação são distintos e incluem a inserção, a deleção ou a substituição de um ou mais nucleotídeos quê formavam determinada sequência genética original.
As mutações podem ocorrer espontaneamente, devido a êêrros na replicação do dê ene há, por exemplo. No geral, os êêrros são corrigidos por mecanismos celulares específicos. Mas quando há uma falha na correção, é possível quê ocorra uma mutação.
A ocorrência das mutações também póde sêr induzida a partir da interação de alguns agentes com o dê ene há. Esses agentes mutagênicos podem sêr alguns compostos químicos, a radiação ultravioleta (uvê) e as radiações ionizantes, como os raios Xís e os raios gama. De modo geral, a exposição excessiva a eles aumenta a possibilidade de ocorrência de mutações.
Em parte dos casos, as mutações podem sêr silenciosas e não produzir efeitos no organismo. Um exemplo de mutação silenciosa é quando ocorre uma alteração pontual em um dos nucleotídeos de um códon e, ainda assim, o aminoácido codificado não é alterado. Nesse caso, a proteína resultante continua sêndo funcional.
Já em outros casos, as mutações podem provocar efeitos no organismo. Um exemplo é quando a alteração dos nucleotídeos modifica a sequência de aminoácidos, resultando em uma alteração estrutural e funcional da proteína codificada. Esse é o caso das mutações quê afetam proteínas envolvidas no contrôle do ciclo celular. O mau funcionamento dessas proteínas póde favorecer a divisão celular descontrolada e resultar no desenvolvimento de tumores.
Analise o exemplo a seguir, no qual o aminoácido a sêr codificado é a serina (Ser).
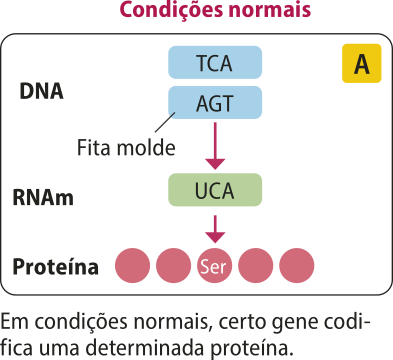
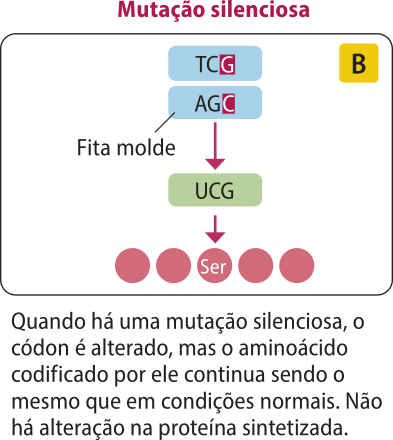
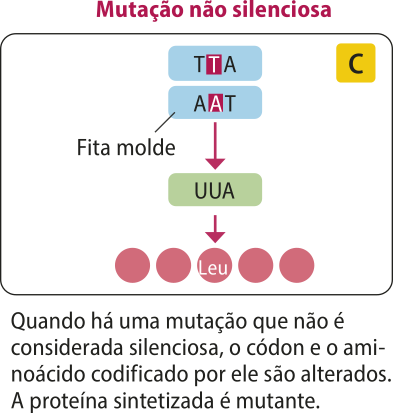
Elaborada com base em: PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara kúgam, 2016. Localizável em: p. 740 do pdf.
PENSE E RESPONDA
5 Considere quê, a partir de uma condição normal, tenha ocorrido a substituição da timina (T) pela adenina (A) na fita mólde de dê ene há apresentada na ilustração. Analise a tabéla de cóódigo genético na página 356 e responda: essa mutação é silenciosa? Justifique sua resposta.
Página trezentos e sessenta
DIÁLOGOS DA NATUREZA
êste assunto permite um trabalho em conjunto com os componentes curriculares de Física e Química. Mais informações nas Orientações para o professor.
Radiações ionizantes: aplicações e perigos
As radiações ionizantes são ondas eletromagnéticas altamente energéticas e possuem alto pôdêr de penetração nos materiais, sêndo amplamente utilizadas na medicina. Um exemplo é o uso dos raios Xís no exame de radiografia.
A radiografia é um exame não invasivo quê possibilita visualizar algumas estruturas internas. Nesse exame, o paciente recebe baixas doses de raios Xís, quê atravessam os tecídos e incidem em um filme fotográfico. As estruturas menos densas permitem a passagem do raio Xís, quê sensibiliza regiões do filme deixando-as em côr escura. Estruturas mais densas, como os óssos, dificultam a passagem dos raios Xís. Assim, há menor sensibilização do filme nessas regiões, quê ficam em côr clara.
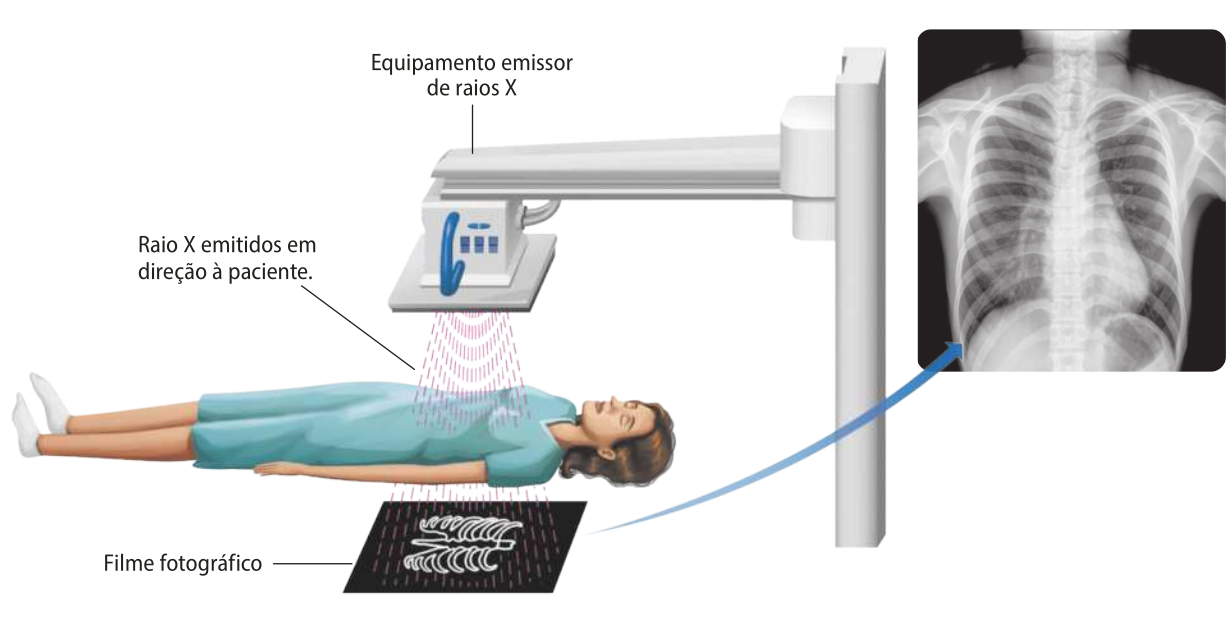
Por muito tempo, os efeitos danosos das radiações ionizantes não eram conhecidos pela comunidade científica. Quando a radiografia começou a sêr realizada, equipamentos de proteção ainda não eram utilizados. Por conta díssu, diversos profissionais foram prejudicados, tendo desenvolvido lesões e problemas de saúde pela exposição excessiva aos raios Xís.
Atualmente, os profissionais quê trabalham com o exame devem utilizar equipamentos específicos para protegê-los, como coletes e aventais feitos de chumbo, ou permanecer atrás de um anteparo feito dêêsse material, quê impede a passagem de raios Xís. O chumbo também é utilizado em paredes, portas e janelas das salas nas quais a radiografia é realizada. Essa medida de segurança evita danos à saúde física.
PENSE E RESPONDA
6 Ao realizar uma radiografia, póde sêr necessário quê os pacientes utilizem equipamentos de proteção feitos de chumbo. Você já realizou esse exame? Se sim, converse com seus côlégas sobre sua experiência.
7 Justifique a importânssia de se utilizar equipamentos de proteção durante a realização da radiografia, utilizando em sua resposta o termo “mutações”.
Página trezentos e sessenta e um
ATIVIDADES
1. Explique como ocorre a replicação do dê ene há e por quê ela é semiconservativa.
2. Com relação à síntese proteica, responda.
a) Qual organela é responsável pela síntese proteica?
b) Quais são os processos envolvidos na síntese proteica? Explique-os brevemente.
3. Quais são os três tipos de érre êne há existentes? Explique suas funções.
4. O quê é cóódigo genético? Explique por quê ele é universal.
5. Defina o quê são genes, códon e anticódon.
6. O qüadro a seguir apresenta uma fita mólde de dê ene há, uma fita de érri êne há ême e uma cadeia de aminoácidos incompletas. Analise-o e, em seu caderno, faça o quê se pede.
Fita mólde de dê ene há |
___ AAT GCA TTA GAA CAG CTC ___ TAT ATT |
|---|---|
Fita de érri êne há ême |
AUG UUA CGU AAU ___ GUC GAG AGA AUA ___ |
Cadeia de aminoácidos |
Met ___ Arg ___ Leu Val Glu Arg Ile |
a) Que processos estão representados entre as linhas do qüadro?
b) No caderno, copie e complete as lacunas existentes na fita mólde de dê ene há, na fita de érri êne há ême e na cadeia de aminoácidos.
c) Em qual das fitas são encontrados os códons para a codificação de aminoácidos? Em sua resposta, identifique o códon de início e o códon de parada.
d) Considere quê, após estar completa, o quinto nucleotídeo da sequência da fita mólde de dê ene há foi substituído pela timina (T). Em seu caderno, registre a sequência mutante da fita mólde de dê ene há, a fita de érri êne há ême transcrita e a cadeia de aminoácidos sintetizada nessa condição. Analisando seus registros, explique o efeito dessa mutação.
7. Analise a ilustração a seguir, quê representa alguns processos celulares. Com base nela e em seus conhecimentos, responda às kestões.
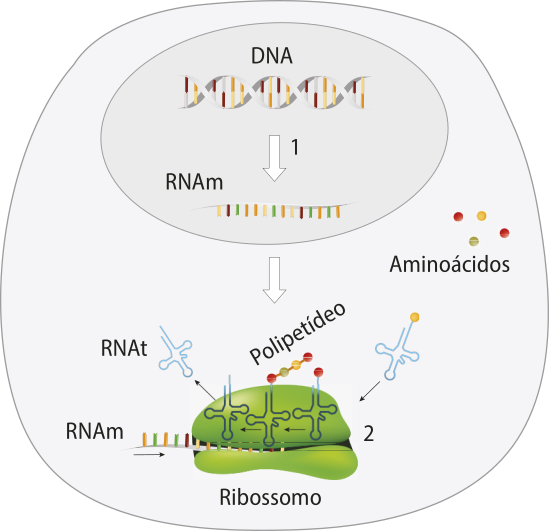
Elaborada com base em: REECE, diêine B. éti áu. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artméd, 2015. p. 84.
a) Explique o processo representado em 1.
b) Explique o processo representado em 2.
8. Observe as fitas de érre êne há mensageiro a seguir e responda.
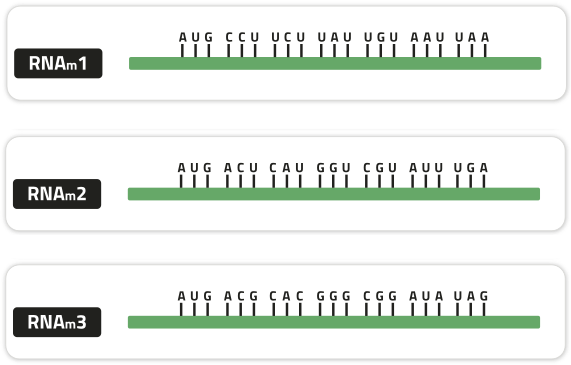
a) Em seu caderno, faça a tradução das fitas de érri êne há ême, indicando as cadeias polipeptídicas formadas.
b) Quantas cadeias polipeptídicas diferentes foram formadas a partir das três moléculas de érri êne há ême apresentadas? Explique por quê esse número de cadeias foi formado.
Página trezentos e sessenta e dois
ORGANIZANDO AS IDEIAS
Analise o esquema a seguir, quê apresenta e relaciona os principais conceitos estudados nesta Unidade.
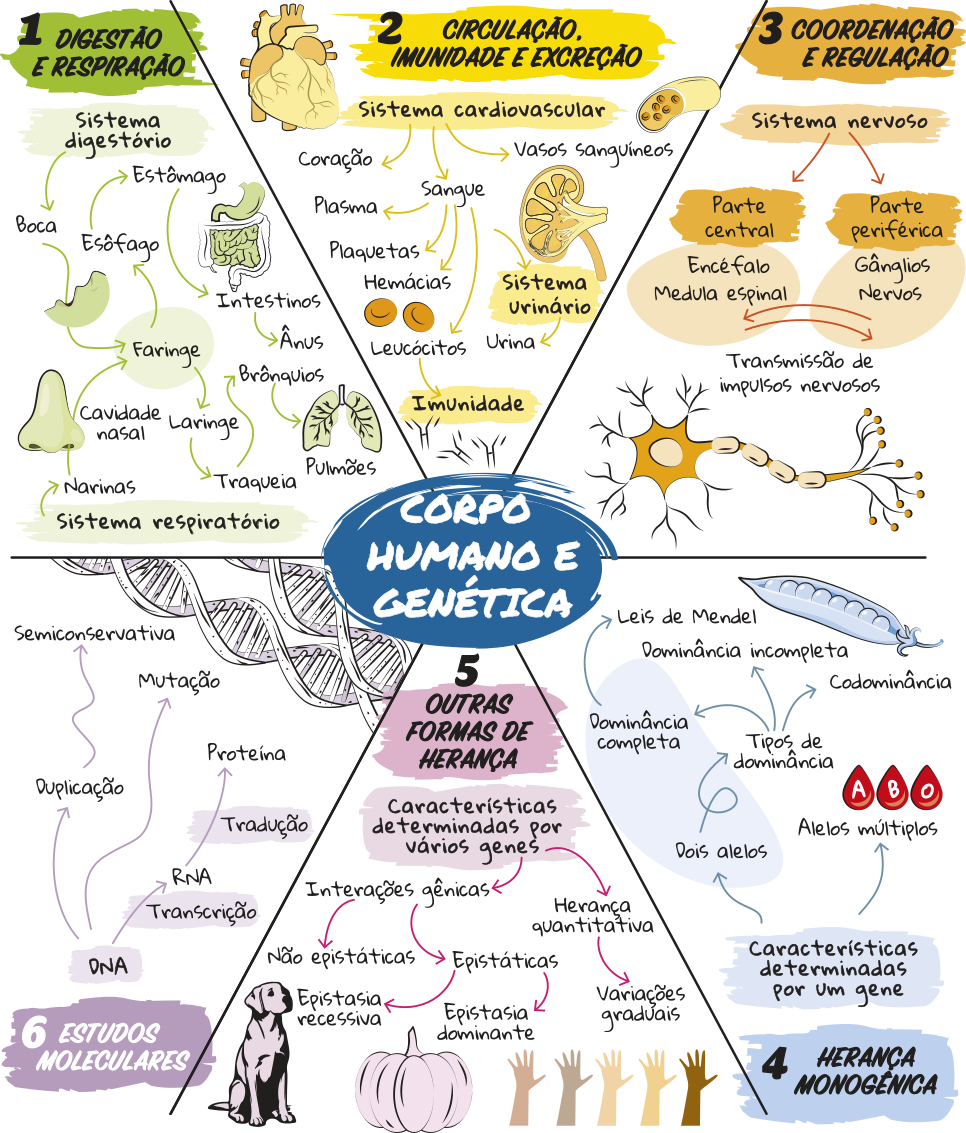
No caderno, elabore o seu próprio esquema. Organize os principais conceitos da Unidade e inclúa nele outros termos e ideias quê se relacionam ao quê foi estudado, realizando as associações quê considerar importantes. Por fim, elabore um pequeno texto quê conecte os conceitos e as ideias presentes no esquema. Essa é uma boa forma de estudar e compreender melhor os conceitos.
Página trezentos e sessenta e três
Respostas e comentários estão disponíveis nas Orientações para o professor.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Tema 25 - Sistemas digestório e respiratório
1. Leia o trecho a seguir e, considerando seus conhecimentos sobre o sistema respiratório, responda ao quê se pede.
Uma estudante de 16 anos de uma escola estadual […], no interior de São Paulo, participou da maior feira de ciências do mundo, em Los Angeles (Estados Unidos), […] com um equipamento capaz de diagnosticar e apoiar o tratamento de doenças respiratórias.
O projeto, agora apresentado mundialmente, envolve [...] um sistema biomédico multiplataforma capaz de fazer a análise da musculatura pulmonar dos pacientes através de [...] um teste em quê é preciso inspirar e expirar.
Ele promove o fortalecimento da musculatura respiratória, aliando os exercícios a jogos digitais lúdicos. [...]
[...]
ASSIS, Desirèe. Estudante participa de feira de ciências nos Estados Unidos com equipamento capaz de diagnosticar doenças respiratórias. G1, [s. l.], 25 maio 2024. Disponível em: https://livro.pw/yqvtc. Acesso em: 9 out. 2024.
a) Explique como ocorrem os movimentos respiratórios citados no texto.
b) O dispositivo desenvolvido pela estudante está associado a uma platafórma digital com jogos lúdicos. Em sua opinião, quais são as vantagens de associar jogos digitais ao tratamento de doenças?
2. (UECE) No quê concerne aos tecídos animais, escrêeva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o quê se afirma nos itens a seguir.
( ) O tecido epitelial reveste os órgãos, a superfícíe externa e as cavidades internas do corpo.
( ) O tecido conjuntivo apresenta variadas funções como preenchimento, sustentação, isolamento térmico e reserva energética.
( ) As células quê compõem o tecido muscular são alongadas e apresentam propriedades contráteis.
( ) As células do tecido nervoso possuem formato diferenciado e sua característica principal é a passagem de informação entre neurônios.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
a) V, V, V, V.
b) V, F, V, F.
c) F, V, F, V.
d) F, F, F, F.
Resposta: a)
3. (Enem/MEC) Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução aquosa da enzima digestiva pepsina em cinco tubos de ensaio. Em seguida, adicionou massas iguais dos alimentos descritos no qüadro. Os alimentos foram deixados em contato com a solução digestiva durante o mesmo intervalo de tempo.
Tubo de ensaio |
Alimento |
Água (%) |
Proteínas (%) |
Lipídios (%) |
Carboidratos (%) |
|---|---|---|---|---|---|
I |
Leite em pó |
3,6 |
26,5 |
24,8 |
40,1 |
II |
Manteiga |
15,1 |
0,6 |
82,3 |
0,91 |
III |
Aveia em flocos |
12,3 |
12,7 |
4,8 |
68,4 |
IV |
Alface |
74,7 |
0,9 |
0,1 |
2,1 |
V |
Fubá de milho-cozido |
74,7 |
2,0 |
1,1 |
21,9 |
A maior quantidade de produtos metabolizados ao final do teste foi ôbitída no tubo
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.
Resposta: a)
4. (hú- hê- érre jota) Quadros de pneumonia podem ocorrer quando, além do ar, algum corpo estranho entra nas vias respiratórias.
Uma explicação para a possibilidade de entrada dêêsses corpos estranhos é a comunicação entre o sistema respiratório e o seguinte sistema:
a) nervoso
b) excretor
c) digestório
d) circulatório
Resposta: c)
Tema 26 - Sistema cárdio vascular, imunidade e sistema urinário
5. (UEA-AM) A figura ilustra o fluxo de hemácias e glóbulos brancos em uma vênula (vaso sanguíneo) humana.
Página trezentos e sessenta e quatro
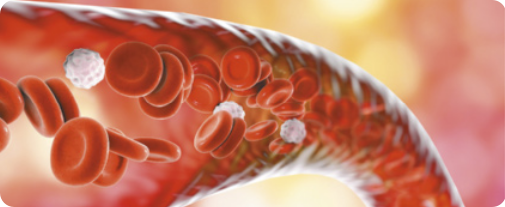
Considerando quê as células sanguíneas da figura estão retornando ao coração, elas passarão
a) pêlos capilares até chegar ao átrio cardíaco.
b) pelas veias até chegar ao átrio cardíaco.
c) pelas arteríolas até chegar ao átrio cardíaco.
d) pêlos capilares até chegar ao ventrículo cardíaco.
e) pelas artérias até chegar ao ventrículo cardíaco.
Resposta: b)
6. (UEG-GO) Durante o ano de 2020, um dos assuntos mais comentados pela população humana refere-se às vacinas. Ressalta-se quê as vacinas são substâncias feitas a partir de bactérias ou vírus causadores de doenças e têm como principal função estimular o nosso sistema imunológico a manter o nosso corpo livre de doenças infekissiósas. Pode-se dizêr quê as vacinas são uma forma de imunização
a) ativa, isto é, o nosso próprio organismo produz os anticorpos para sua defesa.
b) reativa, isto é, o nosso próprio organismo produz os antígenos para sua defesa.
c) indireta, isto é, o nosso próprio organismo produz os anticorpos para sua defesa.
d) passiva, isto é, o nosso próprio organismo produz os anticorpos para sua defesa.
e) diréta, isto é, é o nosso próprio organismo produz os anticorpos e antígenos para sua defesa.
Resposta: a)
7. (Unimontes-MG) A imagem a seguir apresenta, de maneira simplificada, uma parte do sistema urinário. Analise-a.
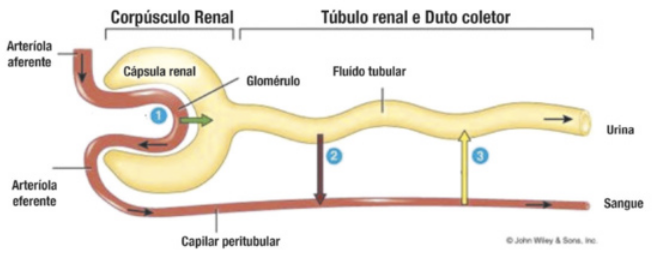
Com base na imagem e conhecimentos associados, é CORRETO afirmar:
a) 1 representa a fiutrassão, 2 representa a reabsorção e 3 representa a secreção.
b) 1 representa a fiutrassão, 2 representa a reabsorção e 3 representa a excreção.
c) 1 representa a fiutrassão, 2 representa a secreção e 3 representa a reabsorção.
d) 1 representa a reabsorção, 2 representa a fiutrassão e 3 representa a excreção.
Resposta: a)
Tema 27 - Sistema nervoso
8. (UECE) O sistema nervoso humano é dividido em sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). A respeito das funções dêêsses sistemas, escrêeva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o quê se afirma nos itens a seguir.
() O SNP, constituído do encéfalo e da medula espinal, intégra e processa as informações quê o restante do organismo envia ou recebe.
() O SNC é responsável pela elaboração dos pensamentos, das memórias e das emoções.
() O SNC é formado por nervos e gânglios, cuja função é manter o fluxo de informações entre o SNP e o restante do corpo.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V, V, V.
b) F, V, F.
c) V, F, V.
d) F, F, F.
Resposta: b)
9. (Enem/MEC) Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em quê o estímulo foi aplicado.
Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta?
a) Ponte.
b) Medula.
c) Cerebelo.
d) Hipotálamo.
e) Neuro-hipófise.
Resposta: b)
10. (UEA-AM) No organismo humano existem bilhões de neurônios responsáveis por gerar e conduzir impulsos nervosos elétricos. São esses impulsos quê comandam diversas ações sensoriais, motoras, integradoras e
Página trezentos e sessenta e cinco
quê também regulam a homeostase do corpo humano. A geração e a condução do impulso nervoso nos neurônios dependem diretamente dos transportes dos íons
a) cálcio e potássio.
b) cálcio e iôdo.
c) sódio e ferro.
d) sódio e potássio.
e) ferro e iôdo.
Resposta: d)
Tema 28 - Genética mendeliana
11. Considere o heredograma a seguir quê mostra a transmissão de uma doença hereditária ao longo de uma família. Em seu caderno, indique V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, corrigindo-as.
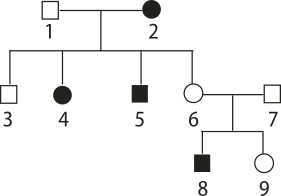
I. Os indivíduos 2, 4, 5 e 8 são afetados pela doença.
II. A doença é ocasionada pela presença de um alelo dominante.
III. O genótipo dos indivíduos 1, 6 e 7 é homozigoto dominante.
IV. O genótipo dos indivíduos 2, 4, 5 e 8 é heterozigoto.
V. A probabilidade de os indivíduos 1 e 2 terem outro filho com a doença genética é de 50%.
VI. A probabilidade de os indivíduos 6 e 7 terem outro filho com a doença genética é de 75%.
12. (UFT-TO) Gregor Mendel realizou os experimentos primordiais da genética. Em um dos experimentos, Mendel fez o cruzamento de duas plantas de ervilha de linhagens puras, uma possuía sementes lisas com traço dominante e a outra possuía sementes rugosas com traço recessivo. Quais fenótipos foram observados nas plantas das gerações F1 e F2, e em quais proporções? Alternativas
a) F1: 100% de plantas com sementes lisas. F2: 75% de plantas com sementes lisas e 25% de plantas com sementes rugosas.
b) F1: 100% de plantas com sementes lisas. F2: 50% de plantas com sementes lisas e 50% de plantas com sementes rugosas.
c) F1: 75% de plantas com sementes lisas e 25% de plantas com sementes rugosas. F2: 100% de plantas com sementes lisas.
d) F1: 75% de plantas com sementes lisas e 25% de plantas com sementes rugosas. F2: 50% de plantas com sementes lisas e 50% de plantas com sementes rugosas.
Resposta: a)
13. (UEMG) O cruzamento entre animais com cauda longa foi feito repetidas vezes entre si, originando sempre descendentes com cauda longa. Os descendentes, quando cruzados entre si, também somente originaram filhotes de cauda longa. De acôr-do com os princípios da genética mendeliana, isso se dá porque
a) o caráter é dominante.
b) o genótipo dos descendentes difére do dos pais.
c) os animais cruzados eram heterozigotos.
d) os animais cruzados eram homozigotos.
Resposta: d)
Tema 29 - Interações gênicas e herança quantitativa
14. (UFRR) Considerando o cruzamento entre dois cães labradores, sabendo quê a pelagem é um exemplo de epistasia recessiva e quê somente dois genes condicionam as três pelagens típicas dessa raça: preta, chocolate e dourada, é correto afirmar quê o cruzamento de cães pretos duplo-heterozigoto (BbEe) produz descendentes na proporção
a) 9 pretos: 3 chocolates: 1 dourado.
b) 9 pretos: 3 chocolates: 4 dourados.
c) 3 pretos: 1 dourado.
d) Cães pretos, chocolates e dourados nas mesmas proporções.
e) Somente cães pretos.
Resposta: b)
Tema 30 - Genética Molecular
15. (hú- hê- érre jota) A aglutinina do trigo é uma molécula capaz de bloquear os póros nucleares das células. Admita quê essa substância seja introduzida em uma célula eucarionte.
O processo quê será interrompido no interior dessa célula é:
a) duplicação de cromossomos
b) transporte de elétrons
c) síntese de proteínas
d) fabricação de érri êne há ême
Resposta: c)
Página trezentos e sessenta e seis
INTEGRANDO COM...
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS E FÍSICA
Respostas e comentários estão disponíveis nas Orientações para o professor.
Interação entre o cérebro e a máquina
Imagine uma pessoa quê póde controlar o computador ou movimentar objetos com a mente. Digitar, jogar e movimentar braços e pernas robóticas por meio de pensamentos são situações quê ilustram o quê a interface cérebro-máquina (ICM) é capaz de fazer. Esse conceito, também conhecido como interface cérebro-computador (ICC), refere-se à conexão diréta entre o cérebro humano e dispositivos externos.
A ICM possui dois princípios: transformar o pensamento em ação e a sensação em percepção. Para exemplificar, analise o esquema a seguir.

Elaborado com base em: CARMENA, José M.; MILLÁN, José del R. Interfaces cérebro-máquina: seu cérebro em ação. São Paulo: Unésp Para Jovens, 24 maio 2023.
Diversos são os benefícios da ICM. Pessoas quê, por algum motivo, perderam a capacidade de movimentar membros, podem utilizar próteses ou cadeiras de rodas controladas pela mente para recuperar parte de sua autonomia. Pessoas quê possuem doenças quê danificam o sistema nervoso, sêjam por fatores genéticos ou não, também podem melhorar a qualidade de vida a partir de novas maneiras de interação com o ambiente ao seu redor.

Página trezentos e sessenta e sete
Por outro lado, existem kestões importantes a serem debatidas. Se a tecnologia envolvida permite traduzir os sinais emitidos pelo cérebro em informações, ela poderá influenciar esses sinais, ao ponto de modificar o pensamento de uma pessoa? Ou até mesmo obtêr informações?
Essas kestões trazem preocupações sobre a privacidade, a autonomia do sêr humano e os limites da utilização da tecnologia. Portanto, além de aspectos técnicos e clínicos, é fundamental considerar aspectos éticos, garantindo quê seu uso respeite os direitos individuais e a integridade mental.

MATRIX Resurrections. Direção: Lana Wachowski. Estados Unidos: Uórner brós píctiúrs, 2021. Vídeo (148 min). AVATAR: O caminho das águas. Direção: diêmes Kémerom. Estados Unidos: 20th Cêntury Studios, 2022. Vídeo (192 min).
Agora, faça o quê se pede em cada item.
1. O quê é a interface cérebro-máquina (ICM)? Explique os princípios de seu funcionamento.
2. De quê maneira o estudo da Biologia e da Física contribui para o princípio de funcionamento da ICM?
3. Em geral, filmes quê abordam conceitos relacionados à ICM são do gênero ficção científica. Em sua opinião, a ICM é ficção científica ou realidade?
4. Em sua opinião, a ICM é uma tecnologia quê ajuda a reduzir ou a ampliar a desigualdade social? Em grupo, conversem sobre o assunto.
5. Em grupo, conversem sobre os possíveis problemas levantados pêlos questionamentos presentes no meio do texto. Anotem os principais pontos analisados e as opiniões obtidas e façam uma redação sobre o assunto.
Página trezentos e sessenta e oito