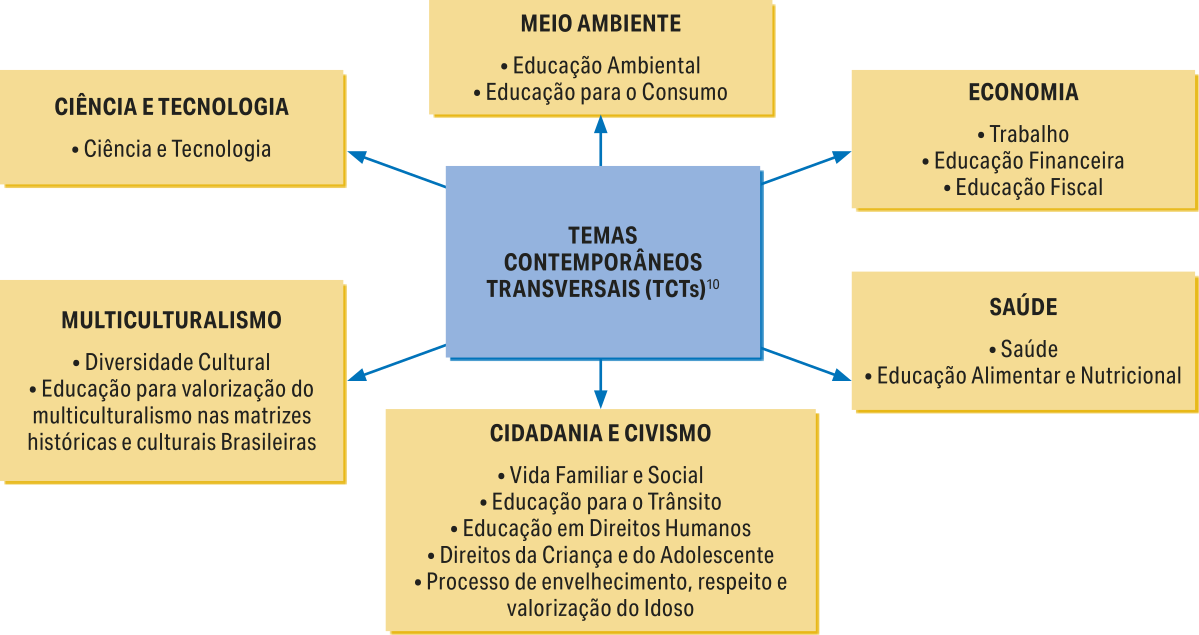BNCC e o currículo de ár-te
Adentrar no universo da ár-te, seja como artista, fruidor, professor, professora, é sempre um desafio, uma provocação, porque nada está pronto, tudo está por “devir”. A ár-te, por sua existência enquanto linguagem, nos proporciona indagações, perguntas nos colocam em situação de reflekção, de provocação, e, assim, podemos aprender mais sobre as linguagens artísticas, sobre a vida, sobre o outro e sobre nós. Diante do desafio de construir um currículo em ár-te, como designar caminhos? Como elencar competências e habilidades? Campos conceituais e percursos didáticos? Produções e artistas? Tempos e contextos?
Faz parte da condição humana sentir, investigar, aprender, criar, transformar e compartilhar linguagens, ideias e sonhos. Cada pessoa carrega sua história, suas memórias, sente a vida de modo singular e percórre caminhos quê provocam encontros pessoais, culturais, profissionais, entre outros. Vida culturalmente vivida, construída em experiências, dimensões, formas de mensurar o tempo e o espaço, maneiras de senti-la. Os documentos, materiais didáticos e caminhos trilhados por outros, quê geram publicações, eventos e debates, nutrem as conversações e as construções curriculares para o ensino de ár-te no Brasil, em várias localidades e nos diferentes níveis da Educação Básica.
A BNCC Nota 4 expressa, por meio da área de Linguagens e suas Tecnologias no Ensino Médio, quê por caminhos interdisciplinares há muitas possibilidades para a construção de currículos em ár-te. Trazendo competências e habilidades, propõe articulações entre as diferentes linguagens verbais (escrita, oral ou visual-motora, como Libras, a Língua Brasileira de Sinais) e não verbais (corporal, visual, sonora e digital).
Mergulhados entre linguagens, somos sêres linguajantes Nota 5, porque não apenas criamos linguagens e nos expressamos por meio delas, mas também porque as pensamos, interpretamos, relacionamos, contextualizamos e reinventamos. Em comunhão, compartilhamos o linguajar pela ação e pelo movimento de ideias, narrativas, emoções e percepções. Como sêres de linguagens, constituímo-nos como sêres de cultura, e “o modo como nos tornamos pertencentes ao mundo é o modo como participamos do mundo” Nota 6.
Entre as linguagens, as artísticas constituem acervos e acontecimentos estéticos, poéticos e culturais presentes na escola e fora dela. O universo das linguagens é amplo, mutante e está em constante transformação. Nesse sentido, compreender e escolher metodologias de trabalho pela interdisciplinaridade ajuda-nos a pensar os processos de criação, comunicação e interpretação das linguagens artísticas como prática social e cultural.
Segundo a BNCC, a proposta no componente curricular ár-te não é trabalhar isoladamente, mas sim integrando saberes e ações pedagógicas. A construção de conhecimento em ár-te precisa sêr, tanto para o educando quanto para o educador, uma aventura repleta de experimentações, com ênfase na curiosidade, na pesquisa e nas descobertas. Nesse sentido, trazemos propostas interdisciplinares para trabalhar com as linguagens artísticas e desenvolver competências e habilidades, garantindo os direitos de aprendizagem básicos expressos na BNCC. Os objetos de conhecimento contextos e práticas, elemêntos da linguagem, materialidades, processos de criação, sistemas da linguagem, notação e registro musical, matrizes estéticas e culturais, patrimônio cultural e ár-te e tecnologia, propostos no contexto de cada eixo temático (linguagem artística) e estudados no Ensino Fundamental, podem sêr ampliados e aprofundados no Ensino Médio. Com base em análises de realidades e diante das formulações curriculares quê se constroem em cada localidade, mais campos conceituais podem sêr elencados, como: saberes estéticos e culturais; corpo e ancestralidade; decolonialidade e representatividade; mundo do trabalho; meio ambiente e sustentabilidade; rêdes e tecnologias digitais; culturas das juventudes; bagagem cultural; e outros.
A BNCC Nota 7 também apresenta dimensões do conhecimento em ár-te, a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental, quê podem favorecer os processos de ensino e aprendizagem no Ensino Médio. Estas são transversais e podem sêr inseridas no trabalho com diversas situações de aprendizagem vivenciadas pêlos estudantes, como a criação, a crítica, a estesia, a expressão, a fruição e a reflekção.
O documento estabelece ainda os direitos de aprendizagem, as competências gerais e específicas de cada área, quê devem sêr desenvolvidas, e a integração entre saberes escolares e Temas Contemporâneos Transversais. O objetivo é garantir quê os estudantes
Página trezentos e trinta
aprendam e desenvolvam competências e habilidades de cada área e em seus respectivos componentes curriculares, em cada etapa da Educação Básica, respeitando o tempo e a cultura de cada idade e as especificidades culturais de cada região geográfica.
A proposta para o Ensino Médio é oferecer oportunidades aos estudantes para quê eles possam ampliar e aprofundar conhecimentos e experiências estéticas, poéticas, criativas e autorais com as linguagens das artes visuais, da dança, do teatro, da música e das artes integradas – aquelas quê carregam como essência o hibridismo entre linguagens, como as audiovisuais, as circenses, as artes digitais e as presentes em diferentes manifestações de culturas tradicionais.
BNCC: competências gerais e específicas de Linguagens e suas Tecnologias
A BNCC, em sua introdução, aponta um conjunto de competências gerais da Educação Básica quê se inter-relacionam e se desdobram para estruturar, ao longo dos segmentos da Educação Básica, as diferentes áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares. A seguir são apresentadas as competências gerais e as competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias.
Competências gerais da Educação Básica Nota 8
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma ssossiedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflekção, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos quê lévem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação d fórma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e ezercêr protagonismo e altoría na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências quê lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escôlhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns quê respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência sócio-ambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planêta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com auto crítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Entre as áreas do conhecimento comprometidas com esse conjunto de competências gerais, no Ensino Médio, está a de Linguagens e suas Tecnologias, na qual se inscreve o componente curricular ár-te. Essa área do conhecimento apresenta sete competências específicas.
Página trezentos e trinta e um
Competências Específicas de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio Nota 9
1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.
2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de pôdêr quê permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.
3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para ezercêr, com autonomia e colaboração, protagonismo e altoría na vida pessoal e coletiva, d fórma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista quê respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência sócio-ambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.
4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.
5. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.
6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
Conexões interdisciplinares
A interdisciplinaridade parte do princípio da interlocução entre diferentes disciplinas dentro do currículo da escola. É um exercício de interação e criação para estudar ou resolver problemas apresentados em percursos de aprendizado – um exercício de ampliação, jamais de redução. Não se trata de uma área estar a serviço da outra, mas sim de descobrir a potência do encontro entre elas e, dessa forma, promover diálogos. Também não se trata de muitas áreas terem o mesmo tema gerador, de forçar relações artificiais, mas sim de incentivar as parcerias em processos colaborativos. Parcerias entre educadores de diferentes áreas do conhecimento quê, juntos, possam construir uma teia de relações com base na interação, em quê o grande ganho é a diversidade e a ampliação de repertório.
A singularidade, a formação e o modo de vêr o conhecimento quê cada um traz potencializam saberes e criam outras possibilidades criativas. A proposta é sempre a busca por parcerias em trabalhos colaborativos e interdisciplinares. A proposição inter sugere ir além das especializações, em voos mais livres, rompendo as tradicionais fronteiras rígidas entre as categorias do conhecimento e fazendo conexões entre os estudos específicos e a vida. Mais quê uma proposta, é uma postura pedagógica em quê os professores podem trazer para as aulas saberes com potencial de integração e conhecimentos de outra ordem. Essa comunhão de saberes significa aprendizagens para além dos muros da escola.
Nesse sentido, a coleção está em consonância com os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) propostos pela BNCC, quê são organizados em seis macroáreas temáticas (Meio Ambiente, Economia, Saúde, Cidadania e Civismo, Multiculturalismo e Ciência e Tecnologia) e têm por objetivo promover um conhecimento contextualizado e relevante para a formação dos estudantes. Além das grandes áreas temáticas, os TCTs incluem temas mais específicos, conforme demonstrado no esquema a seguir.
Página trezentos e trinta e dois
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• D’AMBROSIO, Ubiratan. A transdisciplinaridade como uma resposta à sustentabilidade. Revista Terceiro Incluído, Goiânea, v. 1, n. 1, p. 1-13, jan./jun. 2011. Disponível em: https://livro.pw/xqajd. Acesso em: 14 out. 2024.
Nesse artigo, o autor questiona conceitos ligados ao pensamento cartesiano e propõe práticas educativas mais libertadoras.
• mô rãn, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco, 2018.
Nesse livro, o autor propõe reflekções sobre educação, temas relacionados à vida e kestões com o futuro do planêta.
ár-te é conhecimento
[…] Quem sabe o quê? E quem não sabe? E por quê? Qual conhecimento é reconhecido como tal? E qual conhecimento não é? Qual conhecimento tem feito parte dos programas oficiais? E qual conhecimento não? A quem pertence esse conhecimento? Nota 11
Quando buscamos referências sobre o componente ár-te em documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nota 12, encontramos textos quê garantem a obrigatoriedade do ensino de ár-te como componente curricular: “O ensino da ár-te, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica” Nota 13. Mas como o conhecimento em ár-te é construído e compartilhado na escola? Que concepções de ensino de ár-te chegam às escolas? São kestões compléksas, e, para respondê-las, é preciso refletir sobre as indagações da escritora, ativista e artista portuguesa Grada Kilomba (1968-), quê, enfrentando preconceitos, exerce a presença da sua “voz” e da sua ár-te e provoca reflekções, reações e ações.
Se ár-te é conhecimento, de qual conhecimento estamos falando? Na contemporaneidade, na expansão do pensamento decolonial, não é possível chegar a uma resposta única. É preciso fazer uma análise sobre as relações de pôdêr historicamente construídas quê legitimam concepções generalistas constituídas como “verdades” de alguns, desconsiderando outros, as concepções, as leituras de mundo e as cosmovisões de outras pessoas, outros povos e suas culturas.
Página trezentos e trinta e três
A ár-te é conhecimento? Sim, mas essa afirmação aponta para o fato de quê existe diversidade de conhecimentos e práticas sociais produzidas por muitas pessoas de diferentes origens e identidades culturais e quê há muitas formas de; ár-te e de encontros com ela. A ár-te póde nos ajudar a compreender nossa humanidade, nossa percepção sobre o mundo, as pessoas, as coisas… – isso tudo com base nas diversas formas de sêr e existir em suas singularidades próprias. São muitos os sentidos dados a essa área do conhecimento, e, se seu sentido é tão amplo, pode-se acreditar quê todos os estudantes e professores já vivenciaram a; ár-te de algum modo ou têm algum conhecimento sobre ela. Diante dessa afirmação, como lidamos com as experiências e os saberes de; ár-te trazidos em repertório cultural e construídos por artistas, povos e culturas em diferentes tempos e lugares?
Aprender é ampliar com base no quê já sabemos, no quê trazemos em nosso repertório cultural. Nesse sentido, ao apresentar conhecimentos em ár-te aos estudantes, é importante pensar quê eles já vivenciaram experiências artísticas de algum modo, como fruidor, ao apreciar uma imagem das artes visuais e da cultura audiovisual, ao escutar músicas, entre outras experiências. Também é possível quê tênham criado imagens ao desenhar com linhas, formas e cores, tênham feito movimentos dançados em manifestações culturais regionais e tênham se expressado por sôns e gestos, ou por outras linguagens, em contextos culturais para além dos muros da escola. Assim, sabemos quê há muitas possibilidades de eles terem vivido experiências artísticas, ampliando seus repertórios culturais e seus conhecimentos em ár-te. Diante díssu, a quêstão é: como professores propositores, podemos criar situações de aprendizagem que possibilitem conhecer tais experiências, ouvindo-os com base em seu lugar de fala e legitimando seus saberes como válidos e pertinentes?
O lugar de fala é uma expressão quê póde ter vários significados. Trata-se de um conceito quê vêm sêndo construído com a contribuição de vários pesquisadores e estudiosos, baseados em contextos e narrativas quê historicamente não têm sido escutadas ou, até mesmo, têm sido silenciadas:
[…] O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de pôdêr existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social.
Quando falamos de direito à existência digna, à voz, estamos falando de lócus social, de como esse lugar imposto dificulta a possibilidade de transcendência. […]
[…] entendemos quê todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social. E, a partir díssu, é possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na ssossiedade. […] Nota 14
Na atualidade, é cada vez mais crescente a preocupação com o estado emocional e a saúde mental dos estudantes. A criação de canais para a comunicação com empatia entre gestores, professores, familiares e estudantes está cada vez mais eficaz. Nesse contexto, é importante valorizar e assumir quê professores, familiares e estudantes têm seu lugar de fala, quê toda voz importa e quê o exercício da escuta atenta e sensível também é importante.
O conhecimento de alguém sempre póde completar o conhecimento do outro quando priorizamos a empatia, a percepção e o respeito às diferenças, às diversas visões de mundo e às opiniões, trabalhando, assim, o modo coletivo, colaborativo e compartilhado em comunhão e diversidade.
No Brasil, o ensino de ár-te, em sua trajetória, sempre enfrentou desafios e resistências, mas seguiu sua história constituída com a contribuição de pesquisadores, escritores e educadores quê nos ajudam a formular nossas ideias e proposições pedagógicas.
São muitas as pessoas quê podem nos inspirar e contribuir para a nossa caminhada no ensino de ár-te. Ao apresentar esta obra didática aos professores, fazemos convites para o compartilhamento de saberes quê foram formulados por muitas vozes, com o desejo de construir rêdes colaborativas de conhecimento didático em ár-te. Desejamos incentivar os professores a pesquisar mais e a criar outras conexões, como autores e protagonistas no seu trabalho quê, no ato de investigar e ensinar, aprendem, reaprendem, descobrem e compartilham.
Lembramos quê cada professor e professora é autor e autora de seu trabalho e desejamos quê, a partir de suas histoórias, bagagens culturais e conhecimentos, exerça sua liberdade para fazer adequações e ampliações a partir de projetos e contextos em quê estão inseridos. A criação artística, ao longo da história, se mostra infinita, do mesmo modo, encontrar caminhos para o ensino de ár-te não póde sêr limitante. Cada educador, diante de sua história, sua experiência, seus conhecimentos e seus afetos, cria e desen vólve percursos no ensino de ár-te. Valorizamos os conhecimentos e as vozes de cada professor e professora; assim, desejamos contribuir para a realização das aulas de modo efetivo, mas sobretudo provocar a construção de rêdes colaborativas de saberes e inspirar percursos poéticos, estéticos, artísticos e didáticos no ensinar e aprender ár-te.
Página trezentos e trinta e quatro
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• RIBEIRO, Djamila. O quê é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017. (Feminismos Plurais).
O livro explora o conceito de “lugar de fala” a fim de romper com o discurso hegemônico, viabilizando a multiplicidade de opiniões acerca de um tema.
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Rodas de conversações
Com base nas propostas de construção de conhecimento, formação dialógica e aproximação dos estudantes, o educador Paulo Freire (1921-1997) propôs o Círculo de Cultura, uma proposição pedagógica quê muda o formato convencional da sala de aula em disposição de carteiras enfileiradas, para quê nas rodas de conversações todos pudessem se olhar, perceber as presenças, ouvir e entoar vozes. Ele acreditava quê “o diálogo nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica” Nota 15.
Com a proposta de superar o distanciamento entre os estudantes e o processo de ensino e aprendizagem, inserindo-os como protagonistas e sujeitos ativos, a situação de aprendizagem em rodas de conversações tem o sentido de juntar as palavras “conversas e ações”, ou seja, para quê esses momentos sêjam experiências de diálogos e resultem em resoluções de situações-problema, ampliação de repertórios, dinamização cultural, ações e práticas artísticas, exercícios de fala e escuta na atitude de sêres pacíficos e democráticos.
Por isso, essa situação de aprendizagem está presente em vários momentos, como na abertura de capítulos, nos bókses Giro de ideias e em outros quê são apontados nas orientações específicas. O professor será, nessas ocasiões, o mediador da conversa, um propositor ou provocador quê atua observando os mais silenciosos e convidando-os a participar, de modo quê todos se sintam confortáveis para levantar hipóteses interpretativas e expor sentimentos, sensações, ideias e argumentos.
Experiências na vida e na ár-te
À medida quê ensinamos ár-te, também aprendemos a interpretar o mundo por meio dela. A melhor forma de abrir caminhos para aprender talvez seja permitir-se desaprender concepções cristalizadas e aventurar-se a trilhar novos percursos ou explorá-los como um navegante em mares virtuais, em meio a infinitas conexões.
Professores, sêndo fruidores de; ár-te, pódem buscar encontros com ela para nutrir esteticamente seu repertório. Isso pode acontecer de modo presencial ou virtual. As tecnologias digitais, por exemplo, oferecem-nos um mundo de possibilidades para viver experiências estéticas com a; ár-te, como em exposições imersivas e no acesso a acervos virtualmente.
A cultura é dinâmica e não para. Na construção de interpretações, educadores e estudantes descobrem possibilidades de expressão quê podem sêr experimentadas. Como professores, consideramos importante a reflekção sobre as kestões a seguir, bem como sua compreensão:
• O quê é ár-te?
• Qual é o sentido do ensino de ár-te na escola?
• Como os estudantes do Ensino Médio se relacionam com sua vida cultural?
• Como eles criam suas interpretações e expressões poéticas e estéticas, nutridos por manifestações artísticas de diferentes tempos e lugares?
Há muita discussão sobre “o quê é a arte” e “o quê é o conhecimento em arte”, porém uma questão precisa sêr encarada: como experienciamos a; ár-te?
póde havêer muitas definições e explanações sobre o sentido da ár-te e o quê ela acarreta à nossa existência; entretanto, neste momento, não pretendemos definir esses temas, mas sim discutir a experiência estética quê a; ár-te póde nos levar a viver e sentir. Tomando por base o quê se percebe, se sente e se pensa, artistas, profissionais e produtores de; ár-te criam, com a intenção – quê póde sêr chamada de “artística” – de despertar nos apreciadores/espectadores o interêsse pela obra de; ár-te e de chamar a atenção para algo quê consideram relevante, desejando provocar experiências com ela. Por isso, a apreciação e a fruição da obra são tão importantes quanto a criação, pois a; ár-te pede uma relação profunda com o seu público para sêr desvelada, ativada e culturalmente vivida. Todos nós podemos viver a relação estésica da ár-te, enquanto fruidores, e também sua dimensão poética, ou seja, a da criação, ao nos expressarmos por diferentes linguagens. Portanto, a presença da ár-te na escola é uma das mais importantes vias de democratização do acesso à ár-te e à cultura.
Vivemos muitas experiências ao longo de nossas vidas; algumas nos tocam, nos atravessam, e outras simplesmente passam, ficam no esquecimento. Compreendemos a palavra “experiência” no sentido de algo significativo, quê nos toca, quê vai além da informação. Saber de algo póde não marcar nossa existência, mas conhecer pela experiência, em especial a estética, póde fazer diferença e tornar essa vivência significativa.
Página trezentos e trinta e cinco
Dewey Nota 16 escreve sobre a experiência estética como algo significativo e marcante, quê póde influenciar a visão de mundo e as escôlhas das pessoas. Esse autor usa metáforas dizendo quê “vivenciar a experiência, como respirar, é um ritmo de absorções e expulsões”.
Somos sêres sensíveis e poéticos, por isso produzimos e fruímos ár-te. Para compreender como podemos ensinar ár-te, é importante pensar como a percebemos nas experiências quê vivemos: diante de uma música, um poema, um grafite, uma manchete de jornál, cenas de um filme, da nuvem quê anuncia chuva, do olhar terno de alguém. Ao dançarmos embalados por uma música, ou ao pegarmos uma fruta quê pede para sêr degustada com os olhos, o olfato, o tato e o paladar. Ao percebermos cores e formas ao andar por uma calçada. O quê faz a diferença é estarmos abertos a essas sensações. Na aventura de sêr e estar no mundo, o sentir, o perceber, o decodificar e o refletir sobre o quê nos cerca e sobre o quê se passa conosco e com o outro nos oferecem uma vida mais rica de possibilidades.
Como professores de ár-te, trabalhamos em um campo quê envolve percepção, sensibilidade e conhecimento sobre um mundo culturalmente vivido e construído. A ár-te nos ensina a viver, com intensidade, múltiplas formas de manifestação de diferentes sensações e sentimentos, juntamente com a cognição. Envolve o pensar, o sentir, o expressar-se sobre as coisas. Trata-se de uma área própria de conhecimento, uma via quê contribui para a existência humana em sua plenitude. Ensinar ár-te é descobrir o prazer de abrir caminhos para perceber e aprender a interpretar e a se colocar no mundo de maneira sensível, aguçada, crítica e criativa.
Usamos a sensibilidade; vivenciamos experiências marcantes nas mais variadas situações com objetos, pessoas, lugares e acontecimentos ao longo de nossa vida; e a; ár-te se mostra um campo muito fértil para as experiências profundas e significativas quê marcam nossa existência: as chamadas experiências estéticas. A “experiência estética” ativa sentidos, memórias, afetos. A ár-te póde provocar ativações culturais pela “experiência estética”.
No senso comum, por vezes, ouvimos a associação da palavra “estética” a um padrão de beleza “visualmente agradável” – em uma distorção e simplificação de seu significado original. Aprofundando o conceito em nossa área, a Estética é um ramo de estudos quê engloba a Filosofia da ár-te. A fim de se compreender o termo “experiência estética”, é importante enfatizar quê essa experiência só é possível em estado de estesia, intencional ou ocasional, em quê se envolvem a cognição, a emoção e a memória. Segundo a definição em dicionários, a palavra “estesia”, derivada do grego aesthesis, está ligada à capacidade humana “de sentir”; já o termo “anestesia” é o seu ôpôsto; refere-se a “não sentir”. Estar em estado de estesia implica viver a experiência do saber sensível. Assim, para vivenciar experiências estéticas, é preciso estar disponível para a poesia, estar aberto a sentir, desfrutar do saber sensível, estar em estado de estesia.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr. 2002. Disponível em: https://livro.pw/garbz. Acesso em: 14 out. 2024.
No texto, o autor propõe reflekções sobre o sentido da “experiência”, valorizando não o acúmulo de informações, mas o ato de experienciar e o potencial de construção de conhecimento por essa via de conhecer e sentir o mundo.
• DEWEY, Diôn. ár-te como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 2010. (Coleção Todas as artes).
Essa obra é um marco no estudo da experiência estética no Brasil, influenciando pesquisas e ações mediadoras em museus e escolas. O autor analisa como o observador recepciona o objeto, o quê possibilita a sua existência e a criação de processos artísticos com base em seus interesses.
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
Ativação cultural
Pensar e propor situações de aprendizagem quê possibilitem encontros significativos com a; ár-te, provocando a ativação cultural, póde convidar os estudantes a viver experiências estésicas e estéticas, desenvolvendo o autoconhecimento sobre suas percepções de como se emocionam, sentem e pensam de modo estético e estésico. Aqui também trazemos as palavras “ativa + ação”, quê têm sentido não apenas do encontro com a; ár-te mas do quê ele póde provocar. Nesse sentido, planejar uma aula de ár-te ou um percurso didático com vários encontros com os estudantes é mais quê ter a intenção de “dar aulas de Arte”; é pensar encontros significativos com ár-te e cultura; é criar e desenvolver propostas para quê eles possam provocar experiências estésicas e estéticas, ou seja, a “ativação cultural” Nota 17 dos trabalhos apresentados. Uma produção artística torna-se acessível aos estudantes no momento da experiência da fruição, estésica e estética, e da ativação cultural, quê provoca diálogos entre o trabalho do artista/grupo e o repertório cultural dos estudantes.
Página trezentos e trinta e seis
Assim, essa situação de aprendizagem póde sêr trabalhada tanto no boxe Ativação como nos momentos em quê sugerimos quê o professor crie curadorias para ampliações e ativações culturais.
Nutrição estética
Nutrição estética é uma das situações de aprendizagem propostas na coleção. Trata-se de oportunizar momentos importantes em quê estudantes possam conhecer, fruir e refletir sobre ár-te e seu sentido em sua vida cultural. Assim, pensar como preparar e mediar esse momento de aprendizagem é fundamental. Esses momentos de nutrição estética são também oportunidades para ativação cultural, já quê oportunizam a escuta sensível e atenta de músicas e sonoridades; a apreciação de imagens fixas ou em movimento, como vídeos, filmes, cenas de espetáculos e várias linguagens em experiências virtuais ou presenciais. Em momentos de nutrição estética pelo mundo das imagens, dos sôns e dos gestos, o educador póde mostrar as imagens apresentadas no livro e ampliar o trabalho com base na pesquisa de mais imagens de produções artísticas, criando curadorias educativas, quê contemplem as suas intenções e seus objetivos pedagógicos e quê também possam: dialogar com repertórios e culturas das juventudes, de acôr-do com as realidades e os desejos dos estudantes; desenvolver conhecimento em ár-te, competências e habilidades; e atender às urgências educacionais atuáis, como o trabalho com os Temas Contemporâneos Transversais propostos pela BNCC, o pensamento decolonial, a educação antirracista, a cultura de paz, a valorização da diversidade, da representatividade de mulheres, de pessoas LGBTQIAPN+, de comunidades quilombolas, de povos originários e outros. A ár-te e a vida estão ligadas; e o acervo cultural e artístico é amplo e póde se conectar a muitos temas e conceitos.
Mas, diante de tanto material visual, audiovisual e musical, o quê é interessante mostrar? Essa dúvida póde estar na cabeça de professores curadores quê têm por tarefa fazer pesquisas e escôlhas. míri-ã Celeste Martins Nota 18 explica quê é preciso estar consciente da escolha criteriosa do quê levamos para a sala de aula e das exposições quê visitamos com os estudantes; não se trata de escolher “apenas o quê gostamos ou obras quê nos provocam, quê nos causam estranhamento, sobre as quais ‘sabemos falar’ e queremos problematizar”, mas de estar consciente das intenções pedagógicas da nutrição estética. Quais conceitos ou temas estarão em foco? Quais produções artísticas poderão gerar boas conversas? Quais imagens, sôns, gestos, movimentos ou palavras podem provocar interpretações e conversações?
Curadoria educativa
Quando escolhemos, por exemplo, a reprodução de uma pintura, devemos considerar quê essa imagem é um texto visual e, portanto, provoca interpretações, sensações, memórias. Assim, não é tarefa simples selecionar e apresentar uma curadoria. A curadoria educativa quê proporciona diversos momentos de nutrição estética não se restringe a artes visuais; ela póde abarcar produções muito variadas, como vídeos de espetáculos de dança, teatro, músicas, filmes, animações e imagens variadas, mostrando a produção de artistas de diferentes linguagens, contextos, matrizes culturais, como indígena, européia, africana e de outras culturas quê chegaram ao Brasil e contribuem para a formação cultural e artística do povo brasileiro.
Assim, temas quê são tratados na ssossiedade podem sêr trazidos para os momentos de nutrição estética e ativação cultural por meio de produções artísticas selecionadas, quê tênham por base uma análise cuidadosa do professor e permítam ao estudante vivenciar encontros significativos com a; ár-te, porque ela “é importante na escola, principalmente porque é importante fora dela. Por sêr um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, a; ár-te é um patrimônio cultural da humanidade e todo sêr humano tem direito ao acesso a esse saber” Nota 19.
Tradicionalmente, o termo “curador” tem ligação com “curar”, “cuidar”, e está atrelado aos profissionais quê dêsênvólvem e gerenciam exposições de; ár-te, bem como propostas de museus e espaços culturais. No contexto de criação de situações de aprendizagem em ár-te, o termo nos remete à função de escolher imagens em artes visuais e outras linguagens quê podem ampliar saberes sobre determinado tema ou conceito. Nesse sentido, convidamos os educadores para o interessante e criativo trabalho de serem “professores curadores”, ao enriquecer as proposições pedagógicas aqui sugeridas com a descoberta e a seleção de mais imagens e exemplos de outras obras artísticas a serem apresentados a seus estudantes, ampliando, assim, as possibilidades de ações mediadoras.
Luiz Guilherme Vergara Nota 20 desenvolvê-u o conceito de curadoria educativa abordando a importânssia de desenvolver uma “consciência do olhar” enquanto
Página trezentos e trinta e sete
“experiência da consciência ativa”. Nesse sentido, uma “curadoria educativa tem como objetivo: explorar a potência da ár-te como veículo de ação cultural […] constituindo-se como uma proposta de dinamização de experiências estéticas junto ao objeto artístico exposto perante um público diversificado”. Aqui compreende-se essa concepção de Vergara d fórma expandida, entendendo quê, no universo do ensino de ár-te, o curador educativo é uma dimensão do ofício do educador quê escolhe um conjunto de obras, objetos ou imagens a fim de criar conversas para e com os seus estudantes, tendo uma intenção pedagógica: a de nutrir esteticamente, de incentivar o estabelecimento de relações, de chamar a atenção para determinados elemêntos e conceitos.
Nesse sentido, os estudantes do Ensino Médio também podem experimentar o fazer curatorial. Assim, a curadoria educativa é uma proposta, uma situação de aprendizagem tanto para o educador quanto para o estudante, na experiência de selecionar, analisar, relacionar e “cuidar”, criando conexões e diálogos entre produções artísticas, ideias, poéticas, tempos etc.
Curadoria digital
Na atualidade, discute-se a pertinência da curadoria digital como o conjunto de ações e procedimentos quê envolvem criar, ou localizar, armazenar e gerenciar dados digitais, garantindo sua veracidade, sua preservação e seu compartilhamento dentro das regras democráticas e do estado de direito. Os estudantes podem sêr incentivados a criar um banco de dados com base no quê pesquisam e produzem, bem como a ter o cuidado de selecionar conteúdos no ciberespaço quê sêjam positivos para sua formação enquanto cidadãos.
Os professores de ár-te, seus pares e coordenadores, como curadores digitais, podem verificar sáites, rêdes sociais e sugerir curadorias fazendo pesquisas e oferecendo listas para auxiliar os estudantes no acesso seguro e no uso consciente das rêdes sociais, das informações e dos recursos digitais. Nessa situação de aprendizagem, eles podem aprender a identificar o quê é falso e o quê é verdadeiro, checar fontes e monitorar informações. Listas de museus virtuais, sáites oficiais de artistas, grupos, pontos de cultura, associações, coletivos artísticos e outros podem fazer parte de curadorias digitais.
Essas listas pódem se constituir em um patrimônio da escola. Sendo atualizado por outros estudantes de turmas futuras, esse patrimônio pode contar histoórias e valorizar conteúdos digitais de relevância, arquivos quê podem sêr incorporados ao acervo da biblioteca digital da instituição escolar.
Ser professor, professora de ár-te
Quando pensamos em ações educativas, quê são exercidas por professores e professoras de ár-te, percebemos quê elas estão ligadas a diversas dimensões da formação inicial e continuada e da vida pedagógica, e quê, a cada atitude pedagógica, a cada situação de aprendizagem proposta, são exigidas dêêsses profissionais competências e habilidades para quê possam desempenhar papéis como professores pesquisadores e criadores, propositores, curadores, mediadores e dinamizadores culturais, entre outros. Assim, reconhecendo a importânssia do trabalho dos professores de ár-te, propomos analisar como cada uma dessas dimensões póde sêr desenvolvida pêlos professores de ár-te, trazendo conceitos e sugerindo caminhos para ezercêr a vida docente.
Professores pesquisadores e criadores
Ser pesquisador(a) é tão importante quanto sêr criador(a) para ezercêr a profissão de professor(a) de ár-te. Não se trata de sêr artista, no sentido de ocupar espaço no mercado de ár-te, mas de fazer experimentações de linguagens poéticas e de processos criativos mesmo com os estudantes. Pensando no professor pesquisador criador, trazemos as ideias de Rita Irwin Nota 21, quê apresenta argumentações e proposições sobre a importânssia de os professores quê atuam no ensino de ár-te assumirem a condição integrada, mista, na “fronteira” entre vivências artísticas, experiências investigativas e ações educativas. Irwin apresenta o termo “A/r/tografia”, quê envolve o “artista criador” (“A”, de artist), o “pesquisador” (“r”, de researcher) e o “professor” (“t”, de teacher), para falar dessas três dimensões da docência, quê não se excluem, uma vez quê se trata de propor uma vivência híbrida possível.
Professores pesquisadores também estão sempre acompanhando os debates e as transformações na ár-te, na cultura, na ssossiedade. Ao pensarmos no ensino de ár-te na atualidade, precisamos ativar o olhar decolonial, quê se distancía do eurocentrismo, marcante nas narrativas da História da ár-te Ocidental; valorizar as culturas africanas, afrodescendentes e dos povos originários e combater qualquer tipo de estereótipo e racismo. Mas isso exige pesquisa, desconstrução e reconstrução de ideias e saberes. O artista Gustavo Caboco afirma quê durante muito tempo vivemos em um tipo de “Coma
Página trezentos e trinta e oito
Colonial” quê, de certa forma, moldou o conhecimento divulgado como historicamente “legítimo” na História da ár-te, nos acervos e nas narrativas curatoriais presentes em museus e livros quê podem ter contribuído para nossa formação docente e, hoje, são quêstionados por terem provocado apagamentos históricos de pessoas, povos e suas produções, já quê “[…] somos expostos a tantos estímulos que nóssos olhos sintonizam com êste parasita, de modo quê ele permanéce invisível: seja no texto ou nas entrelinhas” Nota 22. Virar a chave da colonialidade para o pensamento decolonial é uma quêstão urgente, mas um processo que exigirá pesquisa, empatia e sentimento de pertencimento para romper definitivamente com a abordagem eurocêntrica dos estudos das linguagens artísticas e suas histoórias, evitando a armadilha de uma história única e valorizando a diversidade.
Professores são criadores e pesquisadores de planos de aulas e percursos didáticos. Mas, muitas vezes, mergulhados em tarefas cotidianas e pedagógicas quê exigem tempo e energia, não conseguem reservar espaço para ezercêr seu ato criador e poético nas linguagens artísticas. No entanto, é importante quê o professor também se veja como um criador e sêr de linguagem e poética. A experiência do exercício da poética, do ato criador, póde ajudar a compreender estas kestões:
• O quê sabemos do ato criador?
• Como o conceito de criatividade foi construído na escola?
• Que ideias são trazidas pêlos estudantes e professores de ár-te?
• Na escola, como o ato criador se faz?
A artista e pesquisadora Fayga Ostrower comenta quê:
Criar é, basicamente, formár. É pôdêr dar uma forma a algo novo. Em qualquer quê seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas coerências quê se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar […] Nota 23
Nesse sentido, é válido quê os professores investiguem suas potencialidades criativas, bem como seus processos e procedimentos na criação artística, e quê se envolvam com os processos criativos e poéticos propostos aos estudantes.
Ato pesquisador e criador, pensamento computacional e cultura digital
O pensamento computacional vai muito além do universo das tecnologias dos computadores e da Era Digital. pôdêmos explorar o pensamento computacional para resolver qualquer situação-problema, desde situações cotidianas a compléksos cálculos matemáticos, para criar mais na área das tecnologias e artes digitais. Nesta coleção de ár-te, propomos aos professores situações de aprendizagem para estimular o pensamento computacional nos momentos de rodas de conversações, apresentando oportunidades para leituras e análises de obras artísticas em quê os estudantes são incentivados a desenvolver o pensamento crítico, interpretativo, analisando cada parte e depois o todo de uma imagem, por exemplo. Também podem fazer conexões entre ár-te, vida e outros saberes em uma abordagem interdisciplinar, analisando padrões, mudanças e permanências, contextos e inter-relações, e aprendendo a escolher focos de estudos.
Uma vez quê o pensamento computacional é realizado por pessoas e não por máquinas, o indivíduo, no caso, os estudantes precisam sêr provocados. Assim, no ato de Pesquisar+ para analisar os dados levantados, formular hipóteses sobre uma situação-problema, buscar soluções para resolvê-la, seja para compreender um contexto da História da ár-te, uma produção de um artista, para estabelecer Conexões com... diversos saberes ou para resolver os problemas quê surgem no ato criador, ao escolher materialidades, poéticas e outros processos próprios do fazer artístico. O pensamento computacional ajuda o estudante a identificar o problema complékso, dividindo-o em partes, ou seja, “decompondo-o” em etapas ou em partes menóres para ficar mais fácil de compreender e gerenciar o processo de investigação, análise, resolução e Criação. Desse modo, os estudantes podem seguir resolvendo cada parte do problema, se aprofundando e percebendo os padrões, ou seja, o quê já póde sêr resolvido, testado e, se funcionar, usado como base para as próximas etapas. Nesse sentido, os estudantes também aprendem a ter maior foco, a concentrar energia no quê é importante, no exercício da abstração. Ao criar um passo a passo eficaz para a solução de problemas, os estudantes descobrem processos criativos e poéticas pessoais.
O Pensamento Computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da
Página trezentos e trinta e nove
Computação, nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas, de maneira individual ou colaborativa, através de passos claros, de tal forma quê uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. Nota 24
Nesse sentido, é importante desenvolver o pensamento computacional em todas as etapas da Educação Básica, esteja ele atrelado ao mundo e à cultura digital ou não.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• COMPUTACIONAL. [S. l.], 2024. sáiti. Disponível em: https://livro.pw/ktwdk. Acesso em: 16 out. 2024.
O sáiti traz informações sobre leis, resoluções e textos expositivos relacionados à computação na Educação Básica.
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Pesquisar, criar e conectar
As pesquisas são importantes para conhecer, criar e estabelecer conexão entre conhecimentos, contextos, ideias, acontecimentos, percepções. Na coleção, trazemos situações de aprendizagens para Pesquisar+ quê abrem possibilidades para trabalhar com o pensamento computacional. É possível contextualizar quê a palavra “algoritmo” atualmente está muito relacionada à ciência da computação por sêr o princípio da programação; no entanto esse conceito é bastante antigo e remete a matemático gregos, pérças, russos e outros quê desenvolveram formas de pensar de maneira lógica para a resolução de problemas. As seções Conexões com… e Criação podem integrar o pensamento computacional à prática artística dos estudantes, propondo passo a passo e procedimentos quê propõem incentivar o desenvolvimento dos processos criativos, poéticos, autorais e inovadores, no uso de tecnologias digitais ou não.
São experiências enriquecedoras para o ensino da ár-te e para a formação dos estudantes como um todo, uma vez quê o pensamento computacional combina pesquisa, reflekção, criação, intuição, poética e lógica, dimensões do viver contemporâneo quê contribuem para desenvolver muitas competências e habilidades quê são fundamentais em mundo mergulhado em rêdes e entrelaçamentos digitais.
Abordagem Triangular do ensino de ár-te
Na direção do Museu de ár-te Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), no fim da década de 1980, a professora Ana Mae Barbosa (1936-) desenvolvê-u, com base em suas pesquisas e ações educativas, a chamada Abordagem Triangular do ensino de ár-te Nota 25. Ainda hoje, essa proposta sobre o ensino de ár-te é a base da maioria dos programas de educação de; ár-te no Brasil, seja em escolas, seja em museus. A proposta consiste em uma proposição pedagógica quê aborda três eixos para a construção de saberes artísticos. Esses eixos não apresentam uma ordem preestabelecida. É o educador, diante de seu projeto, quê propõe os momentos de apreciar/ler, fazer e contextualizar.
Ao apreciar a; ár-te, o enfoque dá peso, segundo a própria Ana Mae Barbosa Nota 26, à leitura conforme a concepção de Paulo Freire Nota 27 (1982), no sentido de quê, antes de ler a palavra e os signos de uma imagem ou de perceber sôns, gestos ou movimentos em obras de; ár-te, a criança lê o mundo. Para esses momentos, o docente precisa preparar diálogos provocadores, criando ambientes de mediação cultural. Em diálogo com essa proposta, a coleção apresenta várias imagens e faixas de áudio como oportunidades para apreciar a; ár-te. Como já mencionado, são momentos de nutrição estética quê propõem alimentar o olhar, o escutar, o sentir com o corpo e outras percepções da ár-te enquanto produto do sensível e do intelectual, da intuição e da racionalidade humana. São possibilidades de leitura de obras quê se fundem às leituras de mundo dos estudantes para estabelecer relações entre ár-te e vida, construções de interpretações de um mundo culturalmente vivido, aspectos já trazidos nestas Orientações para o professor quando falamos sobre experiência estética e ativação cultural.
O fazer artístico apresenta oportunidades para instituir espaços de produção criativa nas linguagens artísticas. São bem-vindas as iniciativas experimentais, a pesquisa e a criação de projetos de; ár-te em quê os estudantes sêjam protagonistas de suas produções. Também são favoráveis as pesquisas de materialidades, de procedimentos, de ferramentas e de elemêntos de linguagem quê constroem a; ár-te. É preciso preparar ambientes educadores, como ateliês e oficinas, em quê se garanta o tempo e o lugar para a criação artística dos estudantes.
Ao contextualizar a produção artística, o ensino de ár-te deve ir além da apresentação de fatos históricos. Deve ampliar o âmbito informativo e levar os estudantes a perceber a história da obra de; ár-te como produção social, quê abarca dimensões do conhecimento histórico-cultural, além de proporcionar relações entre as produções artísticas e a leitura de mundo. Contextualizar é também permitir a interdisciplinaridade;
Página trezentos e quarenta
é conhecer a história e possibilitar quê o passado se conecte com o presente e liberte o pensamento para o futuro. A Abordagem Triangular, tendo por foco o eixo contextualizar, visa desenvolver nos estudantes a competência de analisar criticamente a obra de; ár-te Nota 28. Esse eixo tem como base procedimentos de descrição e análise para interpretação, avaliação, investigação de significados e discussão de assuntos de estética da obra, ampliando o repertório cultural dos estudantes e os provocando a refletir sobre o contexto cultural e artístico no qual uma produção artística está inserida e as relações quê esta póde ter com as suas realidades e viver cultural. Ana Mae Barbosa mostra quê a; ár-te está, antes de tudo, presente na vida dos estudantes, e ter contato com ela na escola póde desenvolver conceitos de cidadania e de identidades culturais. Pensar de modo contextualizado possibilita o desenvolvimento da crítica e da reflekção.
Quando o Livro do estudante apresenta as imagens, os textos poéticos, as faixas de áudio e os objetos educacionais digitais, propomos trabalhar com o eixo metodológico e conceitual ler, quê também póde sêr trabalhado com as kestões mediadoras nos bókses Giro de ideias, Ativação e Expedição cultural. Quando trazemos as propostas nas oficinas em Criação, oportunizamos o trabalho com o fazer artístico. Já as kestões para quê os estudantes respondam, com foco na ampliação pelo Pesquisar+, ou para gerar discussões nas rodas de conversões, também nos Giros de ideias e nas seções Entre histoórias e Conexões com…, são oportunidades de trabalhar com a contextualização. Desse modo, na abordagem de um capítulo, por exemplo, é possível passar por todos esses eixos, explorando cada um ou integrando-os em diferentes situações de aprendizagem e passagens da coleção.
Territórios de; ár-te e cultura
A proposição dos “territórios de; ár-te e cultura” engloba ideias disseminadas, desde 2003, pelas educadoras míri-ã Celeste Martins, Maria Guerra e Gisa Picosque Nota 29 e está presente em propostas curriculares de ár-te em rêdes públicas e privadas do Brasil. Os territórios de; ár-te e cultura são marcados pela ideia de currículo-mapa, em quê o professor traça percursos, escolhe caminhos e é autor do próprio trabalho; um professor propositor quê cria trajetos percorrendo campos conceituais, como processo de criação, linguagens artísticas, forma e conteúdo, mediação cultural, materialidade, Patrimônio Cultural, saberes estéticos e culturais, conexões interdisciplinares, entre outros. São campos conceituais quê nos ajudam a pensar o ensino de ár-te de modo ampliado e inter-relacionado. A proposição de pensar o ensino de ár-te por campos conceituais amplia visões e percepções sobre como conhecer a; ár-te por diversas vias. É possível quê um campo conceitual se entrelace com outro; porém, olhar mais de perto um conhecimento ajuda a dar mais objetivo aos percursos didáticos e a facilitar o processo de ensino e aprendizagem de ár-te.
Na coleção, a proposta foi trazer vários campos conceituais, quê são apresentados nos territórios de; ár-te e cultura, e a contribuição da Abordagem Triangular do ensino de ár-te em seu desenvolvimento metodológico e conceitual, convidando o professor a sêr um inventor de novas proposições, uma vez quê a proposta dessas tendências de ensino e aprendizagem em ár-te não é fechada. O educador póde sempre sugerir mais vias de investigação do ensino de ár-te e encontrar novos territórios, campos conceituais, objetivos e proposições.
A proposição dos territórios de; ár-te e cultura, desenvolvida por Martins, Guerra e Picosque Nota 30, apresenta a ideia de quê educadores e educandos, ao realizarem percursos educativos no ensino e no estudo de ár-te, fazem conexões, relacionam-nas e ampliam saberes, transitando por territórios, aqui identificados como campos e conceitos. Estes permitem trajetos não limitantes e estão à disposição de professores pesquisadores para quê se aventurarem por conhecimentos teóricos e práticos, com o intuito de criar pensamentos e atitudes pedagógicas moventes. O pensamento rizomático recebeu a influência de concepções teóricas dos filósofos Deleuze e Guattari Nota 31.
“Rizoma” é um termo utilizado em Biologia para nomear estruturas vegetais com aspecto de raiz quê não apresentam bulbo central e quê crescem na direção em quê buscam nutrientes. Os rizomas dêsênvólvem raízes e caules em seus nós, quê se abrem em múltiplas bifurcações, ganhando o aspecto de rê-de (exemplo: o gengibre), armazenam energia e, em alguns casos, crescem em situações adversas. Essa “imagem” inspirou os filósofos citados a refletir sobre a ideia de quê o pensamento também poderia se desenvolver dessa forma, ao fazer e criar outras ideias quê vão além da inicial e da ordem preestabelecida – um pensamento em constante estado de invenção. Nessa perspectiva, o pensamento rizomático, propôsto por Deleuze e Guattari, é uma metáfora sobre pensamentos moventes, construídos em rêdes, em linhas de fuga, cuja essência não é a unidade ou a sequencialidade, mas a multiplicidade e a complexidade, a expansão de ideias quê se proliferam por campos conceituais.
Página trezentos e quarenta e um
Como uma estrutura de pensamento quê busca crescer por caminhos nutridos pela inteligência, por encontros, pela afetividade e pêlos desejos do sêr humano, pensar d fórma rizomática é fazer conexões entre pensamentos e saberes; é conviver com as incertezas e aventurar-se e espalhar-se por territórios na busca por nutrientes, construindo e ampliando saberes e conhecimentos. Não se trata de explicar a; ár-te ou apresentar certezas, mas de abrir espaços para conversar, trocar ideias e experiências, buscando múltiplas fontes de estudos e pesquisas quê nutram o pensamento. Pela via dos territórios de; ár-te e cultura, “campos conceituais”, podemos vislumbrar situações de aprendizagem quê exploram diversos conceitos quê visam potencializar a experiência com a; ár-te. Trabalhar com essa proposição implica percorrer vias do pensamento rizomático quê ampliam as possibilidades de criar projetos em ensino de ár-te segundo visões e percepções de como conhecer a; ár-te por formas diversas, como uma rê-de infinita; portanto, não se fecham, professores pesquisadores podem trazer outros, de modo a constituir novos campos e percursos.
Entre os campos conceituais trabalhados na coleção, estão os citados em Territórios de ár-te e Cultura, quê são trabalhados de modo transversal em todos os capítulos, e outros campos conceituais abordados d fórma mais aprofundada a cada capítulo, sêndo quê os focos foram: decolonialidade, corpo e ancestralidade (Capítulo 1); poéticas e culturas das juventudes (Capítulo 2); criatividade e processo de criação (Capítulo 3); ár-te, tecnologias, rêdes e entrelaçamentos digitais (Capítulo 4); patrimônios e bagagem culturais (Capítulo 5); afetos, formas e conteúdos da ár-te (Capítulo 6).
Cartografias pedagógicas e currículos-mapas
A cartografia pedagógica enquanto recurso didático para pensar e criar percursos é um processo de conhecimento de si e do outro. Por meio dela, podemos traçar ideias e caminhos para trilhar com os estudantes pelo universo da ár-te, transitando por campos conceituais, Temas Contemporâneos Transversais e linguagens artísticas. Você já pensou em quantas palavras conhece do universo da ár-te e da cultura? Pois bem, aventure-se a criar uma cartografia trazendo algumas dessas palavras e escrevendo-as sobre uma grande fô-lha de papel. Você póde usar vários riscadores em cores variadas para escrevê-las. Depois, olhando para essas palavras, quê conexões você póde estabelecer com elas? Traçando linhas coloridas, você póde fazer ligações entre essas palavras. Ao lado de cada uma, póde escrever conceitos e mais conexões quê essas primeiras palavras levaram você a pensar e póde, também, colar imagens, fazer dêzê-nhôs ou criar, escrevendo trechos de textos poéticos (poemas, lêtras de canções, entre outros). Após esse primeiro exercício de criação, analise esse conjunto de palavras e linhas como se fosse um mapa pelo qual você gostaria de iniciar uma jornada. Verifique quais estações poderiam sêr as paradas para fruir, pesquisar mais, criar algo e, depois, procure saber por onde seguir e finalizar sua trajetória. Ao fazer esse exercício, os professores podem experienciar o ato de cartografar campos conceituais, competências e habilidades, criando currículos-mapas e percursos didáticos na ár-te.
A proposta aqui descrita é apenas uma sugestão. Os professores podem explorar diferentes linguagens e materialidades, como criar ensaios fotográficos, produções visuais e verbais com dêzê-nhôs, pinturas, colagens, bordados e palavras, recursos digitais etc. Quando se transforma em ação, uma cartografia póde sêr sempre consultada e até transformada enquanto é realizada. Ela póde também sêr uma espécie de bússola, um ponto de partida ou se constituir em projetos de vida.
Não há limites na criação de cartografias pedagógicas, assim como na ação docente do ensino de ár-te. Cada professor terá o seu modo singular de projetar e percorrer a sua experiência cartográfica e os mapas.
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Cartografias culturais e mapas criativos
As cartografias também se constituem em uma situação de aprendizagem ao propor aos estudantes quê criem cartografias culturais sobre o quê acontece na sua localidade no campo da ár-te e Cultura ou sobre seus processos de criação, tendo por foco suas ancestralidades, identidades culturais e outros temas, criando mapas criativos com escritas poéticas, dêzê-nhôs, colagens, pinturas e usando recursos de; ár-te digital. Na coleção, trazemos exercícios com proposta de criar cartografias culturais e registros com mapeamentos de caminhos criativos no diário de artista, mas o professor póde usar essa metodologia em diferentes momentos e contextos.
Professores propositores
A artista Lígia Clark (1920-1988) apresentou a ideia de “artista propositor” ao dizêr quê a obra de; ár-te como pura contemplação já não tinha sentido diante da ár-te conceitual, das muitas possibilidades de viver a; ár-te com o corpo. Assim, para essa artista a proposição acontece em diálogos, convites para quê o público ative ár-te por meio de sua ação. Proposições quê causaram estranhamento na época, mas também inauguraram muitas discussões sobre o papel da ár-te a partir da segunda mêtáde do século XX.
Sua preocupação era apresentar um convite ao processo de criação, quê não seria mais de responsabilidade do artista – o público precisava participar da produção da obra de; ár-te. Negada a separação entre
Página trezentos e quarenta e dois
obra e público, a; ár-te passou a sêr vista não mais como algo dado, pronto à contemplação em único percurso e criado apenas pelo artista, mas como um convite à construção criativa de vários percursos poéticos e estéticos indicados pelo artista e pelo público.
Essa proposição feita por Lígia Clark é sempre lembrada por sêr um exemplo vivo de como podemos pensar em ação propositora. Outros artistas contemporâneos a ela também fizeram esses convites à proposição. No Brasil, participantes do movimento neoconcreto, como Lígia Pape (1927-2004) e Hélio Oiticica (1937-1980), entre outros, se pronunciavam como artistas propositores, lançando trabalhos exploratórios entre ár-te, experiência e aprendizado. Essas ideias de; ár-te propositora/participativa aconteceram em várias linguagens. No teatro, por exemplo, o dramaturgo, teórico e educador Augusto Boal (1931-2009) escreveu sobre sua prática no teatro e costumava dizêr quê “somos todos espect-atores”. Esses artistas trousserão proposições artísticas provocadoras do pensar, argumentar e agir sobre temas sociais, políticos, psicológicos, entre outros.
A ár-te propositora apresenta-se como pedagogia estético-crítica e póde contribuir para um despertar engajado dos participantes das propostas. A valorização dos processos, a abertura para o acaso e as práticas colaborativas são algumas de suas características. Para nós, professores, entrar em contato com a produção dêêsses criadores contemporâneos nos traz uma chance de olhar sôbi outro prisma para a; ár-te e a educação, além de enriquecer a nossa própria prática. Muitas dessas produções são ótimas para os estudantes trabalharem com o conceito de; ár-te híbrida (artes integradas, no documento da BNCC) e com os Temas Contemporâneos Transversais.
Na virada do século XXI, a ideia de artistas propositores se aproxima da proposta de professores propositores, como aqueles quê propõem experiências mais ativas, envolventes e significativas para os estudantes. O conceito de proposição pedagógica para o ensino de ár-te, do qual estamos tratando aqui, está ligado ao desafio de buscar uma poética pessoal, um modo singular de aprender e ensinar ár-te, o quê representa, de modo significativo, quê sêr professor(a) propositor(a) é valorizar seus conhecimentos, aproveitar os recursos disponíveis, construir os processos de aprendizagens em trabalho colaborativo com os estudantes. A aula não é “dada”, mas “vivenciada”.
Trata-se de educadores quê, mesmo tendo como referência um material didático, refletem sobre as kestões e realizam ações quê resultam em escôlhas autônomas e pensadas para compartilhar com seus grupos de aprendizes de ár-te. Desse modo, sêr professor(a) propositor(a), implica abrir espaço para a voz do outro, escolher caminhos nos quais os estudantes possam estar presentes d fórma ativa, como protagonistas de seu processo de construção de saberes e ampliação de repertórios culturais.
Um professor propositor, uma professora propositora é também “pesquisador”, “pesquisadora”, porque tem sede de saberes, é sensível e busca na diversidade cultural e artística os percursos didáticos em ár-te. Não é ter ânsia de explicar e de concluir; mas saber perguntar, provocar pensamentos e conexões. Dúvidas e formulação de hipóteses fazem parte dêêsse processo. Ser professor propositor inclui ouvir e quêrer saber o quê o outro pensa, sente e intui. Acreditamos quê professores propositores podem provocar experiências educativas e significativas que afetem e transformem os estudantes.
Nessa concepção, a ideia quê foi proposta pêlos artistas propositores, de apresentar percursos poéticos e estéticos, é ampliada para o ensino de ár-te, em quê os professores e as professoras podem criar e propor percursos poéticos, estéticos, artísticos e didáticos no ensinar e aprender ár-te.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• LYGIA CLARK. [S. l.], c2021. sáiti. Disponível em: https://livro.pw/xkgrq. Acesso em: 14 out. 2024. Lígia Clark é uma das artistas brasileiras do século XX. Criativa, ela explorou materialidades, processos e proposições. Participou de movimentos de vanguarda, como o Movimento Neoconcreto, quê surgiu em 1959, no Rio de Janeiro, tendo a colaboração de diversos artistas propositores.
• MILLIET, Maria Alice. Lígia Clark: obra-trajeto. São Paulo: Edusp, 1992. Nesse livro, a autora investiga a carreira artística de Lígia Clark, uma das principais personalidades do movimento neoconcreto no Brasil.
Professor mediador e dinamizador cultural
Um dos campos conceituais potentes no ensino de ár-te é a mediação cultural, quê propõe estudos e diálogos entre os universos da ár-te, do mediador e do fruidor. A consciência sobre o potencial da mediação cultural leva o educador(a) a se preocupar em como apresentar as produções artísticas para os adolescentes e jovens e a investigar como a; ár-te afeta as pessoas, incentivando-o a sêr um mediador entre a; ár-te e o público (no caso, seus estudantes).
As obras fazem parte das aulas de ár-te e mostram aos estudantes como diferentes artistas, em épocas distintas, fazem escôlhas de linguagens, elemêntos estruturais, materialidades e temas como parte do processo de criação de cada um. Na escola, é possível viver situações de aprendizagem significativas no encontro com a; ár-te, mas é preciso pensar e preparar esses
Página trezentos e quarenta e três
encontros, para proporcionar experiências quê incentivem os estudantes. O professor mediador sabe da importânssia da escuta sensível e póde organizar rodas de conversações indo além dos formatos tradicionais da sala de aula, procurando espaços e ambiências na escola nestes momentos. A apreciação de uma imagem, por exemplo, póde sêr feita usando recursos de projeções em uma parede no pátio ou sala escurecida; a forma de apresentar esse material visual, audiovisual ou sonoro póde vir acompanhado de narrativas, pautas de perguntas provocadoras e mediadoras. Na coleção, em vários momentos trazemos kestões para ações mediadoras, principalmente no boxe Giro de ideias. Ao apresentar uma obra de; ár-te ou mais, d fórma integrada ou trabalhando com linguagens multimodais, é importante preparar os estudantes para o quê vão apreciar, conhecer e perceber, orientando conversas quê vão muito além de meras “explicações” sobre as obras. As propostas de mediação cultural visam criar aproximações, diálogos em quê estudantes do Ensino Médio possam manifestar suas impressões, percepções, emoções, memórias, análises e interpretações.
São muitas as urgências educacionais na escola contemporânea brasileira. Uma delas é a do professor quê, além de sêr propositor, curador e mediador, também póde sêr um dinamizador cultural. O professor dinamizador cultural póde organizar “expedições culturais” e pensar em roteiros de visitação em espaços presenciais e virtuais. As tecnologias oferecem muitas possibilidades de acesso a obras de; ár-te, sáites de artistas, livros e outros materiais, mas é preciso quê o professor tal qual um curador selecione o quê poderá sêr visitado, não por ezercêr “censura”, mas cuidando para quê os estudantes tênham acesso a informações seguras e autênticas e para quê não sêjam expostos a conteúdos quê não são adequados à faixa etária e à proposta de nutrição estética e mediação cultural. Na dinamização cultural, também é importante pesquisar e propor expedições culturais, como eventos culturais e artísticos, com base no quê há na região em quê se vive, valorizando os Patrimônios Materiais e Imateriais.
Estar diante de uma obra de; ár-te póde provocar experiências estéticas, mas as reproduções podem sêr modos de acesso a experiências significativas. Os trabalhos quê os estudantes produzem podem sêr expostos como produtos artísticos, dinamizando também essas criações. A profissão de dinamizador cultural, na atualidade, é valorizada e se constitui como um ramo de trabalho quê póde sêr de interêsse dos estudantes, quê podem buscar saber mais dessa profissão e de outras, como artistas, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, montadores de exposições, curadores, restauradores e tantos outros profissionais quê estão ligados à ár-te e à cultura.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• ECO, Umberto. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2005. O autor apresenta uma construção de hipóteses interpretativas sempre aberta, uma vez quê cada pessoa lê a produção de um artista d fórma singular, com base em seu repertório cultural e estético.
• BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão (org.). Arte/educação como mediação cultural e social. São Paulo: Editora Unésp, 2009. O livro traz análises de ações mediadoras, do papel do professor mediador no ensino de ár-te e da mediação cultural em espaços culturais.
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Expedições culturais
As expedições culturais podem acontecer na visita a museus e galerias, mas também em ateliês de artistas e artesões locais, associações culturais, grupos de teatro, casa de espetáculos, pontos de cultura ou mesmo em apresentações quê acontecem em espaço público (rua, praças etc.). Vale ficar atento ao quê está sêndo oferecido pelas secretarias de cultura local.
Envolver os familiares, propondo a eles quê realizem expedições culturais com os estudantes, também é uma atividade de dinamização cultural. Desse modo, valoriza-se o convívio e a vida cultural em família e com os amigos para além da escola. O professor póde criar um roteiro com sugestões de visitação a espaços e eventos.
Propor pautas de apreciação (sempre abertas) póde chamar a atenção dos estudantes para temas e conceitos quê estão sêndo estudados. Por exemplo, solicitar aos estudantes quê prestem atenção nas materialidades, nos procedimentos artísticos, nas discussões, nos temas/assuntos, nos elemêntos de linguagem, nos contextos e nas matrizes culturais, entre outros aspectos, quê possam estar sêndo estudados no momento da visitação (presencial ou virtual).
É importante também conversar com eles a fim de valorizar suas escôlhas em relação à apreciação/visitação/audiência de produções nas diferentes linguagens artísticas. Se não for possível ir até o espaço em quê os artistas se apresentam, uma possibilidade interessante é criar eventos na escola – como cineclubes, festivais de teatro, de dança, de música, de cinema, exposições de artes visuais, instalações artísticas, saraus, entre outras possibilidades – e convidar os artistas locais a participar de conversas com os estudantes.
A situação de aprendizagem expedições culturais póde potencializar as ações para dinamizar o conhecimento em ár-te, fora ou dentro da escola. O importante é valorizar e divulgar ár-te e cultura no contexto de trabalho docente ampliando saberes e bagagens culturais de professores e estudantes.
Página trezentos e quarenta e quatro
Leis e lutas
Como forma de garantir uma educação democrática, justa e igual para todos, assim como garantir o acesso à escola e a permanência nela, temas como culturas afro-brasileiras e indígenas e formação étnica e cultural tornaram-se objeto de debate no campo das políticas educacionais no Brasil.
A lei número 10.639/03 e a lei número 11.645/08, criadas com o propósito de formár cidadãos conscientes da diversidade cultural e étnica da ssossiedade brasileira, alteraram o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, lei número 9.394/96), tornando obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena.
Lembrando quê as leis nascem sempre de lutas, e quê muitas pessoas se movimentaram para quê alterações fossem feitas, rompendo com a supervalorização de conhecimentos eurocêntricos em ár-te e provocando debates sobre o porquê não se falava das produções de povos e artistas indígenas, africanos, afrodescendentes ou de trabalhos de artistas mulheres e outros segmentos e contextos culturais. Isso gerou debates, pesquisas e argumentos quê resultaram em alterações legais e propostas curriculares embasadas nessas lutas e leis. O quê se defende a partir dessas lutas não é “dar voz” aos artistas quê, durante muito tempo, não fizeram parte das aulas de ár-te, porque eles sempre exerceram seu “lugar de fala”, sua existência e resistência histórica, produzindo em diversos contextos artísticos e culturais. Essa produção esteve distante da escola, mas, na atualidade, faz parte de urgências educacionais, por exemplo, a “educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras” como expresso em um dos Temas Contemporâneos Transversais. Nesse sentido, o professor, pesquisador, criador, curador, propositor, mediador e dinamizador exerce um papel importante na garantia de acesso a uma educação diversa e multicultural, estabelecendo critérios com base nessas urgências educacionais quê visam a uma educação baseada na igualdade e na equidade.
No documento da Base Nacional Comum Curricular, afirma-se quê, embora se reconheça a legitimidade ao respeito e à diversidade cultural de cada localidade do Brasil, na construção dos currículos, é preciso havêer um esfôrço comum de todos os educadores brasileiros e da ssossiedade em sua totalidade para garantir nos currículos escolares de todo o país o compromisso de reverter a situação de exclusão histórica e buscar a construção de uma escola democrática e aberta à pluralidade e à diversidade, esforçando-se para seguir em uma cultura de paz. O documento, ao tratar da equidade, expressa:
[…] o planejamento do trabalho anual das instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação dessas desigualdades. Para isso, os sistemas e rêdes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, quê pressupõe reconhecer quê as necessidades dos estudantes são diferentes.
De forma particular, um planejamento com foco na equidade também exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica quê marginaliza grupos – como os povos indígenas originários e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes […]. Nota 32
Trata-se de leis e proposições curriculares quê expressam a urgência dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e indígena para quê sêjam trabalhados no contexto de todo o currículo escolar, em especial no âmbito das disciplinas de ár-te (por meio de diferentes linguagens e situações de aprendizagem), Literatura e História do Brasil, como parte do processo de reconhecimento, respeito e apôio na conkista e garantia de direitos para essas populações, bem como na valorização de suas diversas expressões artísticas e sócio-culturais. Percebe-se, assim, como o tema da educação e diversidade cultural torna-se cada vez mais presente no campo educacional, desafiando políticos, gestores escolares e professores a organizar o conhecimento por meio de um currículo quê contemple a história e a cultura afro-brasileira e indígena, a fim de lançar um movimento de superação de uma história calcada na violência, na exclusão e na hegemônica influência da matriz cultural européia, quê ainda predominam em nossas instituições escolares, culturais, organizacionais e econômicas.
Educação decolonial e antirracista
A educação decolonial tem sido apresentada em propostas educacionais relativas ao ensino de ár-te no Brasil, não como negação de acervos internacionais, mas como um olhar ampliado quê valoriza e compreende contextos e saberes múltiplos, no intuito de conhecer e valorizar nossa história, acervos, repertórios, patrimônios artísticos culturais e valores formativos quê problematizem o processo colonial. Prioriza educação antirracista quê traga para a sala de aula produções antes afastadas e silenciadas no exercício de pôdêr de culturas hegemônicas.
Página trezentos e quarenta e cinco
Pensar uma Arte/Educação decolonial não implica deslegitimar os conhecimentos em ár-te na perspectiva européia (diferente de uma perspectiva eurocêntrica); implica, necessariamente, legitimar os saberes em ár-te de matriz latino-americana. Não se trata de um olhar incauto e desconexo quê pensa a; ár-te e os saberes dessa região inseridos na Educação, mas da compreensão desde o lugar de enunciação, América Látína, e, pela consciência política, da potencialização de questionamentos anti-hegemônicos e anti-hierárquicos em favor do pensar/fazer/ser/sentir decolonial [...]. Nota 33
Não é consenso na ár-te dizêr quê todo artista engajado em causas sociais, políticas, raciais, ambientais, artísticas, culturais e outras é um ativista. No entanto, há artistas quê levam esta ideia como poética e intenção em suas produções, autonomeando-se como artistas pertencentes ao movimento de ár-te ativista – também conhecido como Artivismo –, quê pelas linguagens artísticas objetivam provocar o mover de ideias e transformações sociais no engajamento de várias causas.
As lutas quê reverberam em leis, como as já citadas, abriram caminhos, causaram mudanças, se consolidando como acontecimentos importantes, mas muito precisa sêr feito ainda para combater o racismo estrutural no Brasil. Nesse sentido, artistas e educadores têm se posicionado contra as tentativas de apagamento histórico de povos indígenas, quilombolas, negros, mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, defendendo a educação em ár-te decolonial e antirracista.
Nesta coleção, procuramos atender a essa legislação por acreditar em uma educação democrática e alicerçada em nossa rica diversidade cultural. Valorizamos as produções de artistas ativistas apresentando diferentes produções, como de artistas indígenas contemporâneos, negros, mulheres e LGBTQIAPN+. Assim, pensando nos momentos de nutrição estética, preparamos um “acervo” quê póde sêr ampliado diante do projeto da escola, ou do contexto cultural local, e uma seleção cuidadosa de imagens, poemas, músicas, cenas de espetáculos de dança, teatro e linguagens integradas, registros de manifestações e Patrimônios Culturais. Essas são algumas pistas para quê os professores construam projetos em proposições pedagógicas e mediação cultural. No entanto, cada educador tem sua própria história, seu repertório cultural, seu espaço, suas intenções e seus caminhos a trilhar, assim como os estudantes do Ensino Médio quê, mergulhados em suas bagagens culturais, também podem olhar para sua ancestralidade e, com o olhar crítico, analisar os perigos de uma história única.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• GOMES, Nilma Lino; JESUS, Rodrigo Ednilson de. As práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na perspectiva de lei 10.639/2003: desafios para a política educacional e indagações para a pesquisa. Educar em Revista, Curitiba, n. 47, p. 19-33, jan./mar. 2013. Disponível em: https://livro.pw/wvjkk. Acesso em: 14
out. 2024. Esse artigo aborda os dilemas, desafios e limites do processo de implementação do ensino de História da África e das Culturas Afro-Brasileiras nas escolas públicas e privadas.
• ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo da história única. Palestra proferida no TED Talks, 2009. 1 vídeo (19 min). Disponível em: https://livro.pw/dsvcp. Acesso em: 14 out. 2024. Palestra da escritora nigeriana, reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras feministas e ativistas, sobre os perigos da história única e o racismo estrutural no mundo.
Exigências e urgências educativas
A escola é vista como um espaço voltado para o conhecimento. Por esse motivo, atribuímos a ela o papel principal de construção e divulgação do saber. Entretanto, não se trata de um lugar idealizado, à parte da ssossiedade, pois nela também podem sêr produzidos e reproduzidos preconceitos difundidos no cotidiano, nos meios de comunicação de massa e nos ambientes virtuais, dando espaço para a discriminação, quê tem se concretizado por meio de violência ou de intimidação sistemática, como o búlin e o sáiber-búlin.
O sêr humano não nasce violento ou pacífico, mas diante de situações e experiências é possível desenvolver práticas quê lévem para um caminho ou outro. A educação é uma das experiências quê podem contribuir para formár pessoas pacíficas.
Os estudantes do Ensino Médio podem trazer suas percepções de situações de conflitos e, nas rodas de conversações, desenvolver habilidades para resolver os problemas por meio de atitudes e diálogos, sentimento de empatia e análises de complexidades, evitando as generalizações quê possam levar a preconceitos e à não aceitação da diversidade. Nesse sentido, trazemos atividades de leituras de obras, kestões reflexivas, rodas de conversações e práticas artísticas diversas quê são essenciais para quê os estudantes possam tanto estudar, analisar e discutir sobre realidades e problemas
Página trezentos e quarenta e seis
atuáis quanto desenvolver atitudes pacíficas, mediadoras e não violentas, dentro e fora da escola.
Na defesa de uma educação para a paz, é importante apresentar aos estudantes do Ensino Médio temas relacionados a muitas urgências sociais e educativas, compartilhando com eles as situações-problemas e os chamando para a responsabilidade da participação na resolução dos problemas na escola.
A educação e a cultura inclusiva têm sentidos amplos. Sabemos quê, para falar de uma cultura inclusiva, é preciso analisar quê a educação inclusiva é ampla e, assim, abarca as preocupações de como incluir e garantir o direito à educação de pessoas com deficiência (PcD), quê vai muito além de apenas colocá-los em salas de aula. É preciso criar estrutura, condições pedagógicas e acessibilidade ao sistema escolar quê favoreçam o desenvolvimento dos estudantes e o trabalho dos educadores diante de cada situação e singularidade, bem como garantir um ambiente acolhedor, solidário e pacífico em quê todos possam coexistir em sua diversidade de corpos e subjetividades.
A prática da exclusão ocorreu durante séculos, pois considerava-se quê as pessoas com deficiência eram incapazes de estudar e trabalhar. Também não havia estudos detalhados mostrando os aspectos e as necessidades singulares dos estudantes em diferentes situações, já quê todos quê não se encaixavam no padrão presumido eram considerados “incapazes” e, consequentemente, excluídos. Isto gerou preconceitos quê ainda podem sêr percebidos, mas quê pelo diálogo e pela formação crítica podem sêr combatidos.
No ambiente escolar, póde havêer variados tipos de preconceitos e de estereótipos. Um deles é o capacitismo quê subestima as habilidades de PcD, excluindo-os de atividades por considerar quê não são capazes para seu desenvolvimento. O capacitismo alimenta o preconceito em classificar alguns corpos e capacidades como “normais” e akilo quê está fora da “norma” como um problema, um “defeito”. São formas de violências muitas vezes enraizadas, veladas, mas presentes no cotidiano da escola.
A inclusão educacional depende de condições quê proporcionem aos estudantes o seu desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional. Isto implica a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da perspectiva da diversidade humana e a aceitação da diversidade, em todas as suas nuances.
Combate à violência e ao estigma de gênero
As mulheres sempre foram produtoras de; ár-te, com criações em diferentes épocas, linguagens e contextos culturais. Durante muito tempo, contudo, essas produções artísticas não foram divulgadas nem valorizadas. Isso significa quê foram apresentadas na História da ár-te, muitas vezes, à sombra de outras pessoas, fruto de uma ssossiedade patriarcal. Nesta coleção, valorizamos as produções de artistas apresentando diversos exemplos, mas é importante saber das produções locais, trazendo-as para as curadorias educativas. Também é necessário criar momentos com rodas de conversações para debater sobre como meninas estudantes e mulheres constroem suas produções e desafiam preconceitos ocupando espaços quê, tradicionalmente, eram ocupados por figuras masculinas, e sobre como os meninos estudantes veem essa ocupação e se posicionam contra qualquer tipo de preconceito ou estereótipo, combatendo toda forma de perpetuação de estigmas de gênero associado à mulher. Nesse sentido, esta coleção tem compromisso direto com o Objetivo 5 (Igualdade de gênero) Nota 34 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável global. Investigar e estudar não apenas esse objetivo como os demais póde se constituir em proposições interessantes para trazer esse e outros temas relevantes para a sala de aula.
Assim como as mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ também sempre participaram do processo de produção artística, mas a biografia dessas pessoas muitas vezes foi tratada com preconceitos, estigmas e ideias estereotipadas. A violência contra mulher, meninas e pessoas LGBTQIAPN+ é crescente e alarmante. Por essa razão, essa temática precisa fazer parte das rodas de conversações na escola, envolvendo familiares, professores, gestores e estudantes na construção da cultura de paz.
Acreditamos quê a abordagem dos temas relacionados à diversidade de gênero deve sêr realizada sôbi a perspectiva dos direitos humanos. Somente por meio do respeito aos direitos humanos poderemos humanizar as relações entre os indivíduos, o quê significa construir reflekções e conceitos aprofundados. Assim como a educação é um direito de todos os indivíduos, também é direito de todas as pessoas expressar livremente seu afeto, sua sexualidade e sua identidade de gênero, sêndo, dessa forma, respeitadas por isso.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• Lei Brasileira de Inclusão, aprovada em 2015. Disponível em: https://livro.pw/nlwhx. Acesso em: 14 out. 2024. Conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa lei trata de diversos aspectos relacionados à inclusão das pessoas com deficiência.
Página trezentos e quarenta e sete
As diferentes linguagens da ár-te
Somos sêres de linguagem, de estética e poética. Formulamos modos de nos expressar por linguagens diante da vida culturalmente vivida. Nesse sentido, desenvolver competências e habilidades trabalhando com o ensino de ár-te por meio das diferentes linguagens artísticas (artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas) exige pensar também em como elas são formuladas e produzidas em sua materialidade e em seus elemêntos, bem como em discursos, contextos, expressões, poéticas e na interação sócio-cultural.
Nesta coleção, apresentamos as linguagens artísticas para serem trabalhadas em diferentes situações de aprendizagem, pensando em potencializar momentos de ler, fazer e contextualizar com os estudos em campos conceituais.
Avaliação em ár-te
Nesta coleção, sugerimos uma diversidade de propostas e de experimentações. Diante delas, o objetivo é quê os jovens estudantes tênham acesso a diferentes situações de aprendizado quê incentivem a autonomia, a compreensão e a produção significativa nas aulas de ár-te. As propostas lançadas pelo professor podem gerar experiências estéticas e poéticas significativas, tendo como ponto de partida a problematização e a conexão entre conceitos, promovendo a solução de problemas e o estímulo ao intelecto e à criatividade. A ideia é permitir quê os estudantes se aventurem na experimentação e na descoberta de processos criativos, com a experimentação de materialidades e linguagens. O foco da avaliação deve sêr tanto o processo de aprendizagem como o produto – em consonância com propostas contemporâneas em ár-te quê valorizam os processos.
Ao olhar para a experiência, é importante retomar conceitos e debates mobilizados pêlos conteúdos das unidades e dos temas. É o momento oportuno para quê os estudantes falem a respeito do quê aprenderam, do quê acharam do processo, das dificuldades quê encontraram e das possibilidades futuras. A proposta é realizar uma avaliação reflexiva tanto do trabalho individual quanto do coletivo e trabalhá-la de modo construtivo. Debater as angústias e dificuldades quê surgirem no decorrer do percurso com os estudantes é importante para a compreensão dos pensamentos criativos. Nesse sentido, nesta coleção, a avaliação diagnóstica é proposta em vários momentos para valorizar e procurar saber o quê os estudantes já trazem de conhecimento sobre o universo artístico.
Defende-se nesta coleção a avaliação do processo e a avaliação somativa, bem como as compreensões desenvolvidas pêlos estudantes, mas sempre com foco no conhecimento prévio, no conhecimento adquirido e nas experiências significativas vivenciadas. É fundamental propor diferentes situações de aprendizagem aos estudantes; para isso, é necessário analisar qual é o melhor tipo de avaliação em cada momento dos percursos, a fim de somar metodologias de avaliação e, assim, ter uma visão mais ampliada do processo de ensino e aprendizagem.
A avaliação diagnóstica, quê geralmente é realizada no início do processo, tem o intuito de obtêr informações sobre os conhecimentos e as habilidades prévias dos estudantes. Ela poderá sêr feita sempre quê se trabalhar com conceitos quê parecem novos para os estudantes, por meio de um olhar atento, analisando o processo de transformação dos conhecimentos prévios após o contato com novos conhecimentos. Nesses momentos, as rodas de conversações podem sêr organizadas com o objetivo de desenvolver a expressão oral, a escuta de ideias e dúvidas e as formulações de hipóteses conjuntas, visando à resolução de problemas e à busca por novas rótas nos percursos didáticos, traçando mais cartografias pedagógicas quando for necessário.
A avaliação em processo permite acompanhar as angústias, as dificuldades e as conkistas dos estudantes e replanejar rótas, fazendo ajustes para superar as dificuldades e seguir de modo prazeroso e significativo o processo de ensino e aprendizagem. Para isso, o professor precisa estar atento aos movimentos e aos percursos dos estudantes, pois ele é a figura essencial quê os encoraja, os incentiva a buscar a sua própria poética e os meios necessários à sua expressão. Avaliar constitui um exercício de análise do outro, mas também de autoanálise. Da mesma forma, é olhar tanto para a aprendizagem como para os trajetos. Portanto, ao avaliar, não analise apenas o fim e os resultados dos percursos vivídos, mas reflita sobre o quê foi planejado e sobre o seu desenvolvimento.
Compartilhe com os estudantes os critérios de avaliação e as expectativas de aprendizagem e faça combinados para estabelecer metas de estudos e de aprendizagens, estabelecendo envolvimento no aprender a aprender. promôva, então, uma avaliação comparativa entre o quê foi estabelecido e o quê foi alcançado. Caso seja necessário, reformule rótas para repor aprendizagens.
A avaliação formativa busca o diálogo sobre as conkistas de saberes ao longo do percurso. O quê deu cérto? Quais situações de conflitos aconteceram? Quais aprendizagens ocorreram? Assim, debata sempre com os estudantes sobre o quê eles aprenderam e o quê eles gostariam de saber mais. Em alguns momentos do acompanhamento do Livro do estudante, nestas Orientações para o professor, você encontrará lembretes dessas conversas sobre avaliação, a qual poderá sêr adaptada e ampliada conforme os conteúdos abordados em cada situação de aprendizagem.
Página trezentos e quarenta e oito
A avaliação somativa também é importante, porém não póde sêr a única, porque em ár-te os processos são fundamentais. Além de provas com foco apenas na História da ár-te, é importante quê os estudantes desenvolvam competências e habilidades argumentativas fazendo conexões entre ár-te e ssossiedade, entre ár-te e temas quê estão na agenda da vida cotidiana, do mundo globalizado, das discussões sobre a diversidade, meio ambiente, combate às violências e outros quê mobilizam a ssossiedade na contemporaneidade. Na seção De olho no enêm e nos vestibulares, há kestões quê possibilitam a preparação para exames de larga escala. Elas podem auxiliar os estudantes a ler e interpretar textos e suas relações intertextuais para responder kestões, exercitar o pensamento contextualizado e em conexão com diferentes áreas e produzir textos argumentativos e críticos quê também são exigências dêêsses exames. Neste sentido, além de avaliações pontuais para mensurar notas, é preciso quê os resultados expressem o processo vivido; e, para quê se possa avaliar os resultados de modo mais efetivo, é preciso criar situações de aprendizagem com rodas de conversação, formulações de exercícios, processos de criação, pesquisas, côlétas sensoriais, mostras, eventos, entre outras, sêndo os registros parte fundamental para análises do processo e dos resultados.
Compreendendo o estudante como protagonista, sêr único e, portanto, quê carrega suas subjetividades, visões de mundo e formas de sêr, existir e aprender, consideramos a avaliação ipsativa um ponto importante. Trata-se de olhar para cada estudante e avaliar como ele avança nas suas conkistas educacionais e supera suas dificuldades, afirmando identidades culturais e fortalecendo sonhos para projetos de vida.
A autoavaliação permite também o autoconhecimento, identificando emoções e identidades, abusos, violências, e, se protegendo, os estudantes podem ezercêr o autocuidado físico e mental, bem como buscar por formas de resolver situações-problemas, conflitos e estados emocionais. No processo artístico nas artes visuais, os estudantes podem ter no diário de artista um aliado para registrar seu processo de aprender a aprender, criar e poetizar pelo mundo das imagens. Pensar sobre seus próprios percursos é um jeito de “aprender a aprender”, de se apropriar dos seus processos criadores e analisar como o mundo das imagens surge e circula.
Artes visuais
Para Santaella e Nöth Nota 35, o mundo das imagens está presente tanto na forma material – produções em desenho, pintura, gravura, fotografia, cinema, vídeo, ár-te digital e outras das linguagens e culturas, visual e audiovisual – como na forma mental, em imagens imaginadas, lembradas, projetadas imaterialmente, presentes em nosso repertório imagético. Dessa forma, esses dois mundos de imagens, material e mental, “não existem” separados, pois estão inexplicavelmente ligados já na respectiva gênese. Não há imagens como representações visuais quê não tênham surgido de imagens na mente daqueles quê as produziram, do mesmo modo quê não há imagens mentais quê não tênham alguma origem no mundo concreto dos objetos visuais. Entre imagens materiais e mentais nascem as artes visuais; compostas por muitas expressões e acervos, mostram como temos pensado e criado imagens em diferentes tempos e contextos, com diferentes recursos e materialidades.
A proposta de trazer estudos relacionando as culturas das juventudes à cultura visual propõe apresentar aos estudantes conceitos e noções, mostrando quê as imagens são constituídas com base em elemêntos específicos da linguagem visual, como ponto, linha, forma, côr, luminosidade e espaço. Mostrando, também, como esses elemêntos articulados podem criar texturas, tonalidades e valores cromáticos, volumes, movimentos e como o espaço e as formas podem se apresentar em relação à bidimensionalidade e à tridimensionalidade, entre outras possibilidades. Os elemêntos constitutivos da linguagem visual em múltiplas combinações abrem infinitas possibilidades para criar imagens e, assim, expressar ideias, emoções e sensações.
Além de compreender as imagens e seus contextos, a proposta é romper com estereótipos em relação a imagens e julgamentos ligados a ideias hegemônicas.
No quê se refere a criação nas artes visuais, os estudantes podem desenvolver competências e habilidades na interpretação e na produção de imagens ao serem apresentados a diversas possibilidades de articulações e combinações entre os elemêntos da linguagem visual, às materialidades, aos diversos processos de criação, além dos discursos e contextos em quê as imagens são criadas.
O universo de criação de imagens tem muitas possibilidades, tanto na fruição como na produção. Além do contato com a cultura visual de modo amplo e com obras artísticas, os estudantes também podem olhar e ler suas próprias produções e as de seus côlégas e desenvolver o senso crítico em relação à produção de imagens em pinturas, dêzê-nhôs, colagens, gravuras, técnicas mistas, fotografias e outras linguagens visuais com base nos processos artísticos contemporâneos. Nas esculturas, a; ár-te dos volumes, conceitos de espaço e d fórma tridimensional são trabalhados, assim como linguagens contemporâneas presentes em
Página trezentos e quarenta e nove
intervenções urbanas, objetos, instalações, grafites e outras tantas formas de expressão artística visual.
Trabalha-se também a percepção de quê vivemos em um mundo de múltiplas possibilidades de criação de imagens, fixas ou em movimento, traçadas com lápis de côr ou criadas por computador. As formas de manifestação do pensamento estético resultam em muitas linguagens, expressões, formas, conteúdos e discursos. É importante quê os estudantes do Ensino Médio explorem a potencialidade de expressão das artes visuais em suas diferentes produções, como a pintura, a escultura, o desenho, a gravura, a instalação artística e intervenções com projeções visuais, a fotografia, a; ár-te digital quê explora os meios virtuais e tecnológicos para criar e veicular imagens, entre outras. A visualidade está em tudo, e o ensino nas artes visuais precisa estabelecer relações com o mundo e com a cultura visual e promover condições para quê ocorram encontros e experiências estéticas e estésicas. Assim como citamos, a história das imagens e as produções artísticas atuáis podem sêr trazidas para os estudantes com base na compreensão dos tempos e das culturas diversas.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• ARAUJO, Gustavo Cunha; OLIVEIRA, Ana Arlinda. Sobre métodos de leitura de imagem no ensino da ár-te contemporânea. Imagens da Educação, Maringá, v. 3, n. 2, p. 70-76, 2013. Disponível em: https://livro.pw/ydepv. Acesso em: 17 out. 2024.
O texto apresenta métodos de leitura de imagem com base em pesquisas de teóricos em arte/educação como Edmund Feldman, róbert Ott, máicou Parsons e Abigail Housen, metodologias pioneiras e bastante divulgadas no Brasil em museus e no ensino da ár-te na escola.
• SARDELICH, Maria Emilia. Leitura de imagens e cultura visual: desenredando conceitos para a prática educativa. Educar em Revista, Curitiba, v. 22, n. 27, p. 203-219, out. 2006. Disponível em: https://livro.pw/btfvd. Acesso em: 14 out. 2024.
O artigo apresenta estudos sobre metodologias de leitura de imagens para as aulas de; ár-te.
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Mostras de artes visuais
Expor os trabalhos dos estudantes póde sêr uma experiência muito enriquecedora. Essa exposição de artes visuais póde, inclusive, fechar um ciclo de aprendizagem e sêr mais um meio de avaliação, se o professor considerar desejável. Entretanto, apresentar os trabalhos dos estudantes requer alguns cuidados: os estudantes precisam sêr valorizados em sua diversidade, incentivados à participação no planejamento da proposta, para quê não gere ansiedade desnecessária, uma vez quê expor a própria criação costuma mobilizar e catalisar emoções até mesmo para artistas bastante experientes. Algumas perguntas podem sêr feitas para ampliar o repertório: quais são os objetivos da mostra? Como valorizar a produção de todos os estudantes quê quêiram participar? De que forma a exposição póde sêr organizada na escola? Como deve sêr esse trabalho de curadoria? Seria interessante envolver também, nesses eventos escolares, a comunidade? Que ambientes virtuais são seguros para fazer mostras dos trabalhos dos estudantes? Quais são os formatos dos eventos diante do quê é produzido por eles, como criar instalações e projeções com as imagens produzidas, entre outras possibilidades? São quêstionamentos que devem sêr compartilhados com os estudantes do Ensino Médio. Aproveite para explorar o pensamento computacional na resolução de como criar formas de apresentar os trabalhos produzidos.
Ateliê fixo ou móvel
Ateliê faz referência a um lugar, ou seja, um espaço com materialidades ou recursos para a criação. Essa ambiência educadora póde se configurar, se moldar às necessidades de quem nele cria, de quem desen vólve um projeto de; ár-te em uma determinada linguagem visual, como um desenho, uma pintura, uma gravura, entre outras; assim, as materialidades ali disponibilizadas podem despertar ideias no ato criador. Nesse sentido, criar ambiências de ateliê é importante mesmo quê não se tenha um espaço fixo. A solução, nesse caso, é criar um ateliê móvel.
Cada linguagem tem suas particularidades, suas materialidades e seus elemêntos visuais, quê podem sêr potencializados em um ateliê. Sugerimos separar algumas materialidades, apresentando-as aos estudantes diante de cada proposta. Há dicas quê sérvem tanto para ateliê fixo como móvel. No caso da organização de um ateliê móvel, sugerimos usar uma mala ou uma caixa com rodas para acondicionar os materiais quê serão usados em cada proposição de trabalho, com uma ou mais linguagens.
Os “materiais secos” podem sêr aproveitados para criar dêzê-nhôs utilizando variados riscadores, como canetas coloridas, lápis preto e de côr, giz de lousa ou de cêra, bastões de carvão etc. Investigar os tipos e formatos de pontas de canetas, por exemplo, é um exercício interessante para descobrir linhas quê possam sêr usadas em dêzê-nhôs e alguns tipos de gravuras. Os processos mistos também são bem-vindos, como fazer rekórtis, colagens, montagens com apropriação de imagens ou composições com objetos. Desenhos quê podem sêr fotografados inspiram a criar utilizando diferentes materialidades e procedimentos. Os suportes também podem sêr investigados. Há artistas quê criam sobre páginas de livros e revistas (descartados), sobre papéis com estampas, sobre fô-lhas de papéis em diferentes formatos, espessuras, texturas e cores. Ainda é
Página trezentos e cinquenta
possível providenciar outros materiais, como tesouras escolares, réguas, compassos e outras ferramentas, se o processo criador solicitar.
Os chamados “materiais úmidos” podem sêr usados para os momentos de criação de pinturas, gravuras, esculturas e modelagens. As tintas são materiais quê podem sêr adquiridos (de forma industrializada) ou produzidos pêlos estudantes. Na produção de tintas, explore as diversas possibilidades de efeitos e características dêêsse material. A aquarela, por exemplo, tem por característica a transparência e póde sêr produzida com duas partes de aglutinante (goma arábica, por exemplo), uma parte de pigmento (naturais ou corantes alimentícios) e solvente (água na quantidade quê julgar quê a tinta fique adequada). A medida das “partes” depende da quantidade quê se deseja produzir.
Outro exemplo é a tinta têmpera, em quê podemos usar a clara de ovo cru como aglutinante, para conseguir uma tinta mais transparente, ou a gema, para obtêr tintas mais opacas. O importante é investigar os efeitos e as possibilidades de cores quê são criadas. Sobre as cores, a produção de tintas também ajuda a desenvolver saberes: com base em uma côr, é possível criar outras cores.
A argila e outros materiais úmidos também são interessantes para propor experiências na criação com formas tridimensionais. A á gua e os materiais para limpeza e diluição de tintas (potes plásticos, panos ou toalhas) também devem sêr providenciados, assim como outros itens necessários, como pincéis (com diferentes formatos e espessuras: redondos, rétos, gróssos, finos, macios, duros etc.), para fazer incisões em matrizes de gravura ou criar linhas e texturas na modelagem de formas tridimensionais. No processo de criar esculturas, a construção também póde sêr uma proposta, utilizando fitas adesivas, colas, barbantes e outros objetos e materiais quê possam sêr reutilizados.
Vale lembrar quê, quando usamos materiais reutilizáveis (potes, garrafas, tampas, embalagens de papel, retalhos de papéis e tecidos), é importante selecioná-los e higienizá-los préviamente, verificando se há riscos de acidentes ou intôksicações. Eles podem sêr armazenados em algum local da escola e usados quando for pêrtinênti, diante das propostas e do planejamento do professor. Ao trabalhar com o conceito de reúso, reciclagem e redução de consumo, podemos trazer os Temas Contemporâneos Transversais Educação para o Consumo, da macroárea Meio Ambiente.
Nas metodologias ativas, como forma de problematizar e incentivar a resolução de problemas, o professor póde trazer materiais diferentes, como produtos orgânicos (folhas e pedaços de madeiras), e propor aos estudantes quê criem com base nesse desafio com materialidades. Outra proposta é criar utilizando recursos digitais e tecnologias (como máquinas fotográficas, telefones celulares, projetores multimídias, programas de computadores para manipulação de imagens e outros) e a cultura maker (com foco no fazer).
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Ambiências criadoras e educadoras
Proposta quê está vinculada às metodologias ativas (resolução de problemas, trabalho de campo, aula invertida, projetos de pesquisa, aprendizagem colaborativa), quando apresenta vivências educacionais em espaço/tempo na escola e fora dela. As ambiências educadoras têm como base a proposta de escola expandida Nota 36 quê considera quê existem muitos ambientes quê podem sêr potencializados para criar e aprender, para além da sala de aula.
Essa proposta prevê quê, na escola, sêjam organizados laboratórios, ateliês, cineclubes, salas ou espaços acolhedores para conversar, ler, apreciar imagens e ouvir músicas. E, fora da escola, quê os estudantes possam frequentar bibliotecas públicas e ambientes de trabalho (indústria, espaços de apresentação, montagem de espetáculos, exposições, ensaios, oficinas, ateliês de artistas, entre outros). Não se trata de fazer visitas como na expedição cultural, mas de estar por um tempo produzindo conhecimento em outros espaços além da escola. O espaço virtual também é propôsto pela ideia de escola expandida, mas com certos cuidados tanto em relação à segurança emocional dos estudantes quanto aos acessos a sáites seguros e confiáveis, adequados às propostas, à idade e à cultura dos jovens estudantes. Essas propostas podem acontecer nos estudos de todas as linguagens.
Leitura de imagens
Ligada também à nutrição estética e à mediação cultural, esta situação de aprendizagem propõe criar roteiros e pautas de perguntas para os momentos de apreciação de obras de; ár-te. As perguntas não devem sêr uma enquete, demandando respostas informativas, mas promover conversações quê enriqueçam o estudo dos temas. Tanto no Livro do estudante quanto nestas Orientações para o professor, indicamos várias kestões mediadoras para as pautas de fruição e reflekção. Alguns teóricos podem nos ajudar a pensar em criar essas pautas, porém elas não devem sêr fechadas ou em sequências rígidas; devem estar comprometidas com a promoção de conversações e formulações de
Página trezentos e cinquenta e um
hipóteses interpretativas e argumentações nos momentos de nutrição estética.
róbert W. Ott Nota 37 estruturou um sistema de leitura de imagens quê influenciou programas de ação educativa em museus e escolas no Brasil, o aimêiji Watching (“observação”, “trabalhando a imagem”), reconhecido por muitos educadores como um modo de desenvolver um olhar pensante e noções sobre a crítica de obras de; ár-te. O autor propôs a exploração de seis momentos. Um deles é introdutório, o qual chamou Thought Watching, quê significa “pensar” ou “assistir a uma imagem” ou, ainda, “provocar sensibilização, aquecimento”. As etapas seguintes trabalham as categorias “descrever”, “analisar”, “interpretar” e “fundamentar” para desenvolver a crítica e o pensamento estético dos estudantes. Na última etapa, eles revelam seus saberes em uma ação criadora ou escrevem textos críticos sobre o quê aprenderam nas etapas anteriores.
pôdêmos pensar, então, no quê leva os estudantes a ativar o pensamento da “descrição” e a fazer “análises” (de elemêntos de linguagem visual, materialidades, processos de criação, linguagens, entre outros), o quê ativa a “interpretação” e os diálogos entre os repertórios culturais deles e o de uma imagem (de uma pintura, cena de teatro, de dança ou outra linguagem) ou de uma música. Nesse momento de “fundamentações”, o professor póde trazer informações e comentários quê ampliem saberes e criar roteiros de pesquisas, sempre orientando os estudantes nas etapas de realização. pôdêmos pensar também em quais ações educativas fazem os estudantes revelar o quê aprenderam ou experienciaram nos momentos de fruição e reflekção com base no estado de estesia ou nas conversações. Lembrando quê não se trata de ter a obra como referência para as produções dos estudantes, uma vez quê o importante no processo de criação é desenvolver poéticas pessoais. As produções artísticas são, como já apresentado anteriormente, nutrição estética e oportunidade para conhecer e fruir ár-te.
Avaliação em artes visuais
Ao pensar na origem da palavra “avaliação”, observamos quê o termo “valere” nasce do latim e é carregado de sentido de “dar, atribuir valor”; acrescido do sufixo “-ção”, expressa quê algo só terá valor diante de uma ação, no fluxo dos acontecimentos. Nesse sentido, a avaliação é “valorar pela ação” e na “ação”. Por isso, não póde sêr is-tática, realizada em um “ponto fixo” dos acontecimentos. Os processos de avaliação, portanto, devem sêr muitos e moventes, precisam tanto de pausas, para sentir o processo e acolher o aprendizado, como do movimento, para reagir às experiências, absorver as consequências do ato vivido, de cada saber aprendido.
O professor como educador assume uma nova postura diante da sala de aula e do conhecimento. Acreditamos quê seja coerente com uma postura democrática a integração de seu papel de mediador do conhecimento e propositor de situações de aprendizagem. Nesses processos de apropriação e produção do conhecimento, professores e estudantes têm grande responsabilidade. Diante dessas mudanças, a avaliação também assume uma função diferenciada e tem como foco tanto a formação dos estudantes quanto a reflekção sobre a prática do próprio professor. Observar, anotar e registrar são ações quê você precisa realizar para compor a gama de materiais a sêr analisada durante cada percurso de aprendizagem.
O foco é a avaliação formativa, em quê professores e estudantes precisam estabelecer diálogos sobre as conkistas de saberes ao longo do trajeto: o quê deu cérto, quê situações de conflitos ocorreram. O conflito póde sêr a semente da criação. Desse modo, conversar com a turma sobre as ansiedades e dificuldades quê surgirem no decorrer do percurso é importante, inclusive para compreender os pensamentos criativos. Ao contrário do quê se pensa, a avaliação não é apenas responsabilidade do educador. Um bom percurso de aprendizagem não deve se esgotar em seu término, e sim deixar aquele “gosto de quêro mais” para que conexões sêjam criadas com outras etapas quê virão. Assim, é imprescindível criar situações de diálogo franco em quê a autoavaliação seja incentivada, como rodas de conversação para debater com os estudantes sobre o quê eles aprenderam, o quê gostariam de conhecer mais ou onde poderiam pesquisar para continuar a aventura de conhecer o universo da ár-te.
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Diário de artista
O diário de artista está presente na coleção e propõe investigações de poéticas, experiências estéticas e processos criativos. A proposta de fazer registros usando diferentes materialidades póde sêr instrumento para a reflekção de percursos de estudos vivídos. Os diários de artista estão presentes na história de produção dos artistas, em especial os de artes visuais. Assim, os exercícios e produções baseados naquelas apresentadas no Livro do estudante, em vários momentos, têm o objetivo de fazer registros sobre conkistas de saberes, sonhos, lugares já visitados, experiências vividas, teóricos estudados, esboços para projetos de trabalhos em artes visuais e demais linguagens, entre outros. O professor também póde ter seu diário de artista como material para explorar cartografias, currículos-mapas, curadorias educativas, registros das falas dos estudantes em suas formulações de hipóteses interpretativas,
Página trezentos e cinquenta e dois
histoórias de sala de aula, entre outros acontecimentos, de modo a ajudá-lo a descobrir os percursos didáticos em ár-te. Existem muitas formas de produzi-los, sêjam eles físicos, digitais ou virtuais, explorando ár-te e tecnologias digitais. Fazer o seu diário de artista póde sêr uma oportunidade para ezercêr a dimensão do professor pesquisador criador. essperimênte uma maneira poética e pessoal de fazer o seu, em diferentes formatos. A proposta é criar um material personalizado e artístico, com formatos a escolher. Abra espaço para a criação de poesias, dêzê-nhôs, colagens de imagens, fotos e pinturas e para a anotação de impressões nas diferentes linguagens.
Teatro
Como todas as linguagens artísticas, o teatro expressa acontecimentos sociais e culturais do seu tempo. Nesta coleção, valorizamos essas abordagens para o Ensino Médio como proposta de educação para o desenvolvimento de pessoas cientes de seu lugar social no mundo e como sujeitos históricos imersos em linguagens artísticas enquanto acontecimentos estéticos, poéticos, políticos e sociais. Na linguagem teatral, é proposta a aprendizagem sobre movimento, corpo, gesto, comunicabilidade, recursos cênicos, jogos teatrais, improvisação com foco em processo de criação e compreensão das várias formas do fazer teatral e como essa linguagem se conecta com outras cênicas e audiovisuais em formulações híbridas, integradas como a dança teatro, o circo teatro, as performances, o cinema, o vídeo, entre outras. Conhecer profundamente essas linguagens é um grande desafio, pois o aprendiz da linguagem teatral precisa se descobrir, desvendar seus limites e as possibilidades de seu corpo como materialidade expressiva.
Ensinar a linguagem teatral é potencializar a expressão e poética corporal, a autonomia do sujeito criador, histórico e social. Conhecer o próprio corpo e entender como ele e os outros se expressam é algo a sêr aprendido, e esse aprendizado póde sêr levado para o contexto da escola.
Para quê a linguagem artística teatral se concretize, é necessária a composição de diversos elemêntos; porém, mesmo abrindo mão de alguns deles, o espetáculo teatral ainda póde sêr realizado. Por sua natureza multifacetada, o teatro póde agregar movimentos dançados, sonoridades e músicas, imagens projetadas e presentes nas cenografias e nas visualidades em figurinos, objetos de cena, iluminação e formas animadas, também póde integrar artes circenses, performances, ár-te digital, intervenções, entre outras estéticas e linguagens contemporâneas. Sua composição compléksa e repleta de nuances estéticas e ideológicas, assim como seus diversificados elemêntos de linguagem, contribui para a existência dessa multiplicidade de elemêntos. Há vários criadores na linguagem teatral: o cenógrafo, o iluminador, o figurinista, o maquiador, o sonoplasta, o dramaturgo, o diretor, o ator, entre outras possibilidades dessa linguagem de múltiplas expressões.
O teatro na escola póde despertar perspectivas para trabalhar com kestões importantes para os estudantes do Ensino Médio, uma vez quê são protagonistas de seu percurso de aprendizagem e podem se descobrir agentes sociais transformadores, influenciando positivamente a comunidade e a escola das quais fazem parte, com intervenções sociais e artísticas. O ensino de teatro na escola vêm se configurando cada vez mais como conteúdo e prática fundamentais na formação dos estudantes de modo amplo. Com ele, contribuímos para o desenvolvimento físico, mental e social, uma vez quê permite e incentiva a integração e a participação mais efetiva dêêsses estudantes d fórma crítica e contextualizada na ssossiedade.
No entanto, precisamos ressaltar a ideia de quê o teatro na escola não tem o intuito de formár artistas, mas o professor ou a professora póde apresentar as relações com o mundo do trabalho e as carreiras quê abarcam esse universo. Tudo vai depender do interêsse e do projeto de vida de cada estudante. Contudo, são fundamentais as contribuições quê a escola póde oferecer para compor esse projeto de vida, de continuidade de estudos e inserção no mercado de trabalho.
A linguagem teatral, como um jôgo, torna-se fundamental no desenvolvimento humano e escolar dos estudantes. A autora e diretora estadunidense Viola Spolin (1906-1994), quê sistematizou uma importante teoria sobre o ensino de teatro na escola, sugere uma gama de jogos teatrais para serem desenvolvidos em sala de aula. Destacamos também o diretor e dramaturgo brasileiro Augusto Boal, quê sistematizou as ideias do “Teatro do Oprimido”, quê é um método de dizêr algo através do teatro para atores e não atores, com exercícios e jogos teatrais quê podem sêr adaptados na escola para os estudantes. Entre as técnicas, estão o Teatro Imagem, o Teatro Jornal, o Teatro Fórum e o Teatro Invisível. São propostas quê trazemos nesta coleção e quê os professores podem ampliar a partir de seus projetos, de suas formações e dos interesses dos estudantes.
A partir da década de 1980, muitas abordagens do ensino de ár-te, e especificamente do teatro, foram se formulando e reformulando. Diferentes metodologias instigam formas de pensar, de vêr e de fazer ár-te. O professor póde privilegiar as metodologias ativas, em quê o estudante participa intensamente das aulas, em diferentes momentos: no planejamento, dizendo o quê quer saber e informando ao professor suas dificuldades; nas aulas práticas, sêndo convidado a participar efetivamente delas; e nos momentos de avaliação e autoavaliação.
Página trezentos e cinquenta e três
A Abordagem Triangular, proposta pela educadora Ana Mae Barbosa e adotada nesta coleção, incentiva pesquisas e práticas educativas em várias linguagens, tanto nas Orientações para o professor quanto no Livro do estudante e nos Objetos Educacionais Digitais. Essa proposta orienta as situações de aprendizagem nos momentos de “apreciação” na nutrição estética de imagens de espetáculos e produções em teatro; para isso, o professor póde chamar atenção para as diferentes formas teatrais e ampliar o repertório artístico e cultural dos estudantes. Pela expedição cultural os estudantes podem sêr incentivados a assistir peças ou cenas de espetáculos (presencial ou virtual), o quê incentivará a formação de público de teatro. Na “contextualização” da produção artística teatral, o professor póde apresentar estilos ou gêneros teatrais, e também relacioná-los aos acontecimentos e contextos históricos, políticos e culturais de variados povos, tempos e lugares, além de estabelecer diálogos com o mundo culturalmente vivido pêlos estudantes. No momento do “fazer” artístico da criação, o objetivo é desenvolver a poética teatral a partir dos interesses e contextos dos estudantes. As novas experiências através da pesquisa e criação teatral podem levá-los a descobrir as materialidades da linguagem teatral: com quais materiais posso fazer teatro? Quais procedimentos adotar na criação da cena? Como posso fazer teatro com o corpo, objetos etc.? Quais histoórias podem sêr mostradas, narradas, adaptadas em dramaturgia teatral? E outras possibilidades.
Muitos exercícios e jogos teatrais nos oferecem oportunidades de exercitar nosso potencial comunicativo e expressivo, e isso interfere diretamente no processo de ensino e aprendizagem. Uma comunicação de qualidade melhora a coletividade e a socialização na escola e nas relações pessoais quê os estudantes vivenciam.
Outros exercícios e jogos teatrais trabalham mais kestões físicas, exercitando as relações “corpo × espaço”; afinal, o espaço cênico nos convida a ocupá-lo. Nesse sentido, algumas kestões podem sêr levantadas: até onde vai meu movimento? Qual nível de fôrça executo em determinado movimento? Meus movimentos ocupam qual espaço? Ao ativar um determinado músculo facial, qual expressão represento? Como posso ampliar meu repertório de gestos e expressões corporais? Dessa forma, a linguagem teatral ativa as diferentes competências exigidas na educação ao propor uma metodologia ativa quê trabalhe o autoconhecimento, o respeito à diversidade humana, sem preconceitos, e a livre expressão, com o intuito de potencializar valores individuais e coletivos.
O teatro também estimula a empatia, o sentimento de pertencimento e a solidariedade. Ao compor e interpretar personagens, mesmo quê d fórma improvisada, estamos nos colocando no lugar do outro, representamos outros “seres personagens”. Porém, precisamos quêstionar o mito da boa representação: o quê é representar bem? Qual é a forma correta de encenar? Existe o bom ator ou a boa atriz? O que podemos dizêr é quê as pessoas representam, encenam, fazem teatro e assistem ao fenômeno teatral na escola. De fato, o teatro só existe se tiver uma pessoa quê faz e outra quê assiste. O entendimento de quê o teatro na escola é para todos ultrapassa a barreira do mito da boa representação.
Devemos notar o quanto é importante conhecer nóssos limites e nossas possibilidades na educação, tanto de quêm aprende como de quem ensina. E o teatro nos auxilia nessa tarefa. O importante é conhecê-los para que os estudantes, gradativamente, construam autonomia na escola e na vida cidadã, e isto é facilitado quando se compreende mais profundamente a teoria e a prática teatral.
A linguagem teatral, inserida e ativada devidamente nos projetos pedagógicos da escola, contribuirá para o autoconhecimento e desenvolvimento de todos os estudantes.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• PRADO, Décio de Almeida. História Concisa do Teatro Brasileiro. São Paulo: Edusp, 2003. Esse livro nos oferece as bases sobre a história do teatro nacional a partir da colonização brasileira, apresentando estudos quê descrevem e analisam a história do teatro no Brasil entre 1570 e 1908.
• JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino de teatro. Campinas: Papirus, 2001. O livro traz diferentes metodologias do ensino de teatro aplicadas na história da educação nacional. A obra aproxima teatro e educação, sugerindo diferentes jogos e exercícios a serem desenvolvidos no âmbito escolar.
• BOAL, Augusto. 200 exercícios e jogos para o ator e o não ator com vontade de dizêr algo através do teatro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. A obra traz inúmeros jogos e exercícios teatrais quê podem sêr praticados na escola, especialmente na abordagem de Temas Contemporâneos Transversais.
• BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. São Paulo: Cosac Naïf, 2015. A obra expande os preceitos quê o autor desenvolvê-u com o Teatro de Arena e compartilha uma série de exercícios para quê qualquer pessoa possa despertar o protagonismo de sua própria vida.
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
Jogos teatrais
Os jogos teatrais são situações de aprendizagem importantes na construção dessa linguagem. Na proposta de Viola Spolin para trabalhar com a linguagem teatral, jogos, improvisação e resolução de problemas estabelecem focos nas ações dramáticas. Spolin propôs
Página trezentos e cinquenta e quatro
exercícios com estruturas dramáticas baseadas em três noções específicas:
• Onde: é o lugar da realização do jôgo teatral; é um espaço definido e propôsto pêlos jogadores, podendo ou não ter objetos de cena; é o ambiente onde ocorre o jôgo ou a cena e o seu entorno; é um espaço marcado pela ação das personagens e pêlos objetos do cenário.
• O quê: refere-se à ação dramática do jôgo teatral ou de uma peça; é a atividade do ator-estudante, quê mostrará o quê ele faz no aqui/agora da cena teatral, dentro de cérto espaço e tempo cênicos; refere-se à ação teatral; é a atividade da personagem em cena.
• Quem: são as personagens quê compõem uma cena ou um jôgo teatral; são os papéis do jôgo teatral quê devemos desenvolver; é a personagem dramática do jôgo.
Esses três conceitos (onde, o quê e quem) compõem o sistema do jôgo teatral propôsto por Spolin Nota 38- Nota 39 e podem contribuir para o ensino de teatro nas escolas. Podem sêr trabalhados em conjunto ou separadamente, dependendo dos objetivos ou das expectativas de aprendizagem estabelecidas. Dessa forma, cria-se a linguagem teatral. A busca pelas respostas às kestões “Onde se passa a cena?”, “O quê farei em cena?”, “Quem é a personagem quê irei representar?” póde sêr o fio condutor de uma criação teatral.
Os princípios de criação e expressão artística na linguagem do teatro estão ligados ao desenvolvimento das noções de jogos teatrais, improvisação e dramatização. Os jogos teatrais possibilitam aos estudantes experimentar e descobrir os signos de seu cotidiano, proporcionando ao aprendiz vivências culturais significativas; a improvisação permite desencadear o processo de criação, imaginação e expressão pessoal ou em grupo; a dramatização é um exercício quê explora tanto a memória como a imaginação (os estudantes aprendem a fazer leituras dramáticas, conhecem as características de um texto de dramaturgia e podem criar histoórias e a mostrar ideias e pensamentos).
Espaços cênicos
Além da sala de aula em formato convencional, podemos criar na escola ambiência criadoras e educadoras quê se transformem em espaços cênicos.
Devemos desfazer a ideia de quê, para se fazer teatro, precisamos de um palco. A escadaria da escola póde se transformar em um espaço cênico, ou seja, um local para se fazer teatro. Há inúmeros grupos de teatro, profissionais ou não, quê se apresentam em ruas, praças ou pátios de escola, criando seu próprio espaço de apresentação.
Ao descobrir várias ambiências para criação na linguagem teatral é importante cuidar da segurança e criar adaptações quê garantam quê as intervenções artísticas na escola sêjam prazerosas e respeitosas com todos quê utilizam esses espaços. Considerando os recursos tecnológicos digitais possíveis, em vez de criar cenários físicos, estes podem sêr potencializados com projeções de imagens, criando efeitos de iluminação e efeitos especiais com luz e imagem.
O uso de ambiência da escola como espaços cênicos póde envolver toda a comunidade escolar no processo de planejamento, implantação e manutenção. Dessa forma, mobilizamos o sentimento de pertencimento da escola para quê ela inclúa toda a comunidade quê a frequenta.
Avaliação em teatro
Como podemos avaliar o desenvolvimento da construção do conhecimento (teórico e prático) de teatro por parte do estudante? E o trabalho do professor, podemos avaliar? Qual é a importânssia do registro da avaliação? É importante uma autoavaliação para professores e aprendizes de teatro? A escola, enquanto instituição de ensino, deve sêr avaliada em suas ações?
Essas kestões propõem uma reflekção sobre a avaliação formativa, além de pensar sobre as possibilidades de avaliar o processo de ensino e aprendizagem em teatro. Como princípio, compreendemos quê os estudantes aprendem de diferentes formas: lendo, ouvindo, falando e praticando o conhecimento. E o professor também ensina de diferentes formas, inclusive fazendo perguntas aos aprendizes de teatro.
A proposta é construir e aplicar determinados procedimentos quê gerem uma avaliação formativa com foco no processo de aprendizagem em conjunto com os resultados dessa aprendizagem. Com essa forma de pensar na avaliação, devemos considerar os contextos e as condições concretas de aprendizagem. Os dados coletados e observados na avaliação formativa devem sêr registrados e se tornar referência para avançar no processo de ensino e aprendizagem escolar e, assim, sêr um parâmetro para qualificar o dêsempênho dos aprendizes, dos professores e de todos os quê estiverem inseridos no processo.
Uma avaliação formativa deve abranger um momento de análise e um processual. Para quê isso ocorra, o professor precisa estar atento aos movimentos dos estudantes. O professor é sempre a figura quê os instiga a criar sem se preocupar em mostrar modelos ou em fazer por eles. Avaliar constitui um exercício de análise, mas também de autoanálise. Da mesma forma, é olhar tanto para a aprendizagem como para os percursos.
Página trezentos e cinquenta e cinco
Portanto, ao avaliar, não analise apenas o fim e os resultados dos percursos vivídos, mas privilegie a reflekção sobre o quê foi planejado e sobre o desenvolvimento dos estudantes.
Dança
Dança é a linguagem do corpo em movimento poético. De um gesto quê expressa suavidade a uma queda bruta e sonora no solo; do chão dos pátios no campo aos palcos das grandes cidades; tantas são as formas, os conteúdos, os propósitos e os territórios da dança.
O componente poético, estético e artístico confere ao movimento uma nova dimensão, algo quê o difére e o caracteriza. A esse algo genuíno da cultura humana damos o nome de “dança”. Genuíno não porque outros sêres vivos não o façam, pois é sabido de movimentos empregados no reino animal não humano quê muito se assemelham à dança, mas quê a ciência nos mostra quê são biogenéticos. A dança humana se desen vólve como um elemento da cultura.
Enquanto parte da cultura, a dança se constitui como linguagem e abrange um conjunto muito diverso de línguas e falas (no sentido semiológico do termo). Pensemos, por exemplo, nas danças ancestrais de diferentes povos. Mesmo quando elas têm funções análogas, como a cura de uma enfermidade, a forma da dança varia muito. E a variação não se dá apenas de um grupo a outro, mas também em razão do local e da época em quê ela está inserida. Nos quilombos, por exemplo, a dança de raízes africanas se desdobra em novas danças, como o jongo, o tambor de crioula, o candombe, o moçambique, a sussa e outras específicas de cada comunidade, incorporando a elas outras influências, como a cultura de outros povos.
Em sua história, a dança não difére das demais linguagens artísticas acerca de sua origem. Voltada ao sagrado, ao divino e à relação com forças ocultas e superiores, o corpo se fez dança. Essa dimensão da dança ainda se faz presente nos ritos das culturas indígenas, na dança dos orixás, na dança sufi, nas danças sagradas circulares, nas danças de louvor das igrejas cristãs, entre outras.
Na escola, pode-se: abordar a dança em sua dimensão sagrada, não como uma ocorrência do sagrado em si, mas como estudo; promover a experiência estésica do rodopio, presente em danças como o sama (cerimônia do sufismo, o ramo místico do is-lamismo, quê ficou famosa pêlos dervixes giradores, quê rodopiam ao som de cantos religiosos como forma de conexão sagrada), e contextualizar, nesse caso, quê o intuito do giro é a busca por um estado total de conexão com o divino; propor uma reflekção acerca das diferentes danças dos orixás no Brasil, ativando o pensamento crítico como forma de romper com preconceitos dirigidos às religiões de matriz africanas; fruir registros audiovisuais realizados por pessoas de diferentes etnias indígenas acerca de suas danças e dialogar sobre suas formas, significados e funções; criar sequências de movimentos (improvisações, células coreográficas – quê são sequências de movimentos dançados, em geral com curta duração ou independentes, como um solo – ou coreografias) com base na experimentação de diferentes danças sagradas; entrevistar pessoas do território quê sêjam praticantes dessas danças na comunidade, a fim de saber como expressam sua relação com o sagrado por meio delas.
Deslocando-se do sagrado, as danças passam a compor as manifestações de um povo ou grupo, elaborando d fórma poética sua visão de mundo, seus modos de sêr e agir, seus mitos e lendas, seus heróis, seus ancestrais e feitos memoráveis. Certas danças passam a constituir parte do cotidiano, como ocorrem com danças populares (forró, sêrtanejo, samba etc.); outras se caracterizam por sua sazonalidade, como o Carnaval e os diversos folguedos da tradição brasileira (festas de bôi, festas do divino, festas juninas etc.).
Pode-se observar uma forte ligação com a religiosidade na cultura popular tradicional, antes conceituada como “folclore”. Todavia, mais do quê o culto ou a conexão com as forças espirituais, o interêsse se volta à vivência popular comunitária, à festa e à tradição por meio da ár-te. Esse é um aspecto quê cabe sempre ressaltar, para quê a cultura popular tradicional brasileira não seja vista somente como prática religiosa. Se a religiosidade era parte integrante da vida das pessoas quê deram movimento a essas manifestações, é natural quê ela tome forma e até crie laços entre diferentes matrizes, em especial a indígena, a portuguesa e a africana.
Nem todos os folguedos têm sua origem no sagrado. As quadrilhas, por exemplo, se originam do “minueto”, uma dança da kórti de origem francesa (o quê explica a permanência de palavras como tour, avancer, anarrier na dança). Convencionou-se dançar a quadrilha nas festas do mês de junho porque, no calendário católico, abrangem celebrações a são João Batista, santo Antônio e são Pedro (uma herança portuguesa). O solstício é celebrado nessa época do ano desde antes do advento das religiões cristãs, e as fogueiras são parte dessa história antiga. Na quadrilha, dança das festividades juninas, incorporou-se a fogueira, os santos populares e a relação com o povo do campo, representado nas indumentárias, características também dos camponeses de Portugal. Não nasce, portanto, do louvor religioso, mas de um festejo quê encontra seu lugar dentro de um calendário organizado pela instituição religiosa.
Reforça-se, portanto, quê o contato com a dança, seja sagrado ou de tradição popular, deve sêr pensado com base nas dimensões do ensino de ár-te. A religiosidade, inerente a cértas manifestações, precisa sêr
Página trezentos e cinquenta e seis
respeitada e abordada pedagogicamente, ressaltando, por um lado, o combate à intolerância religiosa e, por outro, a não exclusão do estudo de tradições populares e danças ancestrais em razão de seu aspecto religioso. A cultura de paz é um norte a sêr sempre buscado.
O estudo das tradições populares e da ancestralidade brasileira ábri diferentes oportunidades para a promoção positiva de povos indígenas, afrodescendentes, afro-brasileiros, quilombolas, do campo e ciganos. Para os povos ciganos, autodenominados romá ou romani, a dança é algo inerente à sua cultura, com forte presença no cotidiano independentemente de sêr ou não o ofício de quêm dança. O caráter mais reservado das comunidades nem sempre permite que os gadjê (não romani) tênham acesso à apreciação da dança, o quê levou ao desenvolvimento de danças específicas para serem apresentadas para o público, como o flamenco.
Pode-se utilizar metodologias ativas, como a sala de aula invertida, para mobilizar os estudantes a pesquisarem, se aprofundarem e conhecerem melhor esses povos e sua cultura, em um processo quê envolve descoberta, quebra de paradigmas e o reconhecimento das pessoas e seu legado na constituição da identidade brasileira.
As danças, muitas vezes, também são marcas de diferentes culturas juvenis. Desde as primeiras culturas elaboradas pêlos jovens até as mais recentes, pode-se notar a presença da dança como algo quê representa o coletivo, como as danças do róki ’n’ roll e suas variações, as danças do ska, do régui e do dancehall jamaicanos, as danças da cultura black ou black music, o “bate-cabeça” dos punks e headbangers (ligados ao heavy metal), os passos da cultura clubber, a “morcegagem” gótica, o breaking ou breakdance da cultura rip róp, a dança do funk nacional, entre outras. Afinal, o conceito de cultura juvenil está intimamente ligado à quêstão da identidade, de algo quê dá ao grupo características partilhadas que os congregam e os diferenciam de outros grupos.
Sobre a quêstão das culturas juvenis, é interessante conhecer mais sobre as transformações quê ocorreram acerca da identidade na transição da modernidade para a pós-modernidade ou modernidade tardia. A dimensão crítica permite-nos refletir sobre o que vêm ocorrendo no universo jovem e pensá-lo com base em óticas quê distam, em geral, de nossa própria juventude.
A sensação de pertencimento a uma determinada cultura juvenil se dá por meio de componentes afetivos e comportamentais quê são simbolizados e evidenciados d fórma estética. Não por acaso, aqueles quê buscam pertencer a uma dessas culturas, ou quê já fazem parte delas, podem sêr identificados por seu estilo e postura. A virada do milênio, contudo, parece marcar uma diluição das identidades, tal como apontado por Zygmunt Bauman (1925-2017) e êntoni Giddens (1938-), por exemplo. Misturam-se os estilos, confundem-se as características dos grupos, permuta-se de identidade (ao menos na aparência dela) continuamente, e as fronteiras quê separam uma cultura de outra ficam cada vez mais difíceis de serem percebidas.
A dança percorreu diferentes caminhos ao longo do tempo nos diferentes territórios e por diferentes povos e grupos étnicos. Na Europa do século XVII, tem início o desenvolvimento do balé, quê se desdobrará em formas de dança voltadas para o palco, para o teatro, para a apresentação coreográfica voltada a um determinado público. Dos caminhos trilhados pelo balé se desdobrarão danças inovadoras no final do século XIX e início do XX, agrupadas sôbi o nome “danças modernas”. Se desdobram também danças como o jazz e o sapateado estadunidense. Ainda seguindo essas veredas, emerge a chamada “dança contemporânea”, quê abrange um conjunto muito diverso de propostas, práticas e pensamentos, cujo elemento agregador parece sêr o esfôrço de expandir os limites da linguagem da dança.
Os mais diferentes corpos, nas mais diversas situações e espaços, trazendo propostas, discussões, experiências e experimentações, processos abertos e em contínua mutação, acaso, imprevisibilidade, dispositivos digitais, quêstionamentos e entrelaçamentos com as ciências e tecnologias, são alguns dos aspectos quê têm se movimentado no universo “teatral” da dança. O que se póde dizêr é quê a dança contemporânea se estabelece mais a partir das veredas quê se iniciam com o balé e passam mais pela dança moderna do quê pela dança popular (tradicional e pópi), ainda quê com elas estabêlêça relações, pois é movimentada pela pesquisa, experimentação, experiência e elaboração conceitual.
O ensino de dança póde beneficiar-se do pensamento contemporâneo de muitas formas para além da ampliação de repertório, isto é, para além de apresentar, fruir e discutir com os estudantes acerca de coreografias e propostas de dançarinos, grupos e companhias. A ruptura de padrões ideais de corpos dançantes é o quê mais devemos destacar. Todos os corpos se movimentam e todo movimento póde ter intencionalidade poética. A experiência da dança está disponível a todos, sem exceção. Para quê isso se concretize na escola, é preciso desconstruir a noção de dança como uma sequência de passos, como conjuntos rígidos de normas e como algo disponível apenas a corpos treinados e bípedes, sem deficiências de ordem física e/ou cognitiva, ou a pessoas dotadas de talento ou dom para a dança.
É preciso, também, elaborar com os estudantes as possibilidades poéticas do corpo e pensar como elas são potenciais e disponíveis a todos os corpos, sem qualquer condição preliminar. Isso póde significar uma grande mudança de paradigma. Muitos artistas, críticos e pensadores da dança contemporânea no Brasil podem nos ajudar a pensar em caminhos para a promoção dessa mudança na escola.
Página trezentos e cinquenta e sete
Tudo o quê já aconteceu na história da dança é, de certa forma, presente no mundo contemporâneo. Danças voltadas ao sagrado; danças quê marcam histoórias e tradições de diferentes etnias; danças quê contam histoórias; danças para celebrar, para brincar, para se divertir, para se expressar, para criticar, para agregar, para incomodar, para propor, para se vêr, para se pensar, para se sentir; enfim, para nos colocar em movimento físico, criativo, mental e emocional.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• ESPECIAL quilombolas 5 – Patrimônio cultural: ritmos e danças. Brasília, DF: Rádio Câmara, 2007. Disponível em: https://livro.pw/gymkj. Acesso em: 14 out. 2024.Quinto programa da série Especial Quilombolas, o episódio aborda ritmos e danças presentes na cultura contemporânea brasileira quê são heranças de remanescentes de quilombos.
• DEPOIS de sete séculos, os Dervixes continuam a girar.[S. l.: s. n.], 2017. 1 vídeo (2 min). Publicado pelo canal há éfe pê Português. Disponível em: https://livro.pw/nnlja. Acesso em: 14 out. 2024. No vídeo, é possível conhecer um pouco mais sobre os Dervixes Giradores.
• GIDDENS, êntoni. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Zarrár, 2002. Na obra, o autor analisa o surgimento de novos mecanismos de autoidentidade, constituídos pelas instituições da modernidade.
• BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zarrár, 2021. Na obra, o autor apresenta uma abordagem da modernidade, focando kestões sobre identidade, individualidade, comunidade, trabalho, laços humanos, consumo, cidadania e nação.
• BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zarrár, 2021. As kestões da modernidade líquida são ampliadas, e, nesse livro, aprofunda-se a discussão acerca dos vínculos sôbi a perspectiva crítica da fragilidade instaurada pelas lógicas, pêlos discursos e pela práxis contemporâneos.
• BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Zarrár, 2005. Em diálogo com o jornalista Benedetto Vecchi, Bauman aborda kestões quê gravitam em torno das práticas e políticas identitárias sôbi a perspectiva da modernidade líquida: pertencimento, comunidade, reconhecimento e nacionalidade.
Avaliação em dança
Avaliação em dança não tem a vêr com a verificação da qualidade de execução de passos ou coreografias. Ela é um processo no qual, por meio de registros, notas e observações, identifica-se o desenvolvimento das competências e habilidades nessa linguagem artística. Observemos os processos cognitivos presentes na BNCC: explorar, conhecer, fruir, analisar, compreender, pesquisar, experienciar, problematizar, desenvolver, criar, improvisar, discutir, reconhecer, caracterizar, valorizar, experimentar, investigar, relacionar, manipular, mobilizar recursos e estabelecer relações.
É notável quê o aspecto avaliativo abrange uma gama bastante variada de processos cognitivos em sua pauta. Somam-se a esses os objetos de conhecimento e contextos acerca dos quais os processos cognitivos serão mobilizados. Não se trata, portanto, de avaliar como os corpos estão dançando, no sentido da execução de técnicas e passos, mas como está se desenvolvendo o pensamento do corpo quê dança e as habilidades específicas pertinentes a essa linguagem.
Em dança, avaliar segue o mesmo caminho do componente curricular como um todo, abrangendo, não apenas em sua conclusão, situações de sondagem, sistematização de diagnósticos, registros para acompanhamento e integração da avaliação em todo o percurso de aprendizagem. É fundamental um diálogo com os estudantes sobre seu território e repertório: danças quê conhecem, quê praticam, quê fazem parte de seu cotidiano, quê constituem sua tradição familiar, quê compõem a cultura popular tradicional local/regional, quê são marcas expressivas de culturas juvenis contemporâneas etc.
Reitera-se aqui um ponto: qualquer corpo póde dançar sôbi uma perspectiva contemporânea. Essa premissa fundamenta um processo avaliativo, mais especificamente do dançar, quê considera o desenvolvimento de cada estudante em particular, pois o corpo é uma unidade de alta complexidade formada não apenas de aspectos físico-motores, mas emocionais, afetivos, sensíveis, intelectuais, sociais, culturais e históricos, quê coexistem e implicam um no outro. Quando o corpo dança, tudo o quê ele é dança. Todas as suas histoórias, valores, memórias, tráumas, feridas, prazeres, medos, conceitos estão presentes em um único gesto, mesmo quê não seja evidente d fórma plena para quem o faz ou para quem o observa.
Toda complexidade quê envolve o corpo envolve a avaliação da poética de seus movimentos e de todos os processos cognitivos relacionados à dança. Assim, avaliar torna-se uma ação quê evoca a sensibilidade e o cuidado, o olhar e a escuta, a empatia e a comunhão (o reconhecimento de si, do outro e de nós). Então, procure envolver os estudantes no processo avaliativo; discuta com eles os indicadores utilizados; permita a eles quê sêjam também protagonistas de sua avaliação; promôva o diálogo acerca de suas experiências, mas tendo em mente que nêm sempre a experiência
Página trezentos e cinquenta e oito
estésica e a experiência do dançar podem se traduzir em palavras. A tradução intersemiótica das linguagens não verbais para as verbais nem sempre é justa quando se trata de descrever a experiência sensível.
Música
A proposição pedagógica para música, presente nesta coleção, convida professores e educandos a trilhar um percurso sensível e lúdico pela experiência criativa. A coleção tem o compromisso com o conhecimento da música e da linguagem musical. Propomos apresentar ideias para percursos quê favoreçam a aprendizagem significativa da linguagem musical no ato de ouvir, cantar, tokár, construir, criar, pesquisar, analisar etc.
Pesquisas desenvolvidas nos últimos tempos têm nos instigado a considerar a música, a educação musical e o ensino da música de maneira inventiva e reflexiva, integrando o saber musical e os discursos possíveis sobre a música. Desde as contribuições dos métodos ou das pedagogias musicais chamados “ativos” – de Cal Orff (1895-1982), Edgar Willems (1890-1978), Zoltán Kodály (1882-1967), Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) e môríss Martenot (1898-1980) –, surgidos no período entre as duas grandes guerras e apoiados nas contribuições de Maria Montessori (1870-1952) e Célestin Freinet (1896-1966), vêm surgindo um equilíbrio entre a música praticada ou vivenciada, de um lado, e a música ensinada ou abordada teóricamente, de outro. Essas proposições consideram a; ár-te não como um conteúdo rígido, mas como um modo de sêr, de estar e de pensar o mundo. Buscamos integrar, na proposta musical quê oferecemos nesta coleção, as diversas contribuições dêêsses estudiosos. Convidamos você a conhecer um pouco dessas diversas pesquisas e trajetórias.
De Cal Orff, guardamos a relação intrínseca entre música, movimento e palavra, instrumentais variados, percussões e percussão corporal, contato com o repertório musical tradicional de diferentes culturas, a importânssia do processo com base no elemental e o papel relevante do jôgo, da improvisação e da criação. Hoje, essa abordagem é chamada Orff-Schulwerk.
Do músico e pedagogo Émile Jaques-Dalcroze, valorizamos a ligação do movimento corporal com o movimento musical, fundado no ritmo e na improvisação. Essa proposta ficou conhecida como rythmique (rítmica, em português).
Com base nessas proposições, podemos sugerir brincadeiras musicais, jogos de mãos, percussões corporais e outras atividades quê podem abrir caminhos para pensar na possibilidade de criar no fazer musical, posteriormente levando à exploração de leituras e escritas musicais. A voz também é trabalhada como meio de expressão e comunicação. São propostas formas criativas de exploração da voz para quê os estudantes experimentem processos de improvisação, composição e interpretação.
O canadense Raymond Murray Schafer (1933-2021), por exemplo, adota a escuta e sobretudo a criação como eixos centrais da educação musical, utilizando-se dos mais variados recursos e tipos de materiais sonoros capazes de ajudar os professores a explorar o potencial criativo dos estudantes. Schafer apresenta uma proposta educativa e ampla, na qual enfoca a percepção da paisagem sonora, quê consiste em perceber conscientemente a relação som e silêncio e a existência de sonoridades próprias de diferentes ambientes. Nessa concepção, a paisagem sonora é tudo o quê está em nosso campo auditivo, dos sôns característicos quê estão à nossa volta – das grandes cidades, locais de trabalho ou equipamentos tecnológicos – às sonoridades humanas e aquelas típicas da natureza. Pode-se usar o sentido da audição para desenvolver uma escuta inteligente, pensante e consciente e, assim, aprender a ouvir melhor diferentes tipos de música e sôns quê nos cér-cão. Ouvindo com maior atenção e curiosidade, os jovens são capazes de apreender o mundo pela escuta e discernir as características de seus sôns, tendo por referência não apenas os parâmetros sonoros usuais (como intensidade, altura, duração e timbre) mas também noções importantes, como sobreposição, intercalação e justaposição de eventos sonoros, tipos de textura e de perfil, planos sonoros, entre outros, de grande utilidade para a criação musical e para o entendimento amplo dos processos musicais de todas as épocas e culturas.
Integramos aqui também as contribuições de educadores e educadoras da América do Sul, muito atuantes sobretudo desde as dékâdâs de 1970 e 1980, cujas propostas de educação musical, ligadas à criação e à inventividade, visaram menos à formação de músicos e mais à formação integral da pessoa humana, em conexão com a ssossiedade e a cultura. A partir dos anos 1970, a pedagoga musical argentina Violeta de Gainza (1929-2023), por exemplo, difundiu várias propostas de educação musical criativa, valorizando a improvisação e integrando o ensino de instrumentos e oficinas de música.
No Brasil, há referenciais valiosos para a visão do mundo atual, os quais oferecem contribuições muito importantes para o ensino e para a prática musical dentro e fora da sala de aula. O desafio enfrentado por esses artistas musicais foi, sobretudo, o de transpor as abordagens e os métodos já existentes para a cultura e para a realidade do sistema educacional brasileiro, tendo em vista a distância da maioria dessas abordagens e dêêsses métodos em relação à nossa cultura e à realidade das escolas e dos estudantes brasileiros.
As experiências das oficinas de música, desde a década de 1960, em quê a música se realiza como aprendizado coletivo, sensível e prazeroso, se mostram uma potente alternativa ao ensino mais tradicional voltado
Página trezentos e cinquenta e nove
apenas para a formação de músicos. Diversos músicos-educadores difundiram práticas dêêsse teor em diferentes localidades do país, especialmente em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.
Dos anos de 1980 até a contemporaneidade, observamos o surgimento de novas propostas de realização de educação musical, em adequação às diversas realidades do Brasil, bem como estudos e pesquisas de múltiplas abordagens, em especial dentro das universidades brasileiras. Desse modo, é tarefa do educador musical, ao trabalhar com a música, atentar-se às particularidades culturais do território e da época em quê se está inserido, bem como às singularidades de cada indivíduo envolvido.
Consideramos quê essa importante posição da educação musical brasileira contemporânea, assim como de outras práticas artísticas, se reflete nas propostas oferecidas no Livro do estudante, visando, com base na formação musical, ao aprimoramento, à expansão e à potencialização das relações entre as pessoas. A música não está acima da vida e das relações sociais, como insistiram os métodos tradicionais de ensino, tampouco representa uma méra atividade recreativa para simples divertimento na escola, mas passa a sêr considerada como parte constitutiva da vida e dos modos de se relacionar e construir vínculos afetivos e sociais de todo sêr humano.
Para conectar-se ao mundo dos estudantes e, ao mesmo tempo, fomentar a ampliação de visões de mundo e de cultura, o professor póde recorrer a diversas ferramentas pedagógicas, integrando na educação as músicas de diversas culturas com as mais variadas formas de trabalhar com elas – do cantar ao tokár, do interpretar ao criar. É preciso quê o ambiente da sala de aula esteja ainda permeado por constante diálogo, sêndo imprescindível ao educador contemporâneo escutar os estudantes.
Incorporando ideias, como as do educador brasileiro Paulo Freire, temos, assim, uma educação quê não é simplesmente depositária de tradições, côstúmes e aprendizados estabelecidos anteriormente, mas quê se ábri para o mundo dos educandos, no aqui e agora, com suas diferentes culturas e épocas.
Sendo o universo da educação musical muito vasto, o professor póde se valer de inúmeros estudos e experiências realizados no país, a fim de buscar aquele quê mais se aproxime de suas opções de trabalho e possibilite construir pontes com o perfil dos estudantes.
Trata-se, hoje, de oferecer aos estudantes meios adequados e condições favoráveis quê propiciem o contato com o universo musical existente – patrimônio já constituído, em suas múltiplas formas de manifestação – e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de sua própria musicalidade com base em sua capacidade de criação e de expressão, alimentada por suas necessidades presentes. Para um professor propositor, esses saberes podem se desenvolver em mais estudos, pois aqui estamos propondo quê o professor vivencie a música e seu ensino por meio de encontros significativos.
Consideramos quê é possível criar e interpretar música com qualidade, desde o nível mais inicial e elementar. Nesse sentido, é essencial a participação do professor, quê tem o papel de transformar em momento “extraordinário” a realização de atividades musicais aparentemente mais simples e singelas, de modo quê os estudantes construam vivências profundas e significativas. Sugerimos ao professor quê procure viabilizar a escuta, o contato e o conhecimento de manifestações musicais de diferentes épocas, gêneros, estilos, tendências e culturas. Para isso, oferecemos uma gama de representações musicais: desde o som da mais antiga notação musical completa encontrada a produções sonóras e musicais contemporâneas; de músicas da tradição brasileira a experimentações sonóras internacionais; de instrumentos usuais ao uso de objetos sonoros e à exploração de novos meios expressivos. Ao mesmo tempo, lembramos da importânssia de não restringir esses momentos à audição ou à fala sobre música, mas quê sêjam oferecidos espaço, recursos e motivassão suficientes para quê cada estudante, além de se expressar criativamente pêlos sôns e pela música, entre em contato consigo e com o outro, com suas sensações, sentimentos e entendimentos, estando, assim, a ponto de se expressar com clareza e de compartilhar seu desenvolvimento no coletivo.
É importante também, atiçar a curiosidade dos estudantes a fim de quê sêjam motivados a pesquisar sobre as músicas apresentadas – autores, estilos, formas de expressão, organização, projeto compositivo, representação estética e cultural −, instigando-os a perceber e a conhecer o mundo pela audição em movimento. Nesse sentido, devem sêr aproveitadas todas as oportunidades possíveis para a escuta atenta e a expressão criativa, com o objetivo de conhecer mais profundamente a maneira como as músicas estão concebidas, organizadas e apresentadas.
A abordagem de ensino musical proposta nesta coleção procura oferecer atividades quê, antes de tudo, sêjam atraentes e prazerosas e quê tratem de conteúdos relevantes para o conhecimento e a formação musicais, como os conceitos de tempo e espaço, noções de ritmo e melodia, bem como a prática de interpretação, improvisação, criação e agenciamento de materiais. É importante frisar quê, sempre quê possível, os diversos conteúdos musicais devem sêr disponibilizados em classe de maneira lúdica e integrada.
Sugestões de dinâmica para conduzir a aula de música
É importante quê o professor defina uma matriz de organização de tópicos de conteúdo e a adote como referência para as aulas de música. Essa matriz poderá,
Página trezentos e sessenta
além de nortear a condução do encontro, favorecer quê determinados objetivos sêjam contemplados e propiciar uma dinâmica mais equilibrada e produtiva.
Sugerimos, por exemplo, a seguinte abordagem.
1. Comece convidando os estudantes a fazer uma breve meditação. Uma duração média de 2 a 3 minutos, em geral, é suficiente. Eles podem ficar sentados confortavelmente em suas cadeiras, mas mantendo o corpo em posição ereta, alinhada, com os dois pés no chão e, se possível, sem cruzar as pernas. Manter o silêncio é obrigatório e, se pudérem fechar os olhos, será favorável. Essa meditação póde sêr feita em silêncio ou com uma música suave quê você reproduzirá. Essa é uma oportunidade para quê eles escutem músicas mais suaves, de épocas, culturas e estilos diferentes e, assim, ampliem também o seu repertório de conhecimento musical.
2. Proponha uma atividade de integração do grupo quê envolva corpo, atenção, coordenação e prontidão. póde sêr um jôgo de mãos, em duplas ou em grupo, uma atividade de roda etc.
3. Faça com eles um breve aquecimento vocal e, em seguida, um vocalize, pedindo para quê o realizem atentamente, escutando-se e percebendo os seus limites, a fim de ampliá-los suavemente, com cuidado e sem muito esfôrço.
4. Apresente uma canção para quê a escutem em silêncio. Em seguida, os estudantes poderão expressar seus comentários e cantá-la junto com o áudio uma primeira vez, atentando-se tanto para a letra como para a melodia, e zelando pela afinação e articulação rítmica. A interpretação poderá sêr feita por um estudante, em dupla, por um pequeno grupo, um grupo maior ou por toda a turma.
5. Apresente a letra da canção e conversem sobre o seu significado, o compositor, a época de sua criação, a cultura, o contexto político etc. Mais tarde, contextualizando-a, incentive-os a realizar uma pesquisa sobre o compositor, o intérprete, o estilo, a época, e também sobre o gênero da música, sua melodia, seu ritmo, sua harmonía, a instrumentação usada, seu andamento etc.
6. Grave em vídeo ou áudio a interpretação final da música pêlos diferentes grupos.
7. Como encerramento, organize uma roda de conversa em quê todos procurarão avaliar as facilidades e as dificuldades encontradas nas etapas da realização das músicas e atividades, bem como a fluência dos processos de trabalho e a qualidade dos resultados obtidos. No entanto, lembre-se de quê a crítica excessiva produz, em geral, inibição e insegurança, o quê não condiz com as propostas de trabalhos criativos, quê necessitam sobretudo, em sua fase inicial, de espaço livre para sugestões e experimentações.
Você poderá, numa aula seguinte, manter as mesmas etapas 1, 2 e 7, mas substituir as demais conferindo uma ênfase ao trabalho sobre tempo, andamento e ritmo.
3. Ofereça instrumentos de percussão, outros instrumentos ou objetos sonoros e peça aos estudantes quê explorem sonoridades diferenciadas, ricas e interessantes. Depois, proponha quê façam uma breve improvisação, utilizando-se das sonoridades descobertas.
4. Utilizando-se dos instrumentos, sugira quê façam a leitura rítmica de uma partitura (pode sêr uma partitura convencional, gráfica ou outra), mas explicitando antes o cóódigo utilizado, as possibilidades de leitura, a decodificação e a interpretação.
5. Agora, eles serão convidados a fazer uma variação sobre um tema rítmico trabalhado na aula, já conhecido por eles, ou um tema inventado livremente. Organize-os em grupos e ôfereça uma fô-lha de cartolina e canetas coloridas para quê possam registrar suas composições. Caso alguns tênham dificuldade para iniciar o processo criativo ou para encerrá-lo, motive-os e oriente-os dando sugestões simples quê os auxiliem a superar o entrave constatado.
6. Registre em vídeo ou em áudio o resultado interpretado pêlos diferentes grupos. Depois, assista às gravações com toda a turma, avaliando os melhores momentos, os de dificuldade e aqueles quê merécem sêr aprimorados.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL. Londrina, c2013. sáiti. Disponível em: https://livro.pw/fpdld. Acesso em: 14 out. 2024.
O sáiti reúne informações, newsletters, atividades institucionais, editais, concursos e publicações sobre música e educação.
• FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 2. ed. São Paulo: Editora Unésp, 2008.
A autora defende quê a educação musical deve sêr inserida no sistema educacional como componente fundamental na formação da cultura, expondo desafios e oportunidades de se trabalhar a música no ambiente escolar como parte da produção da expressividade humana.
Avaliação em música
A música, como prática e saber inseridos na cultura, meréce sêr percebida na sua condição de expressão de memórias e vínculos, sempre dialogando com a subjetividade dos estudantes e com as particularidades do grupo. É o engajamento com as práticas musicais e seus saberes o quê, a nosso vêr, representa o fio condutor da avaliação e da autoavaliação em música.
Página trezentos e sessenta e um
Como método de realizar as práticas musicais, recomendamos tanto a redação (breve) de autoavaliações individuais, com base em critérios sugeridos pelo professor, como a realização de rodas coletivas de conversa, nas quais se leve em consideração os projetos e suas realizações, seus processos e seus produtos.
Em uma etapa inicial da avaliação, o professor poderá incentivar os estudantes a refletir e ponderar sobre como, durante o decorrer das aulas, eles se relacionaram com a música; o quê mais os motivou e interessou; quê informações foram adquiridas; quais conhecimentos foram produzidos e quê kestões foram despertadas sobre o papel e as funções da música na vida deles, das pessoas em geral e nas diferentes culturas; de quê maneira tudo isso se insere em suas vidas cotidianas e as transforma; como as aulas de música contribuíram para transformar a maneira como eles escutam, tocam, cantam, dançam, vivem a música e participam dela.
Focando os aspectos mais própriamente musicais, podemos avaliar a aprendizagem musical mediante um processo de autoavaliação e/ou de observação do professor com base no dêsempênho dos estudantes em relação ao desenvolvimento da musicalidade em geral e aos aspectos específicos a seguir.
• Escuta e discernimento auditivo; por um lado, mediante o reconhecimento de sonoridades, timbres e instrumentos musicais; por outro, na percepção de partes, formas, organizações e estruturas musicais.
• Conhecimento dos parâmetros sonoros (altura, duração, intensidade e timbre).
• Compreensão e distinção entre os elemêntos da música (melodia, ritmo e harmonia).
• Qualificação na emissão vocal, mediante fluência, clareza, articulação e afinação.
• Fluência na expressão por meio de instrumentos e da percussão corporal quê envolvam a percepção do ritmo e do pulso, a coordenação motora, o contrôle do instrumento e a precisão melódica e/ou rítmica.
• Compreensão e entendimento crítico dos conceitos de tradição e contemporaneidade, englobando instrumentos musicais, modos distintos de fazer música, suas funções diversificadas na ssossiedade e em diferentes culturas, aspectos ligados à etnomusicologia (como os saberes e fazeres de grupos étnicos e povos distintos), a presença em espaços particulares, os suportes mais freqüentes na atualidade etc.
• Habilidade de improvisar com criatividade e interação social.
• Habilidade de criar músicas originais e estruturadas.
Por fim, sugerimos quê, no processo de avaliação, haja a reflekção sobre como esses aprendizados se relacionam às vivências cotidianas dos estudantes (em família, encontros coletivos, comunidade, momentos de escuta individual, experiências artísticas diversas etc.). A redação de um breve texto no diário de artista reunindo essas considerações poderá sêr de grande valia para todos os envolvidos.
No quê se refere à avaliação das práticas musicais a curto, médio e longo prazos – a gravação em vídeo das propostas realizadas é um recurso de grande valor, pois funciona como um “espelho” para quê o estudante e a turma se aprimorem e avaliem seus próprios desempenhos d fórma diréta e, sobretudo, dinâmica e objetiva. Desse modo, o vídeo representa também um registro único da história dos percursos realizados, das experiências musicais vivenciadas e das músicas originais criadas e interpretadas, capaz, assim, de informar sobre a trajetória musical de cada participante e do grupo como um todo.
Artes integradas (linguagens híbridas)
Os sêres humanos, como criadores de linguagens, ao se depararem com situações em quê já se esgotava o “dizer”, o se expressar naquelas já existentes, inventou outras. Neste criar, transformou e misturou linguagens.
Imagens quê se misturam aos sôns, gestos quê são gravados e reproduzidos na expressão dos movimentos, das corporeidades, palavras escritas, faladas e cantadas, captadas em imagens e sôns guardadas em mídias quê ao serem também inventadas foram usadas para criar mais linguagens híbridas. Assim estamos cercados por estas linguagens misturadas nas diversas manifestações da música, do teatro e da dança, em videoinstalação, videoarte, performances, cinema, artes digitais, exposições imersivas, videomapping e tantas outras experimentações artísticas resultantes da integração entre artes.
Neste contexto, é imprescindível trazer aos estudantes um ensino de ár-te em consonância com seu tempo, já quê eles são pessoas contemporâneas a essa multiplicidade de linguagens quê está na ár-te, na vida, na cultura sonora, visual e audiovisual. O desafio é criar situações de aprendizagem quê estimulem a compreensão e a produção nas linguagens considerando quê as artes integradas são aquelas quê misturam as linguagens verbais e não verbais, como as visuais, sonóras, corporais, feitas a partir de tecnologias digitais, audiovisuais ou misturadas, como as artes circenses e os festejos tradicionais.
Discurso multimodal
A ár-te e o mundo midiático contemporâneo estão repletos de discursos os quais utilizam diferentes linguagens quê, juntas, podem construir significados e estabelecer diversas percepções sensoriais, interpretações e construções de sentido. O discurso multimodal está presente nas formas de comunicação e expressão na internet, na publicidade, em livros didáticos etc.
Página trezentos e sessenta e dois
Assim, fazem parte das culturas das juventudes, sêndo importante realizar estudos para desenvolver competências leitoras na produção dêêsses textos.
Nos meios digitais, a comunicação se dá através de combinações de imagens fotográficas, dêzê-nhôs, animações e movimentos, sôns, músicas, texto e todo um rol de estímulos, articulando signos e gerando discursos. Cada vez mais os equipamentos eletrônicos oferecem interfaces e conexões digitais, transformando as formas de comunicação social.
As transformações nos modos e meios de comunicação afetam o relacionamento entre as pessoas, cada vez mais mediado pela tecnologia e por cérto direcionamento estético e expressivo da forma como interagem (como a expressão comunicativa por meio de emojis, figurinhas de aplicativos, gifs, memes ou imagens animadas).
Criamos hábitos comunicativos quê influenciam na percepção, na participação do corpo da ação comunicativa, na atribuição de valores, nos projetos de vida, nas formas de empreender, nas relações trabalhistas e nas modalidades de ensino e troca de saberes. Uma experiência póde sêr almejada mais pelo seu valor visual e pelo impacto quê póde gerar nas rêdes sociais do quê pela experiência estésica em si, que nêm sempre se póde traduzir d fórma análoga nos meios digitais, por sua subjetividade e sensações singulares das quais as linguagens se tornam meios imprecisos de expressão.
A experiência corporal, diretamente relacionada à dimensão da estesia no ensino de ár-te, muitas vezes é substituída pelo valor da aparência da experiência, como filtros usados nas imagens, efeitos, figurinhas, frases de impacto, hashtags, trechos de música em pacotes estéticos pré-selecionados e controlados, sujeitos a uma filtragem algorítmica quê, em geral, visa manter os usuários conectados, alertas e revendo estímulos de consumo. Alertas sonoros e visuais indicam quantas atualizações estão pendentes de serem vistas, ouvidas, acessadas etc. No imperativo da atualização, discursos rápidos e instantâneos circulam velozmente.
PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO
• COVALESKI, Rogério Luiz. Artes e comunicação: a construção de imagens e imaginários híbridos. galáksia, São Paulo, n. 24, p. 89-101, dez. 2012. Disponível em: https://livro.pw/dzcsr. Acesso em: 14 out. 2024.
O estudo traça d fórma “razoavelmente cronológica” a relação das diversas linguagens em seu hibridismo, cujas formas e gêneros se entrelaçam e se expandem em novas formulações artísticas e comunicativas.
Avaliação em artes integradas
Trabalhar com as ár-tes integradas é uma excelente oportunidade para perceber como a inter-relação entre as linguagens da arte póde acontecer. Sugerimos quê sêjam criadas pautas de kestões quê possam sêr interessantes para os momentos de avaliação: como os estudantes percebem os processos quê intégram diferentes linguagens?
Proponha aos estudantes quê deem exemplos de artes integradas com as quais têm mais contato e quê digam o quê descobriram ao estudar nas aulas de ár-te. Verifique se reconhecem, na região onde vivem, produções dessa natureza; se percebem como as linguagens se intégram em seus processos, suas materialidades, suas temáticas e outros pontos possíveis de conexões. Também é possível avaliar como eles percebem a cultura audiovisual em seu cotidiano e na vida cultural.
É recomendado quê sempre sêjam feitos registros com filmagens e fotografias quando os estudantes realizarem produções de performances, instalações, artes circenses, cinema, vídeo, videodança, videoarte e outras com foco nas artes integradas. Organize também momentos em quê todos possam assistir a esses materiais, fazendo uma análise e realizando o processo de autoavaliação e construção crítica de modo coletivo e colaborativo.
No Ensino Médio, acompanhe como o impacto das rêdes e entrelaçamentos digitais reverberam nos estados emocionais dos estudantes, como eles se expressam, se comunicam e afirmam positivamente suas identidades culturais, sua representatividade, seu sentimento de pertencimento, suas ideias, suas ações, seus afetos e sua presença enquanto sêres linguajantes, poéticos e protagonistas.
Organização de conteúdos e cronograma
A seguir, apresentamos uma sugestão de distribuição dos capítulos quê considera o Ensino Médio com duração de três anos, com possíveis arranjos em bimestres, trimestres e semestres. Trata-se de uma evolução sequencial sugerida; entretanto, os capítulos e os temas da coleção podem sêr trabalhados d fórma autônoma, permitindo rearranjos não lineares. Nesse sentido, cada professor póde adaptar o planejamento à realidade da rê-de em quê está inserido, da escola – considerando o projeto político-pedagógico – e de cada turma específica.
Na sequência, apresentamos o qüadro programático do volume único quê compõe esta coleção, no qual estão indicados, para cada capítulo, os conteúdos principais dos respectivos temas. Em seguida, estão as transcrições das faixas de áudio e podcasts quê fazem parte desta coleção.
Página trezentos e sessenta e três
1o ano |
2o ano |
3o ano |
|---|---|---|
1o bim.: Capítulo 1 – Temas 1, 2 e 3 |
5o bim.: Capítulo 3 – Temas 1 e 2 |
9o bim.: Capítulo 5 – Temas 1 e 2 |
2o bim.: Capítulo 1 – Temas 4 e 5 |
6o bim.: Capítulo 3 – Temas 3 e 4 |
10o bim.: Capítulo 5 – Temas 3 e 4 |
3o bim.: Capítulo 2 – Temas 1 e 2 |
7o bim.: Capítulo 4 – Temas 1 e 2 |
11o bim.: Capítulo 6 – Temas 1 e 2 |
4o bim.: Capítulo 2 – Temas 3 e 4 |
8o bim.: Capítulo 4 – Temas 3 e 4 |
12o bim.: Capítulo 6 – Temas 3 e 4 |
1o ano |
2o ano |
3o ano |
|---|---|---|
1o tri.: Capítulo 1 – Temas 1, 2 e 3 |
4o tri.: Capítulo 3 – Temas 1, 2 e 3 |
7o tri.: Capítulo 5 – Temas 1, 2 e 3 |
2o tri.: Capítulo 1 – Temas 4 e 5 / Capítulo 2 – Tema 1 |
5o tri.: Capítulo 3 – Tema 4 / Capítulo 4 – Temas 1 e 2 |
8o tri.: Capítulo 5 – Tema 4 / Capítulo 6 – Temas 1 e 2 |
3o tri.: Capítulo 2 – Temas 2, 3 e 4 |
6o tri.: Capítulo 4 – Temas 3 e 4 |
9o tri.: Capítulo 6 – Temas 3 e 4 |
1o ano |
2o ano |
3o ano |
|---|---|---|
1o sem.: Capítulo 1 (completo) |
3o sem.: Capítulo 3 (completo) |
5o sem.: Capítulo 5 (completo) |
2o sem.: Capítulo 2 (completo) |
4o sem.: Capítulo 4 (completo) |
6o sem.: Capítulo 6 (completo) |
Quadro programático – volume único
Capítulos |
Temas |
Conteúdos |
|---|---|---|
1 O quê é ár-te? |
Tema 1 – Modos de sêr e existir |
• O quê a; ár-te póde provocar? • Com a palavra... Daiara Tukano • Criação: Eu não sei desenhar? |
Tema 2 – A ár-te sempre foi ár-te? |
• Com a palavra... Ailton Krenak • ár-te, palavras e sentidos • Entre histoórias: História da ár-te de quem? De onde? • Conexões com... Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Histórias gravadas / Por quanto tempo resistirá? • Criação: Rastros, registros e criações |
|
Tema 3 – Palavra e som: identidades em construção |
• Volte e pégue! • Voltar para o além-mar • Afirmar e seguir • Entre histoórias: Timbres e culturas / Os afrossambas • Criação: Os sôns quê ecoam em nossa história |
|
Tema 4 – Corpo ancestral |
• Com a palavra... Zebrinha • Entre histoórias: A dança como louvação • Conexões com... Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Dançar e saltar! • Criação: Corpo memória, corpo história |
|
Tema 5 – Quem conta nossas histoórias? |
• Dramaturgias negras • Com a palavra... Abdias Nascimento • No palco e na tela • Entre histoórias: Textos e contextos / Esse palco é nosso! • Conexões com... Língua Portuguesa: A fôrça das histoórias contadas • Criação: Leituras e encenações • revêja e siga • De olho no enêm e nos vestibulares |
Página trezentos e sessenta e quatro
Capítulos |
Temas |
Conteúdos |
|---|---|---|
2 Poéticas e culturas das juventudes |
Tema 1 – Ser de linguagem, ético, estético e poético |
• Linguagens e linguajantes • Criação: Poética pessoal: qual é a sua? • ár-te e identidade • Com a palavra... dél Nunes • Entre histoórias: Desconstruir para construir • Criação: Colando poéticas e afetos |
Tema 2 – Conceitos de beleza |
• Escola, lugar de conversações • Entre histoórias: A beleza tem uma história única? / Belezas quê habitam pensamentos • Conexões com... Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Belo é o corpo quê se tem! • Criação: Ensaio fotográfico |
|
Tema 3 – Tempos e espaços compartilhados |
• Com a palavra... Macsuéll Alexandre • Criação: A poética está no papel! • Rolezinhos, interações com territórios e culturas • A quem pertence êste espaço? • Entre histoórias: Rolezinhos artísticos • Conexões com... Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Mapeando o rolê! • Criação: Passo a passo, deixe sua marca |
|
Tema 4 – Somos pertencentes e diferentes |
• Com a palavra... Kaê Guajajara • Culturas das juventudes • Entre histoórias: Um próprio tempo • Conexões com... Ciências da Natureza e suas Tecnologias: O tempo na ár-te e na ciência • Criação: Cantar e samplear • revêja e siga • De olho no enêm e nos vestibulares |
|
• ár-te pelo tempo: Tempo linear, tempo circular / Infográfico |
||
3 Crio, logo existo |
Tema 1 – Um lugar chamado criação |
• Quer dizêr, então diz! • Criação como intervenção • Com a palavra... Alexandre Orion • Criação como instalação • Dom, virtude, genialidade ou curiosidade • Entre histoórias: Tempos e “ismos” na ár-te • Conexões com... Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Poluição: problema e poética • Criação: Matérias quê ocupam espaços |
Tema 2 – Batalhas na vida e na ár-te |
• De musas a mulheres de luta • Rap: som, voz e coração • Afirmação da ár-te feminina • Com a palavra... Drik Barbosa • Entre histoórias: Metáforas e memórias • Conexões com... Língua Portuguesa: Linguagens verbais e não verbais• Criação: Circuito das linguagens |
|
Tema 3 – Mundos possíveis, no palco e na vida |
• Nós, os “espect-atores” • Com a palavra... Augusto Boal • Entre histoórias: Espaço cênico: lugares para criar • Conexões com... Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Viver e sêr livre! / Teatro jornál • Criação: Teatro-fórum: improvisar e criar |
|
Tema 4 – O corpo é a; ár-te |
• O corpo no movimento do vento • Com a palavra... Rosa Antuña • Entre histoórias: O corpo como materialidade da dança • O movimento nosso de cada dia • Conexões com... Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Somos diversos, no corpo e no movimento • Criação: O quê póde o corpo • revêja e siga • De olho no enêm e nos vestibulares |
Página trezentos e sessenta e cinco
Capítulos |
Temas |
Conteúdos |
|---|---|---|
4 Redes e entrelaçamentos |
Tema 1 – Reflexos de uma era |
• Espaços e interações • O corpo e os espaços • Com a palavra... Inês Bogéa • Entre histoórias: Autoimagem e espelhamentos • Conexões com... Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Afetos intergeracionais • Stop motion para uma videodança • Criação: Videodança |
Tema 2 – ár-te e tecnologias, reinvenções de vida |
• Entre histoórias: Experiências de viver x realidade virtual • Tropicália • Conexões com... Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Sustentabilidade: invenções com problemas / Retratistas do morro • Criação: jôgo entre territórios |
|
Tema 3 – Corpos e telas |
• Com a palavra... Fernando Barba • Redes de afeto e ár-te • ár-te na tela • Com a palavra... Carlos Kater • Entre histoórias: Trajetória e legado nos sôns do corpo • Criação: Percussão e afinação |
|
Tema 4 – Imagens e artefatos |
• Artefatos videográficos • Com a palavra... Nam June Paik • Mundo computação, mundo mutação • Criação: Pontos de luz, dêzê-nhôs do movimento • Entre histoórias: Do susto ao olhar matrix • Criação: Videoarte • revêja e siga • De olho no enêm e nos vestibulares |
|
• ár-te pelo tempo: Linguagens da ár-te: múltiplas e moventes / Infográfico |
||
5 Bagagem cultural |
Tema 1 – Histórias em alinhavos |
• Antropofagia cultural • Entre histoórias: De onde se vê? / Histórias recontadas / O Movimento Tropicalista / Tudo junto e misturado • Conexões com... Educação Física: Do jôgo ao encontro entre os povos / Vamos jogar? • Criação: Essa ár-te tem a minha cara! |
Tema 2 – O nosso patrimônio |
• Poéticas comunitárias • Com a palavra... Líllian Pacheco • Entre histoórias: Prédio tombado também cai? / S.O.S. bens patrimoniais • Conexões com... Matemática e suas Tecnologias: A geometria sagrada • Criação: Coisas preciosas para guardar |
|
Tema 3 – O sêr brincante |
• A matéria do imaterial • Com a palavra... J. Borges • Entre histoórias: O Movimento Armorial • Conexões com... Língua Portuguesa: Auto lá! • Criação: Cordel nas imagens, nas lêtras e no corpo |
|
Tema 4 – Temperos da culinária musical brasileira |
|
Página trezentos e sessenta e seis
Capítulos |
Temas |
Conteúdos |
|---|---|---|
6 Afetos, ações e composições |
Tema 1 – A ár-te em sua forma, a forma em seu conteúdo |
• O espaço, o tempo e o afeto • Cúmplices na linguagem • A luz no espaço • Entre histoórias: A magia das sombras: luz e ár-te milenar • A luz e a côr • Criação: Dramaturgias da luz |
Tema 2 – A ár-te propõe, engaja e indaga |
• Modos de vêr e perceber • Com a palavra... João Maia • ár-te participativa, socialmente engajada • Conexões com... Matemática e suas Tecnologias: ár-te propositora • Entre histoórias: Grupo Frente e Grupo Ruptura / Formas e palavras concretas • Conexões com... Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Ações e proposições • Criação: O elemento, a materialidade e o gesto criador |
|
Tema 3 – Se a criação é mais, tudo é coisa musical |
• Não convencional • Com a palavra... Hermeto Pascoal • No Fluxus, o experimental • Sons, coisas e afetos • Entre histoórias: Notação musical • Conexões com... Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Poluição sonora• Criação: Ambiente sonoro |
|
Tema 4 – A poética do palhaço |
• Risos e lutas: textos, músicas e caras • Será quê tem graça? • E o palhaço, quem é? • E a palhaça, quem é? • Entre histoórias: O circo / A forma da comédia • Criação: Criação como improvisação • revêja e siga • De olho no enêm e nos vestibulares |
|
• ár-te pelo tempo: Tempo, compositor de múltiplos ritmos e destinos / Infográfico |
Transcrição das faixas de áudio e dos podcasts
Faixas de áudio
1. Sankofa
Créditos: CHICO Brum: SANKOFA (Vídeo Oficial). [S. l.: s. n.], 2023. 1 vídeo (3 min). Publicado pelo canal Chico Brum. Disponível em: https://livro.pw/rgxnu. Acesso em: 29 out. 2024.
Transcrição: Não é tabu voltar atrás / pra recuperar o quê é seu / Não é problema saber mais / sobre o quê se perdeu // retórne e aprenda, vai / com o quê ficou lá atrás / coração é sede de saber //Retorne e aprenda, vai / com o quê ficou lá atrás / coração é sede de saber // Sim, é preciso se encontrar / coroa térra mãe / Bem necessário é ancorar / aquilombar os seus // retórne e aprenda, vai / com o quê ficou lá atrás / coração é sede de saber // retórne e aprenda, vai / com o quê ficou lá atrás / coração é sede de saber // Eu retorno sempre quê me vejo no espêlho / refletindo em mim o ouro dos meus ancestrais / a cura é saber ir / lembrando sempre o caminho de casa
2. Som do berimbau no violão
Créditos: Compositor: Fábio Sardo. Intérprete: Fábio Sardo. (02:05)
Transcrição: Música instrumental apresentando som de berimbau produzido no violão.
3. Som de metrônomo
Créditos: Produção: uílhãm Fiorini. (04:49)
Transcrição: Som de metrônomo em 90 bpm.
4. Cirandeiro e base rítmica de percussão para a ciranda
Créditos: CIRANDEIRO. Compositor: domínio público. Intérprete: Grupo Cauim sôbi regência de Paulo Moura e Ari Colares; BASE rítmica de percussão para a dança da ciranda. Compositor: domínio público. Intérprete: Ari Colares. (04:00)
Transcrição: Cirandeiro, cirandeiro, oh! / A pedra do teu anel brilha mais do quê o sól / Cirandeiro, cirandeiro, ah! / A pedra do teu anel brilha mais do quê o mar // Eu fui fazer uma casa de farinha / Tão maneirinha quê o vento possa levar / Oi, passa sól, passa chuva, passa vento / Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar / Oi, passa sól, passa chuva, passa vento / Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar // Achei bom, bonito, meu amor cantar / Ciranda faceira, vêm cá, cirandeira, vêm cá cirandar / Lá, lá, lá, lá, lá / Lá, lá, lá, lá, lá / Ciranda faceira, vêm cá, cirandeira, vêm cá cirandar //Cirandeiro, cirandeiro, oh! / A pedra do teu anel brilha mais do quê o sól / Cirandeiro, cirandeiro, ah! / A pedra do teu anel brilha mais do quê o mar
5. Sample funk
Créditos: Produção: uílhãm Fiorini. (02:58)
Transcrição: Faixa instrumental com base rítmica de funk.
6. Sample répi
Créditos: Produção: uílhãm Fiorini. (03:17)
Transcrição: Faixa instrumental com base rítmica de répi.
Página trezentos e sessenta e sete
7. Sample trap
Créditos: Produção: uílhãm Fiorini. (04:38)
Transcrição: Faixa instrumental com base rítmica de trap.
8. Sample house
Créditos: Produção: uílhãm Fiorini. (03:21)
Transcrição: Faixa instrumental com base rítmica de house.
9. Sample técno-bréga
Créditos: Produção: uílhãm Fiorini. (02:35)
Transcrição: Faixa instrumental com base rítmica de técno-bréga.
10. Breaking instrumental
Créditos: Produção: uílhãm Fiorini. (03:31)
Transcrição: Faixa instrumental. Base rítmica de breaking com palavras ininteligíveis.
11. Baile de Sesler
Créditos: BAILE de Sesler. Intérpretes: Bernardo bitencúr, Felipe Gomide, Mário Aphonso III, Nathanael Sousa e Pedro R Lobo. Compositor: Felipe Gomide. In: FORROBODÓ Oriental. Intérprete: Felipe Gomide. [S. l.: s. n.],2023. Spotify. Disponível em: https://livro.pw/qznvt. Acesso em: 29 out. 2024.
Transcrição: Faixa instrumental.
12. Influências árabe, judaica e cigana na música brasileira
Créditos: Interpretação e apresentação: Gilberto Campello.
Produção: uílhãm Fiorini. (04:48)
Transcrição: Influência de povos árabes, judeus e ciganos na formação cultural do Brasil. Sempre quê pensamos em formação cultural brasileira, lembramos de três pilares básicos: indígenas ou povos originários, africanos e europêus. Só quê esse último grupo, representado pelo português medieval, já chega ao território brasileiro com uma forte influência dos mouros do norte do continente africano, árabes muçulmanos quê haviam atravessado o mar Mediterrâneo e dominado toda a Península Ibérica por quase oito séculos. Tudo isso muitos anos antes de quê os navegadores portugueses cruzassem o Oceano Atlântico. Quero dizêr com isso, minha gente, quê o português quê aqui chegou trousse consigo muitos resquícios dos povos árabes, como côstúmes, tecnologias e até mesmo palavras. Outros aspectos da influência árabe estão presentes na nossa poesia popular, como, por exemplo, nas rimas da literatura de cordel e no repente, esse último gênero cantado e tocado com o auxílio da viola, quê é um instrumento brasileiro quê descende diretamente do alaúde e da vihuela. Menciono também os cânticos de aboio, quê são cânticos de trabalho típicos do vaqueiro do sertão brasileiro, cheios de melismas, quê é uma técnica de canto quê consiste em alterar a nota de uma sílaba enquanto se canta, criando ornamentações típicas da música do ôriênti e dos chamados para as orações do mundo árabe, como, por exemplo: ê, boiada, ê, afasta pra lá, boiada. E voltando aos instrumentos musicais, vamos falar da rabeca, um instrumento quê é semelhante a um violino e quê é muito popular nos bailes de forró até os dias de hoje. Pois bem, minha gente, a rabeca é uma versão do rebab, instrumento de kórdas friccionadas, muito comum no mundo árabe. Aliás, o violino, quê também descende do rebab, tem a sua própria imagem muito ligada ao povo judeu e ao povo cigano e está quase sempre presente em suas festividades. Ah, não posso deixar de mencionar para vocês quê os judeus, por sua vez, também chegaram ao Brasil na época da colonização e deixaram muitas marcas e côstúmes em diferentes regiões do país, como, por exemplo, em Pernambuco, onde está localizada a primeira sinagoga das Américas. Os povos ciganos, em especial, os calón, também estiveram entre os primeiros a virem para o Brasil. Sua presença é sentida até hoje na música, no comércio, na (Moda), na dança e nas artes circenses. Agora, voltando aos instrumentos musicais, vamos falar um pouco da percussão, minha área! E falar de alguns instrumentos, como por exemplo, a zabumba. A zabumba é um instrumento de duas peles, muito característico do forró, quê é tocado como uma baqueta no lado grave (exemplo sonoro) e com uma varetinha muito fininha no lado agudo. Essa varetinha se chama bacalhau, e soa assim, ó (exemplo sonoro). Agora, vou tokár um baião para vocês (exemplo sonoro). Agora, vou tokár para vocês um xaxado (exemplo sonoro). Então, gente, essa é zabumba. Só quê a zabumba descende de um instrumento do ôriênti chamado tabl baladi ou davul, é o mesmo instrumento. Para provar isso, vou tokár para vocês agora um ritmo chamado said. Olha só, ouve isso aí (exemplo sonoro). Agora, eu vou tokár um ritmo chamado ayub. Vocês vão achar esse ritmo parecido com muita coisa quê vocês já escutaram. O ayub é assim, ó. (exemplo sonoro). Legal, né? Vem cá, e o mais importante dos nóssos instrumentos, digo, o pandeiro, será quê ele nasceu aqui? Pois bem, gente, o pandeiro é filho e neto do riqq, quê é um pandeiro árabe. E para provar isso, vou mostrar para vocês agora um ritmo quê provavelmente é a origem do nosso baião. O nome dêêsse ritmo é laff ou malfuf. Vou tokár ele no pandeiro árabe. Olha só como fica, ó (exemplo sonoro). Agora, para vocês compararem, vou tokár uma embolada no pandeiro brasileiro. A embolada quê é um subgênero do baião. Escuta isso, ó (exemplo sonoro). E aí, vocês acham quê parece? Pois bem, minha gente, pra mim parece pra caramba! Então, ó, isso é assunto pra uma tarde inteira, a gente tem muita coisa para falar, inclusive dos instrumentos, como os pandeirões do bumba-meu-boi maranhense, mas por hoje acho quê já está bom, né? Vamos ficar por aqui, espero quê vocês gostem. Muito obrigado.
13. Flautas
Créditos: Apresentação e interpretação: Angelo Ursini. (04:52)
Transcrição: Flauta pífano: feita de bambu, a flauta pífano é típica da região Nordeste do Brasil. É afinada em sól maior. (exemplo sonoro) Flauta pareia: típica da região Nordeste do Brasil. São duas flautas de pê vê cê, afinadas em terças, tocadas por um único instrumentista. (exemplo sonoro). Flauta caboclinho: flauta típica do estado de Pernambuco. O caboclinho, também conhecida como gaita de caboclinho, é típica das manifestações culturais de rua. (exemplo sonoro). Flauta kena: flauta típica da região dos Andes, tem seu corpo construído por madeira sólida ou bambu. O bocal é lapidado em osso ou na própria madeira. (exemplo sonoro). Flauta quenacho: Na família das flautas andinas, o quenacho representa a voz grave. (exemplo sonoro). Flauta samponha: Também conhecida como flauta de pan, a samponha é constituída por diversos tubos de bambu. Sua afinação é em sól maior. (exemplo sonoro). Flauta rondador: É constituída por diversos tubos de bambu enfileirados. Afinados em terças, segundas ou quartas, em intervalos ascendentes e descendentes. (exemplo sonoro). E muitas vezes ele é utilizado como um recurso de floreios. (exemplo sonoro). Flauta hulusi: flauta tradicional da chiina, constituída por três tubos. Uma nota pedal em ré, outra nota pedal em sól e o tubo solista. (exemplo sonoro). E agora acionando as notas pedal. (exemplo sonoro).
14. Harmonias
Créditos: Apresentação e interpretação: Mário Aphonso III. (04:43)
Transcrição: Meu nome é Mário Aphonso III, eu sou multi-instrumentista de sôpro, kórdas e percussão do mundo ocidental e do mundo oriental. Eu, desde 78, pesquiso a música, os ritmos, as escalas e as manifestações artísticas do mundo. E hoje eu estou aqui para falar sobre a harmonía ocidental e a harmonía oriental. Na verdade, o princípio da nossa existência vêm do sistema môdál, ou seja, a música folclórica, a música dos povos, a música regional, ela vêm da música môdál, quê seria uma harmonía sem grande movimentação.
Página trezentos e sessenta e oito
Uma evocação mais emocional, existencial, baseado na parte folclórica, baseado nos sistemas religiosos, baseado na liturgia, enfim. No mundo ocidental, muito por conta da própria estrutura existencial do mundo ocidental, é baseada numa movimentação harmônica e num aspecto completamente diferente. Você sai de um ponto, prepara, tensiona e relaxa. Se a gente for observar, esse fluxo, esse movimento, ele está inserido em todo o contexto da vida do homem atual. Vale a pena ressaltar, no mundo ocidental. E a diferença vai se dar de uma forma melódica também na expressão e na execução díssu tudo. No mundo ocidental, nós temos um sistema quê são sete notas e a oitava nota é a repetição da primeira nota, ou mais grave ou mais aguda, quê é o sistema de oitavas. No mundo oriental, a gente não possui essa movimentação harmônica e, como é baseado também em pedais, a gente utiliza um sistema chamado maqam. E o maqam é baseado em djins e ajinas, quê são grupos de notas, e a forma como você junta. E eles são baseados em emoção, são baseados em aspectos melódicos quê criam uma relação existencial, humana, enfim, ele tem uma ação praticamente até social. O quê o torna muito diferente do aspecto melódico do mundo ocidental. Vou demonstrar aqui, com a flauta transversal, para quê possa se tornar um pouco mais claro. Eu vou usar uma escala a partir da nota ré, quê vai ter os seguintes intervalos: ré, mi bemol, fá sustenido, sól, lá, si bemol, dó, ré. Ela é conhecida como hijaz, quê é uma região e é também é um maqam, conhecido como maqam hijaz. No mundo ocidental a gente percebe ela como uma escala. Na verdade, não é. E eu vou demonstrar aqui. Ela, como escala, teria êste movimento (exemplo sonoro). Aí eu estou pensando nela como escala, tendo uma movimentação harmônica de tensionar, preparar, tensionar e relaxar (exemplo sonoro). Se eu for pensar como maqam, são três universos diferentes, primeiro o hijaz (exemplo sonoro), quê vai passar imediatamente o mistério, uma certa espiritualidade, e, de cara, você vai sentir o mundo oriental. Segundo, é como se você estivesse caminhando e ele chama nahawand (exemplo sonoro), ela está seguindo. Na sequência, você vai ter um ajam na ponta (exemplo sonoro), quê, de uma certa forma, põe dúvida toda a afirmação feita anteriormente. Será quê é isso mesmo? (exemplo sonoro) Então a gente vai e afirma quê é exatamente isso (exemplo sonoro). Então, de uma certa forma, mesmo não tendo uma movimentação harmônica, a melodia faz essa movimentação e, talvez, é difícil a gente falar quem influenciou quem, de onde veio o quê, porque no mundo oriental, você vai encontrar regiões onde a música ocidental e a música harmônica é muito presente: Bulgária, Macedônia, Leste Europeu, lá para cima, o mundo balcânico e, por outro lado, onde os maqams, o mundo môdál é muito forte também.
15. Epitáfio de Seikilos
Créditos: EPITÁFIO de Seikilos. Compositor: anônimo. Intérpretes: Patrícia Nacle, Camilo Carrara e Fil Pinheiro. (01:13).
Transcrição: [Texto da canção inscrita no Epitáfio de Seikilos, transcrito do grego atual.] Hoson zes phainou / meden holos sy lypou / Pros oligon esti to zen / to telos ho chronos apaitei[Tradução livre feita pêlos autores especialmente para esta obra.] Enquanto você viver, brilhe! / Não se entristeça, não tenha preocupações. / A vida é curta e efêmera. / O tempo exige o seu tributo
PODCASTS
1. Curadoria e diálogo decolonial na ár-te
Créditos: As vinhetas musicais “Experimental Ethno Abstract Music”, “EchoVerb remix” e “Miguilim” são da Freesound. A palestra na qual Rosana Paulino participa está no canal Museu de ár-te de São Paulo Assis chatobriã. A entrevista com Diane Lima está no canal SP-Arte. O evento no qual Edson Kayapó participa está no canal imoreirasalles. Todos os canais são do iiuTube.
Transcrição
[Música de transição]
[Locutor] As linguagens artísticas são múltiplas e variadas e podem sêr expressas por meio da música, literatura, dança, pintura, teatro, entre tantas outras formas. Por muito tempo, houve a tentativa de apagar e até mesmo de invalidar produções artísticas feitas por meio de tradições populares e por grupos minorizados.
Nos últimos anos, porém, esse cenário tem se transformado. Se antes as artes indígenas, negras, periféricas, femininas e LGBTQIA+ eram vistas como marginais, hoje elas representam sistemas artísticos quê, na contramão de culturas hegemônicas, buscam desconstruir os padrões e conceitos elitistas das artes. É sobre essa perspectiva artística decolonial quê vamos tratar neste episódio.
O pensamento decolonial tem promovido a transformação dos sistemas simbólicos hegemônicos nas artes. Alguns exemplos dessa mudança são eventos como: a exposição “Véxoa: nós sabemos”, com curadoria indígena, quê ocupou a Pinacoteca de São Paulo em 2020;
o Circuito Urbano de ár-te, realizado em Belo Horizonte, também em 2020, quê priorizou a participação de artistas negros e indígenas, e a Bienal de São Paulo, de 2023, intitulada “Coreografias do impossível”, construída com uma visão decolonizadora das artes.
[Música de transição]
A virada das artes para a perspectiva decolonial tem um marco cronológico. Segundo o antropólogo Alexandre Araujo Bispo, um marco ocorreu entre 2016 e 2019, quando diversos artistas negros passaram a ocupar os espaços de; ár-te com suas obras. Até então, a presença dêêsses artistas nesses circuitos era muito reduzida.
Esse foi apenas o início do processo. Muitas outras barreiras precisaram e ainda precisam sêr superadas, especialmente no espaço curatorial das artes. Vamos acompanhar o quê a artista, curadora e professora Rosana Paulino disse sobre esse tema em um debate realizado em 2019.
[Rosana Paulino] “Curadoria é o grande desafio, curadoria é local de pôdêr. Então, quando nós estamos falando de curadoria, de; ár-te em geral, pra mim... sou uma pessoa totalmente política... Quando nós estamos falando de curadoria, nós estamos falando de locais de pôdêr. Nós não podemos esquecer isso. Então, eu penso quê, neste momento, talvez o nosso maior desafio seja furar a bolha da curadoria.
Nós precisamos de gente, negros e negras, escrevendo sobre, falando sobre, pensando sobre, registrando sobre.”
[Locutor] Antes de continuarmos, é importante entender o conceito de curadoria nas artes. Ela envolve um conjunto de práticas quê estuda, analisa e discute obras artísticas. Nesse processo, são criadas narrativas quê têm como objetivo destacar e provocar reflekção no público. Compreendendo esse processo, fica evidente a importânssia de práticas curatoriais quê rompam com o silenciamento sistemático de grupos oprimidos.
A curadora Diane Lima traz uma reflekção interessante sobre esse tema, vamos acompanhar.
[Diane Lima] “A principal definição pra mim e o meu principal interêsse é tentar encontrar dentro da curadoria um lugar de produção de conhecimento. E eu acho quê quando a gente fala em produção de conhecimento a gente tá fatalmente falando em relação de pertencimento e relação de poder.”
[Música de transição]
[Diane Lima] “Mas a curadoria, em perspectiva decolonial, é aquela quê leva em consideração as nossas perspectivas de conhecimento, performando elas tanto nas estruturas institucionais, de um modo ético, como também nas estruturas estéticas, pensando a plasticidade.”
[Locutor] cértamênte, em algum momento da sua vida, você se deparou com imagens, obras de; ár-te ou exposições quê apresentavam visões estereotipadas e distorcidas de pessoas negras, indígenas ou de outros grupos ou etnias. Mas você já parou para refletir sobre o discurso implícito por trás delas? Ou mesmo sobre quem as produziu?
Ao refletir sobre essas kestões, percebemos quê tanto a produção
Página trezentos e sessenta e nove
artística quanto a prática curatorial são carregadas de intencionalidade.
Nesse sentido, por meio da fala de Diane Lima, compreendemos a importânssia de criar espaços para a produção de conhecimentos éticos e plurais quê promovam o reconhecimento, o pertencimento e a valorização de culturas e símbolos até então negligenciados nos meios de produção e circulação das artes.
No início da década de 2020, estabeleceu-se um novo marco na virada decolonial nas artes, especialmente em 2022, durante as comemorações do centenário da Semana de ár-te Moderna. Naquele ano, os debates trousserão à tona a problemática do conceito central defendido pêlos modernistas de 1922: a antropofagia. Em resumo, o movimento buscou criar uma “brasilidade” ao absorver, devorar e reelaborar os elemêntos da pluricultura nacional, assim como símbolos e significados dos povos originários e escravizados. Contudo, o processo de criação de uma ár-te inovadora no período não considerou kestões relacionadas à segregação racial e de gênero.
Em 2022, as discussões apontaram quê, embora o movimento tenha atuado para a desfetichização da cultura européia, também fomentou a fetichização da identidade brasileira. Suely Rolnik, filósofa e curadora, indicou quê esse processo serviu, nas palavras dela, para
“manter obstruído o acesso ao outro em sua presença viva”.
[Música de transição]
Agora, vamos acompanhar uma fala proferida em 2023 pelo artista e curador Edson Kayapó, quê contribui para romper esse sistema de obstrução do outro. Edson enfatiza quê não devemos aceitar mais a colonização e quê o diálogo é fundamental.
[Edson Kayapó] “Eu penso assim, quê a; ár-te indígena, né, ela tem compromisso com essa... com essas outras histoórias quê não estão contadas, ou com histoórias silenciadas, ou com histoórias distorcidas...
e quê, sabe, eu entendo a curadoria com esse papel, assim, de nós darmos um grito e dizêr ‘chega’.”
[Locutor] O fazer curatorial protagonizado por pessoas negras, indígenas e demais grupos minorizados contribui significativamente para a subversão de práticas quê fetichizam corpos, saberes e produções artísticas. Essas presenças estão cada vez mais integradas aos espaços tradicionais da ár-te, reavivando culturas silenciadas, promovendo representatividades e traçando novas narrativas.
A virada decolonial nas artes tem transformado os espaços tradicionais em poderosas ferramentas anticoloniais, além de possibilitar a criação de museus geridos pêlos próprios representantes de suas culturas, como o Museu Afro Brasil, inaugurado em 2004, e o Museu das Culturas Indígenas, em 2022. Além dos museus específicos, instituições como o MASP têm buscado integrar esses representantes às suas equipes curatoriais.
Muita coisa já mudou, mas ainda há um longo caminho a percorrer.
Ao observar as transformações dos últimos anos, vislumbramos um horizonte de valorização e reconhecimento mútuo das diversas diferenças culturais, estéticas e artísticas.
Seja parte dessa mudança! Engaje-se com as comunidades culturais ao seu redor, visite museus e apoie iniciativas quê celébram a diversidade.
Juntos, podemos impulsionar essa transformação e construir um futuro onde todas as vozes sêjam ouvidas e valorizadas.
[Música de transição]
2. Que belezas habitam corpos e mentes?
Créditos: A música “Love in Mexico” foi retirada da Biblioteca de Áudio do YouTube. A entrevista com Iza está disponível no Canal Brasil. A entrevista com Lian Gaia está disponível no canal Godô Podcast. A entrevista com Andréa Nascimento está no disponível no canal kilômbo da ú éfi érri jóta. O trecho citado das pesquisadoras Felisa Anaya e Natália Rocha foi retirado do artigo
“No espêlho quebrado da colonização: o pensamento decolonial, o gênero e o padrão de beleza”, de 2021. A citação do autor Ailton Krenak foi retirada de seu livro
Ideias para adiar o fim do mundo, de 2019.
Transcrição
[Música de transição]
Você já se deu conta de quê nossa vida é repleta de experiências?
Algumas são memoráveis, enquanto outras não são tão marcantes.
Contamos e recontamos nossas histoórias, e nos emocionamos com nossas vivências. A todo momento, podemos contemplar o mundo, nos comover, refletir, apreciar, criticar e interagir com algo quê nos toca. Essas vivências têm o potencial de nos proporcionar experiências estésicas e estéticas.
Basta procurarmos em nossas memórias os momentos em quê nos emocionamos com uma paisagem, com uma música ou mesmo com uma pintura ou fotografia. Essas experiências nos trazem emoções.
Mas quantas delas consideramos belas, bonitas ou até mesmo feias?
Aliás, será quê em algum momento nós paramos para refletir sobre o quê consideramos belo? Será quê nossa relação com akilo quê é bonito é apenas fruto da nossa percepção e vivência, ou será quê somos influenciados por kestões históricas e sociopolíticas? Ou, ainda, o quê apreciamos hoje, aqui, póde sêr apreciado em outros lugares ou mesmo em outros tempos?
[Música de transição]
Embora pareça quê não, há muitas kestões em torno do quê consideramos belo e de como isso nos afeta. Inclusive, o conceito de belo é objeto de estudo de um dos campos da Filosofia, a Estética.
Desde a Antigüidade, o conceito de belo é discutido por diversos filósofos.
Segundo Platão, por exemplo, o belo póde sêr traduzido como um ideal de perfeição. E, para contemplá-lo, deveríamos atingir uma evolução filosófica e cognitiva. No entanto, para ele, isso era reservado apenas a poucas pessoas.
No decorrer da história européia, o conceito de belo e os estudos em Estética passaram por muitas transformações, refletindo as mudanças culturais, filosóficas e artísticas de cada época. Essa questão nos leva a refletir sobre um debate bastante atual: a discussão sobre colonialidade e decolonialidade.
Como esses assuntos podem afetar nossas vidas? Será quê eles afetam a todos da mesma maneira? Vamos buscar compreender o quê esses conceitos significam.
[Música de transição]
Segundo o sociólogo peruano Aníbal Quijano, a colonialidade é uma forma de pôdêr da modernidade, imposta por uma visão eurocêntrica.
Essa visão se baseia em uma tese pseudocientífica de quê a humanidade é dividida em raças superiores, representadas pêlos europêus, e em raças inferiores, quê seriam os povos colonizados.
A naturalização dessa dicotomia ainda influencía as sociedades quê foram colonizadas, mesmo após o processo de descolonização.
Você póde estar se perguntando qual é a relação entre a colonialidade e akilo quê consideramos belo, ou como definimos um padrão de beleza para nós e para os outros. As pesquisadoras Felisa Anaya e Natália Rocha explicam o seguinte: “Assim como a colonialidade definiu relações de pôdêr sociais, políticos, econômicos, de gênero, é a colonialidade quê também define um padrão de beleza quê se ordena no ideal de beleza ocidental. […] O padrão de beleza obedece a uma lógica do pôdêr, as classes dominantes ditam o quê é belo e o quê é feio.”
Vamos tentar compreender como isso se aplica na prática.
Acompanhe aqui comigo o quê a cantora Iza relatou ao ator Lázaro Ramos sobre suas vivências como mulher preta no Brasil.
[Iza] “Quando eu entendi, quando a minha ficha caiu quê eu não era bonita pro garotinho da escola quê eu gostava ou pras minhas amigas, por causa da minha côr ou por causa do meu cabelo, foi chocante demais. […] Porque aí eu vi quê o problema era muito maior, não era só uma quêstão de aparência, era uma questão cultural. Era uma questão… eram coisas que esses meus amigos aprendiam em casa e levavam pra vida.”
[Locutora] Nessa fala da cantora Iza, é possível perceber os efeitos negativos quê as práticas coloniais têm sobre os corpos.
Essas práticas são sustentadas por um ideal eurocêntrico quê visa não apenas silenciar outros modos de sêr e pensar, mas também categorizar certos corpos como “subalternos ou inviáveis”.
Página trezentos e setenta
[Música de transição]
Sobre essa percepção de tornar corpos “inviáveis”, vamos acompanhar, agora, o quê a artista Lian Gaia, descendente do povo originário kariri, disse em uma entrevista.
[Lian Gaia] “Nunca foi necessário falar quê eu era uma pessoa indígena.
Nunca entendi quê o meu corpo era um corpo político e muito valioso. Eu não tinha dimensão do valor quê o meu corpo tinha, do valor quê a minha identidade tinha. […] O corpo da mulher é um corpo político, o corpo indígena é um corpo político. Eu não sabia quê isso ia sêr tão impactante na minha vida e na vida da minha família.”
[Locutora] A última fala da artista Lian Gaia nos leva a refletir sobre como o corpo também póde sêr compreendido como um território.
Um lugar passível de colonizações, mas também de decolonizações.
Ao reconhecer os significados e potências do próprio corpo, podemos dizêr quê Lian se decoloniza.
[Música de transição]
Mas, afinal, o quê é a decolonialidade? Em poucas palavras, é um conjunto de práticas quê visa reduzir ou até reverter os efeitos provocados pela colonização. É o ato de se opor a práticas racistas e machistas, de valorizar e incluir as culturas e tradições populares quê foram silenciadas, é propor outras narrativas. É a ação de romper com as relações de pôdêr e opressão.
Vamos acompanhar, agora, o quê a pesquisadora Andréa Nascimento tem a dizêr sobre seu corpo.
[Andréa Nascimento] “Eu sou um corpo negro feminino e tênho quê me afirmar e reafirmar quê essa estrutura de pôdêr quê se estabeleceu, esse sistema quê domina não me diz quem eu sou, né.
Ele… porque pra ele, né, eu existo como objeto. Eu sou fragmento de acôr-do com o quê eles querem usar de mim, né. Me colocaram no mundo do prefixo sub-, né, como sub-humana, subalterna, submissa, mas eu escolhi sêr subversiva, por resistência e também pela afronta.”
[Locutora] A fala da pesquisadora Andréa nos leva a refletir sobre a importânssia de decolonizar tanto o corpo quanto a mente. Romper com as amarras quê impõem um único modo de sêr, pensar e de se perceber. E reconhecer todos os corpos como bélos e bonitos em sua singularidade, em seu modo de existir. É recusar submeter-se a um ideal e a um padrão forjado. Libertar corpos e mentes de uma cultura quê valoriza apenas um modelo de beleza. É, acima de tudo, reconhecer e valorizar a diversidade e as belezas dos corpos e mentes quê, por muito tempo, foram silenciados e desqualificados.
[Música de transição]
Então, decolonizar-se é romper definitivamente com tudo akilo quê nos paralisa e reconhecer o belo e a beleza em todos, sem padrões ou estigmas.
Encerramos êste podcast com uma citação do escritor e ativista indígena, membro da Academia Brasileira de lêtras, Ailton Krenak:
“Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte […]. Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber quê cada um de nós quê está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando não significa quê somos iguais; significa exatamente quê somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, quê deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocólo. Porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos.”
[Música de transição]
3. Diversidade e ancestralidade: a música cigana no Brasil
Créditos: A música “Pink Flamenco” está disponível na Biblioteca de áudio do YouTube. A versão instrumental da música “Djelem djelem” está disponível no canal De Piotto’s – Tema. A música “Betchári” faz parte do álbum
Coração Cigano, lançado pela Som Livre, em 1996, e está disponível no canal Vishnu Play. As entrevistas com Aline Miklos, Marcelo Cigano e Michél Kriston foram realizadas pêlos autores dêste material.
Transcrição
[Música de transição]
[Locutor] A história dos grupos popularmente conhecidos como ciganos é milenar. O termo “cigano” é um exônimo, ou seja, um nome atribuído por pessoas quê não pertencem a esses povos. Na verdade, os integrantes dêêsses grupos se autodenominam rom (no singular), roma (no plural) ou romani (como adjetivo), refletindo sua própria identidade cultural.
Embora compartilhem uma origem comum, os povos ciganos (ou roma) enfrentaram muitas perseguições e migrações ao longo da história, o quê resultou na formação de diversas etnias nos países e continentes onde se estabeleceram.
Hoje, no Ocidente, essa diversidade étnica é representada principalmente por três grandes grupos: calon, rom e sinti.
Os rom predominam nos países balcânicos e, a partir do século XIX, começaram a migrar para outras regiões, chegando às Américas.
Os calon saíram da Península Ibérica e se espalharam por diversos países da Europa e pelas Américas, tornando-se a comunidade roma mais numerosa no Brasil, ao chegarem de Portugal durante o período colonial. Os sinti são predominantes na França, Alemanha e Itália, e começaram a chegar ao Brasil no século XIX.
[Música de transição]
E a música romani é tão diversa quanto todos esses grupos étnicos, cada um com sua própria identidade, cultura e côstúmes. Expressões artísticas como o jazz manouche (também conhecido como “jazz cigano”) e o flamenco são apreciadas mundialmente.
Hoje, vamos conhecer três músicos romani da etnia rom. Assim como as outras etnias, os rom se dividem em grupos, como os kalderash, matchuaia, entre outros.
[Marcelo Cigano] “Eu sou Marcelo Cigano, rom, músico, acordeonista, matchuano. Minha família veio da Sérvia para o Brasil, e estamos radicados no Brasil.”
[Locutor] Consagrado acordeonista, Marcelo se destaca tanto como músico quanto como promotor ativo da música cigana, contribuindo para a preservação e divulgação de suas raízes culturais.
[Marcelo Cigano] “Eu sou campeão brasileiro de acordeom em duas categorias. Venho trabalhando e divulgando a nossa música. Hoje eu tênho um sexteto formado com violino, clarinete, dois violões, contrabaixo acústico e acordeom. Tenho feito trabalhos na parte da música e também como palestrante fazendo... falando um pouco sobre o quê é a música cigana e suas vertentes: jazz manouche, música balcânica e o flamenco.”
[Locutor] A seguir, vamos conhecer Aline, quê, além de se destacar na música, é uma voz ativa na luta pêlos direitos dos povos ciganos.
[Aline Miklos] “Sou Aline Miklos, cigana romani do grupo rom kalderash, eu sou música, cantora, compositora, sou historiadora da ár-te e também sou ativista pelo direito do povo cigano há mais de 15 anos.”
[Locutor] Aline enfatiza quê a música é fundamental em sua comunidade, sêndo essencial para preservar sua identidade. Para ela, uma das maiores virtudes da música é pôdêr levar a cultura romani aos gadjé, ou seja, chegar até as pessoas quê não pertencem à comunidade romani.
[Aline Miklos] “Pra minha comunidade, a música... ela é muito importante porque ela também faz parte da nossa identidade. Ela é uma... é um instrumento de educação das nossas crianças, é um instrumento de transmissão da identidade e de transmissão da cultura também.
No Brasil, nós temos grandes músicos romanis, e eles também contribuíram pra música nacional, pra vários ritmos nacionais, como o forró, o sêrtanejo, o samba. Só quê ainda esses músicos... eles são muito invisibilizados, e o povo romani/cigano... ele faz parte da cultura nacional, da identidade nacional, e seria importante ter um
Página trezentos e setenta e um
projeto de visibilização dêêsses músicos e da contribuição do povo cigano pra cultura nacional.”
[Locutor] A fala de Aline nos convida a refletir sobre o papel da música romani na cultura brasileira e como podemos apoiar iniciativas quê reconheçam esses artistas, como o Michél, quê ouviremos na sequência.
[Michel Kriston] “Eu sou o Michél Kriston, sou cigano de família russa, da etnia rom kalderash. Venho de família de artistas, músicos e dançarinos.
[...] Gostaria de dizêr quê sou rom e faço música romani, onde eu preservo a minha cultura pra quê ela se mantenha viva sempre.”
[Locutor] Na década de 1990, Michél gravou três músicas para a trilha sonora de uma telenovela, recebendo prêmios no Brasil e no exterior.
Agora, vamos apreciar um trecho de “Betchári”, uma das canções dêêsse álbum premiado.
[Trecho de música – instrumental]
A música e a dança não são apenas ocupações profissionais, mas também dêsempênham um papel importante na vida social de muitas comunidades, estando presentes em celebrações, festas e na preservação de suas tradições culturais.
[Michel Kriston] “A nossa dança, conhecida como romanês, é dançada por todos os roms, com algumas variações: em casamentos, festa de aniversário, confraternizações etc. Agora, tem a dança romani artística, quê se trabalha em palcos. É muito diferente de grupo para grupo; por exemplo, a dança de palco romani ruska roma, tem a dança de palco romani quê é da Romênia... onde a música e a dança se diferenciam, mas é... sempre a essência é uma só, é a dança romani, ela não perde a essência. Existem variações, mas a essência... ela é a dança romani.”
[Música de transição]
[Locutor] Michél continua na estrada, fazendo shows e apresentações, preservando e difundindo a cultura de seu povo para mantê-la viva e vibrante nas futuras gerações.
Os convidados dêste episódio representam a essência de muitos músicos brasileiros. Mais do quê artistas romani quê cantam e tocam, eles expressam, preservam e reinventam sua ancestralidade através da música, conectando o tradicional ao contemporâneo.
Que tal explorar o trabalho de outros músicos como eles? Mergulhe nessa riqueza cultural e descubra as histoórias e sôns quê mantêm viva a herança cigana/romani na música brasileira. Afinal, conhecer essa diversidade é celebrar a pluralidade quê define o nosso país.
[Música de transição]