Página 196
UNIDADE 4
ENERGIA E SERES VIVOS
Você já ouviu falar na física polonesa Marie Sklodowska Curie (1867-1934)? Seus estudos foram essenciais para desenvolver os conhecimentos sobre radioatividade de alguns elementos químicos, como o rádio abre parênteses R a fecha parênteses e o polônio abre parênteses P o fecha parênteses. Graças a essas contribuições, Marie Curie recebeu dois Prêmios Nobel: um de Física e outro de Química. A exposição prolongada a elementos radioativos no seu trabalho cotidiano teve impactos negativos em sua saúde. Marie faleceu aos 67 anos de anemia aplástica, uma condição grave relacionada à sua frequente exposição aos elementos radioativos.
Atualmente, a radioatividade tem diversas aplicações benéficas, sendo utilizada, por exemplo, na produção de energia pelas usinas nucleares e na radioterapia, como tratamento contra o câncer. No entanto, se não utilizada de maneira adequada e com cuidado, pode representar risco ao ambiente e aos seres vivos, incluindo danos ao material genético.
a ) O legado de Marie Curie continua influenciando de maneira significativa o avanço da Ciência até os dias atuais. Você conhece outras cientistas cujos trabalhos tiveram um impacto importante nos estudos científicos? Converse com os colegas sobre exemplos de contribuições femininas notáveis na Ciência.
b ) Como citado no texto, a exposição à radioatividade pode ser prejudicial ao ser humano. Você já ouviu falar de algum acidente com radioatividade?
c ) Como você acha que a radioatividade pode ser relacionada a danos para o ambiente e para os seres vivos?
d ) O que é material genético?
Respostas nas Orientações para o professor.
Nesta unidade, vamos estudar...
- matriz elétrica brasileira;
- impactos das usinas elétricas;
- demanda energética;
- radiação ionizante;
- radiação não ionizante;
- ciclos celulares;
- espermatogênese;
- ovogênese;
- manifestação das informações genéticas;
- engenharia genética;
- probabilidade genética;
- transmissão da informação genética;
- leis de Mendel;
- heredograma;
- padrões de dominância não mendeliana;
- cromossomos sexuais.
Página 197

Página 198
CAPÍTULO11
Energia elétrica e meio ambiente
Matriz elétrica brasileira
Os gráficos apresentados a seguir se referem às matrizes elétricas brasileira e mundial. Analise-os e responda às questões.
Fontes de geração de energia elétrica no Brasil (%) (2023)
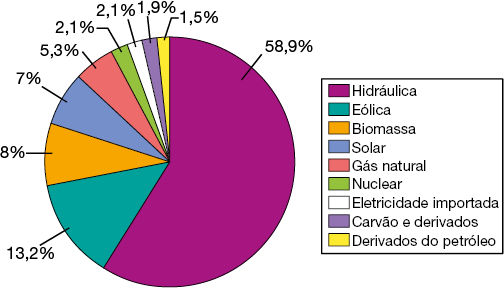
Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Relatório síntese 2024: ano base 2023. Rio de Janeiro: EPE, 2024. p. 38. Disponível em: https://s.livro.pro/63kzcr. Acesso em: 12 set. 2024.
Fontes de geração de energia elétrica mundial (%) (2021)
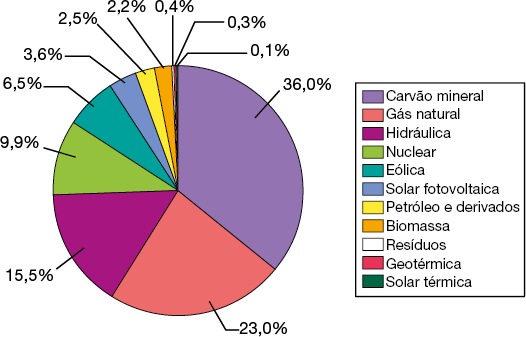
Fonte de pesquisa: MATRIZ energética e elétrica. Empresa de Pesquisa Energética. Disponível em: https://s.livro.pro/HuVw2W. Acesso em: 12 set. 2024.
1. Qual é a fonte de geração de energia elétrica mais utilizada no Brasil? Em sua opinião, por que há predomínio dessa fonte?
Resposta: É a hidráulica. Espera-se que os estudantes comentem que, no Brasil, grandes rios percorrem diferentes regiões. Além disso, os índices de precipitação e o relevo contribuem para a exploração desse tipo de fonte de energia no país.
2. O que é possível afirmar sobre o uso de recursos renováveis e não renováveis na matriz elétrica brasileira?
Resposta: As fontes de energia renováveis representam cerca de 87% das fontes utilizadas (desconsiderando a eletricidade importada). As fontes de recursos não renováveis representam uma pequena parcela, sob a forma principalmente de carvão, gás natural e derivados do petróleo.
3. Analisando os gráficos desta página, o que você pode concluir a respeito da matriz elétrica mundial, comparada à matriz elétrica brasileira?
Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que a matriz elétrica mundial é composta predominantemente por fontes não renováveis de energia, como carvão mineral e gás natural, que correspondem a quase 60% dessa matriz. Já no caso do Brasil, apesar de a maior parte das fontes de energia ser de recursos não renováveis, o uso de fontes renováveis de energia é maior do que o apresentado para a matriz energética mundial. No caso do Brasil, esse tipo de recurso corresponde a cerca de 87,1% das fontes de energia (hidráulica, 58,9%; eólica, 13,2%; biomassa, 8%; solar, 7%).
A capacidade de geração de energia elétrica e o tipo de fontes de energia variam entre os países. No ano de 2022, por exemplo, o Brasil ocupava o segundo lugar em capacidade instalada de geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas, sendo esse ranking liderado pela China. Já a capacidade instalada de geração de energia elétrica nuclear, nesse mesmo ano, era encabeçada pelos Estados Unidos.
As variações nas matrizes elétricas dos países são resultado de diferentes fatores, entre eles políticas públicas, desenvolvimento tecnológico, rentabilidade e disponibilidade de recursos naturais. A seguir, vamos abordar alguns desses fatores e sua interferência na matriz elétrica de um país.
Página 199
Uso de recursos naturais
Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente no ambiente e de maneira rápida, de modo a não prejudicar sua disponibilidade. Já os recursos naturais não renováveis são os que têm uma renovação extremamente lenta, levando até bilhões de anos para isso ocorrer. Ou seja, sua reposição não acompanha o consumo, por isso esses recursos podem se exaurir no ambiente. Então, como foi possível perceber ao analisar os gráficos da página anterior, a matriz energética brasileira se baseia principalmente em recursos naturais renováveis, especialmente a água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses.
O perfil da matriz energética brasileira se modificou e incluiu novas tecnologias ao longo do tempo, como apresentado a seguir.
| Ano / Fonte | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar | Nuclear | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1982 |
33.156 |
6.190 |
0 |
0 |
0 |
39.346 |
|
1992 |
47.709 |
6.684 |
0 |
0 |
657 |
55.050 |
|
2002 |
64.474 |
13.813 |
22 |
0 |
2.007 |
80.315 |
|
2012 |
84.294 |
32.778 |
1.892 |
2 |
2.007 |
120.973 |
|
2022 |
109.721 |
46.284 |
23.744 |
7.387 |
1.990 |
189.127 |
Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Balanço energético nacional 2023: ano base 2022. Rio de Janeiro: EPE, 2023. p. 176-177. Disponível em: https://s.livro.pro/ogy9y3. Acesso em: 11 set. 2024.
4. O que é possível dizer a respeito da tendência energética no Brasil ao longo do tempo?
Resposta: A energia hidráulica se mantém predominante no Brasil desde a década de 1980. Ao longo do tempo, outras fontes de energia foram inseridas na matriz energética brasileira, como a nuclear, a solar e a eólica. De modo geral, todas as fontes de energia tiveram sua capacidade instalada ampliada, com exceção da energia nuclear, na qual se observou uma queda desse parâmetro entre 2012 e 2022. Além disso, é possível reconhecer que, de todas as fontes de energia, a que teve maior ampliação de capacidade instalada foi a eólica.
Apesar da diversificação dos tipos de usinas elétricas ao longo dos anos, a geração de energia elétrica no Brasil ainda é predominantemente hidráulica, por causa, sobretudo, da disponibilidade de água no país.
O Brasil se destaca como um dos países com as maiores reservas de água doce do mundo, tanto superficiais quanto subterrâneas. Essa grande disponibilidade hídrica é resultado de diferentes fatores, entre eles o predomínio de climas úmidos e chuvosos em grande parte do território. Essa e outras características ambientais favorecem a formação de uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo.
Hidrografia brasileira

Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Atlas geográfico escolar. 8. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. p. 105.
Dica
Bacia hidrográfica é uma região drenada por um rio e seus afluentes. Nesse local, toda a água oriunda de nascentes, precipitação ou estoques subterrâneos escoa para um mesmo corpo de água.
Já região hidrográfica se refere ao espaço territorial que abrange uma ou mais bacias hidrográficas com características similares, incluindo seus aspectos naturais, sociais e econômicos.
Página 200
Compartilhe ideias
Embora detenha aproximadamente 12% da água doce superficial disponível do mundo, no ano de 2022, 7 milhões de cidadãos sofreram com a escassez de água em território brasileiro.
a ) Junte-se a dois colegas e discutam os possíveis motivos associados a esse paradoxo da água no Brasil.
Resposta: Espera-se que os estudantes relacionem diferentes motivos para essa situação, como a falta de investimentos em sistemas de captação e distribuição de água, além de fenômenos climáticos severos, como secas prolongadas e estiagens.
Apesar do predomínio de fontes de energia renováveis na matriz energética brasileira, o uso de recursos naturais não renováveis também se mantém representativo, especialmente em situações que prejudicam a geração de energia elétrica em hidrelétricas. Sobre esse assunto, leia o trecho da reportagem a seguir.
5. Classifique os recursos naturais utilizados na matriz energética brasileira em renováveis e não renováveis.
Resposta: As fontes de energia solar, hídrica, eólica e biomassa são recursos naturais renováveis; já as fontes de energia nuclear e os combustíveis fósseis são recursos naturais não renováveis.
Bandeira amarela é acionada e conta de luz vai subir em julho
[...]
"A bandeira amarela foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano (em cerca de 50%) e pela expectativa de crescimento da carga e do consumo de energia no mesmo período", explicou a Aneel em comunicado. [...]
Nesse caso, as termelétricas, que produzem energia mais cara que as hidrelétricas, deverão ser acionadas para preservar os reservatórios. A classificação "amarela" indica condições de geração de energia menos favoráveis e, na prática, significa um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora abre parênteses quilowatt-hora fecha parênteses consumidos.
[...]
MONTEIRO, Renan. Bandeira amarela é acionada e conta de luz vai subir em julho. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jun. 2024. p. B7.
Nos últimos anos, especialistas têm apontado a necessidade de rever e modificar a matriz elétrica brasileira, visando, por exemplo, reduzir a dependência de hidrelétricas e incentivar a ampliação da capacidade de geração de energia elétrica com base em fontes de energia alternativas e renováveis, como energia solar, eólica e de biomassa.
Como foi possível verificar nos dados apresentados anteriormente, no início do século XXI, o potencial de geração de energia elétrica no Brasil passou a contar com usinas eólicas e, alguns anos depois, com usinas solares. Sobre esse assunto, leia o trecho de reportagem a seguir.
Brasil bate recorde de expansão da energia solar em 2023
Com construção de usinas fotovoltaicas e eólicas, matriz elétrica brasileira chega a 83,79% de fontes renováveis, uma referência internacional
BRASIL bate recorde de expansão da energia solar em 2023. Gov.br, 18 set. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/7u5bpz. Acesso em: 12 set. 2024.
O potencial para geração de energia elétrica solar só começou a ser explorado no Brasil em 2010, embora tenha apresentado um salto considerável até os dias atuais. O potencial eólico, por sua vez, começou a ser explorado um pouco antes, no início dos anos 1990. Atualmente, o Brasil é referência internacional no que diz respeito à geração de energia elétrica por fontes renováveis. No ano de 2023, por exemplo, o país já contava com 954 usinas eólicas e 18 mil usinas solares.
Além de incentivos governamentais e a criação de leis específicas, o país tem uma série de características naturais que possibilitam a exploração de diferentes fontes de energia e que, portanto, podem interferir na determinação do perfil de sua matriz energética. Vamos estudar alguns deles a seguir.
Página 201
Características ambientais e geográficas
6. Em sua opinião, o relevo pode interferir na identificação de um local de instalação de usinas hidrelétricas? Explique.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que sim, pois as usinas hidrelétricas utilizam a movimentação da água para gerar energia elétrica. Assim, a existência de áreas de desnível no terreno, como áreas de planalto, favorece a criação de quedas artificiais, cuja movimentação possibilita a geração de energia elétrica nesse tipo de usina.
Além da disponibilidade de recursos naturais, as características ambientais e geográficas interferem no tipo de usina elétrica instalada em determinada região. No caso das usinas hidrelétricas, por exemplo, além da disponibilidade de água, manifestada pela grande malha hidrográfica, é preciso que o relevo apresente alguns desníveis, o que favorece o escoamento superficial e as quedas-d'água naturais, de outra maneira torna-se necessária a criação dessas quedas artificialmente.
Relevo brasileiro

Fonte de pesquisa: ROSS, Jurandyr L. Sanches (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2019. p. 53.
Dica
Os planaltos correspondem a formas de relevo relativamente planas e de altitudes mais elevadas. As depressões, por sua vez, correspondem às regiões que apresentam altitudes mais baixas do que a das áreas circunvizinhas. Já as planícies são áreas, em geral, planas e formadas pelo acúmulo de sedimentos provenientes de áreas de altitudes mais elevadas.
7. Analisando o mapa, qual é o relevo predominante no estado onde você vive?
Resposta pessoal. A resposta depende do estado onde os estudantes residem. Auxilie-os na análise do mapa, se necessário.
Como você pôde notar ao observar o mapa de relevo do Brasil, o país apresenta um relevo favorável à instalação de usinas hidrelétricas, pois há predomínio de áreas de planalto e de depressão, o que possibilita áreas de desnível no terreno. As principais usinas hidrelétricas do país, apresentadas a seguir, localizam-se em áreas com essas características.
| Usina hidrelétrica | Bacia hidrográfica | Potência fiscalizada abre parênteses k W fecha parênteses |
|---|---|---|
|
Belo Monte |
Bacia do Rio Amazonas, Pará − Rio Xingu |
11.233.100 |
|
Tucuruí |
Bacia do Rio Amazonas, Amazonas − Rio Tocantins |
8.535.000 |
|
Itaipu (parte brasileira) |
Bacia do Rio da Prata − Rio Paraná |
7.000.000 |
Fonte de pesquisa: ANEEL. Lista geral de usinas. Disponível em: https://s.livro.pro/gk1j7p. Acesso em: 10 out. 2024.
Página 202
Para a instalação de usinas eólicas, é necessário observar características ambientais como o regime e a velocidade dos ventos, bem como a vegetação local e o relevo. Nesse caso, um relevo plano ou montanhoso e com vegetação baixa ou pouco densa favorece o aproveitamento da energia dos ventos.
A energia eólica tem sido cada vez mais incentivada no Brasil porque o regime de ventos brasileiro é considerado favorável a esse tipo de usina e acima da média mundial. Além disso, não sofre interferência de períodos de estiagem, como ocorre no caso da energia hidráulica, sendo uma possível alternativa a esse tipo de fonte de energia.
Por causa das características ambientais, a instalação de usinas eólicas é favorecida em algumas áreas do Brasil, como mostra o mapa a seguir. Nele, é possível notar uma variação desse potencial no território nacional.
Potencial eólico no Brasil (2013)
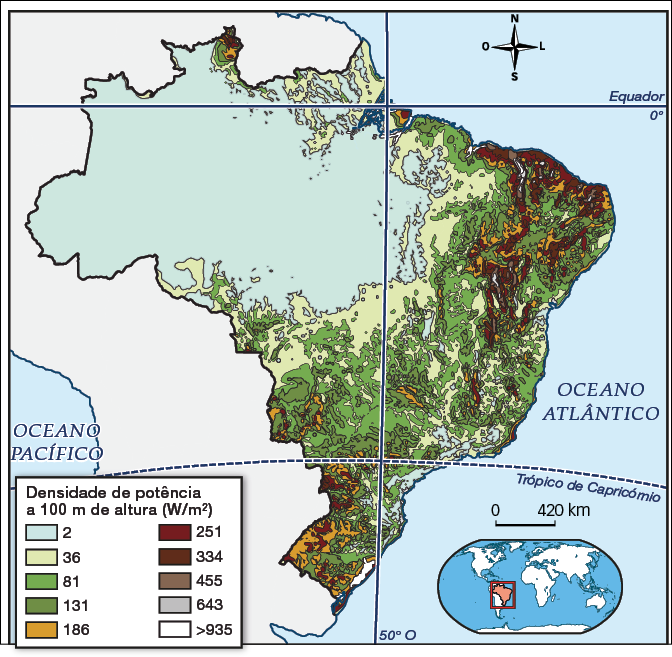
Fonte de pesquisa: CENTRO de Pesquisas de Energia Elétrica. Atlas do potencial eólico brasileiro: simulações 2013. Rio de Janeiro: Cepel, 2017. p. 29.
8. De acordo com o mapa, qual região brasileira tem o maior potencial eólico?
Resposta: A região Nordeste. Nela, há maior quantidade de áreas com densidade de potência mais alta comparada às demais regiões. Também é possível notar áreas com potencial elevado na porção mais ao sul do país.
9. Analisando o mapa, como você avaliaria o potencial eólico na região onde vive?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes deem respostas com base na interpretação do mapa e nas informações contidas na legenda. Auxilie-os nessa análise, se necessário.
Como é possível perceber pela análise do mapa, a Região Nordeste se destaca como a de maior potencial eólico no Brasil, especialmente nas áreas litorâneas de estados como Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, além de porções no interior de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Piauí.
Entre 2012 e 2022, o Brasil ampliou mais de 12 vezes a sua capacidade instalada de geração de energia eólica, processo que se deu pela instalação de novos parques eólicos do tipo onshore, ou seja, instalados na área continental do país. Esse tipo de usina, como mostrado no mapa, tem maior potencial de captação na Região Nordeste e em áreas específicas, de acordo com a potência eólica local.
Outro tipo de instalação que ainda está em estudo no país e que permitiria a ampliação das usinas para outras regiões brasileiras se refere à chamada energia eólica offshore, em que as turbinas são instaladas em corpos de água, principalmente no mar. Nesse caso, seria possível aproveitar o potencial de todo o litoral brasileiro nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul.
Embora as usinas offshore tenham grande potencial para fortalecer e diversificar a matriz elétrica renovável do Brasil, sua viabilidade de aplicação ainda está em fase de estudo e licenciamento ambiental, além de prever a necessidade de um grande aporte de recursos em obras de instalação e distribuição energética.
Página 203
Quanto ao uso da energia solar para a geração de energia elétrica, ocorre algo semelhante. A radiação solar atinge as regiões do Brasil com diferentes intensidades.
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a radiação solar no Brasil varia de 8 a 22 megajoule abre parênteses M J fecha parênteses por metro quadrado abre parênteses m elevado ao quadrado fecha parênteses por dia. A incidência da energia solar sofre influência de diferentes fatores, como a latitude. Observe o mapa de radiação solar desta página e note que as regiões mais próximas à linha do equador apresentam maior potencial elétrico, enquanto nas regiões Sul e Sudeste esse potencial é menor.
Além disso, a intensidade da radiação solar é influenciada pelas estações do ano e pelas condições atmosféricas, como a nebulosidade e a umidade relativa do ar, o que pode tornar essa fonte de energia inviável em determinadas situações.
Radiação solar abre parênteses M J barra m elevado ao quadrado barra dia fecha parênteses no Brasil (2007)
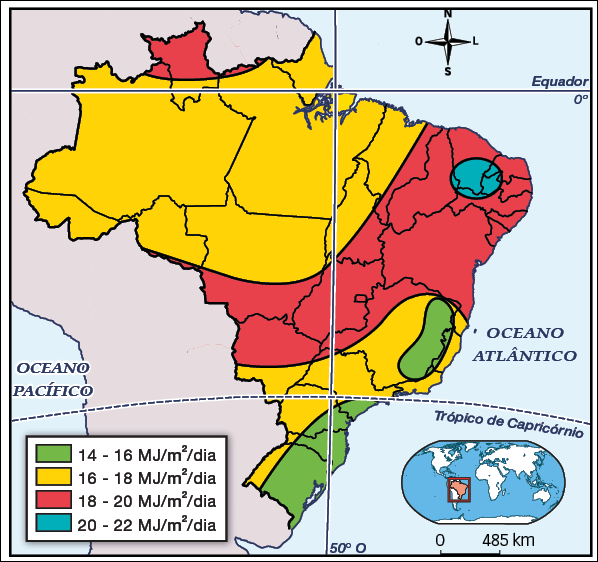
Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Atlas de energia elétrica do Brasil. 3. ed. Brasília: Aneel, 2008. p. 85. Disponível em: https://s.livro.pro/c2i3ap. Acesso em: 12 set. 2024.
Por outro lado, a luz solar inclui tanto a energia luminosa quanto a térmica, por isso seu uso é promissor para a geração de energia elétrica, por meio de usinas fotovoltaicas, e para a substituição de sistemas elétricos de aquecimento, como os utilizados para aquecer água.
A busca por matrizes elétricas mais sustentáveis é uma premissa para os países que, de fato, buscam reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes. A matriz elétrica do Brasil tem sido exemplo internacional por se basear, majoritariamente, em fontes renováveis, com dados superiores à média global.
Acompanhe a tabela a seguir, que mostra uma perspectiva de incremento (em %) da capacidade instalada das fontes que compõem a matriz elétrica brasileira no período de 2021 a 2030, com dados do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, produzido pelo Ministério de Minas e Energia, no ano de 2021.
| Fonte / Capacidade (gigawatt) instalada/projetada no ano | 2021 | 2030 | Incremento % |
|---|---|---|---|
|
Hidráulica |
109 |
115 |
6 |
|
Térmica |
37 |
38 |
2 |
|
Eólica |
17 |
32 |
88 |
|
Solar |
3 |
8 |
167 |
|
Nuclear |
2 |
3 |
50 |
Fonte de pesquisa: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Plano decenal de expansão de energia 2030. Brasília: EPE, 2021. p. 345. Disponível em: https://s.livro.pro/uk3qi0. Acesso em: 12 set. 2024.
Professor, professora: Ao analisar a tabela, comente com os estudantes que a fonte térmica corresponde à geração de energia elétrica a partir de carvão mineral, gás natural, gás industrial, diesel e óleos combustíveis. Já a fonte hidrelétrica não inclui a energia elétrica importada.
10. De acordo com a tabela, o que é possível concluir a respeito do possível futuro da geração de energia elétrica no Brasil?
Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que é prevista uma ampliação significativa da geração de energia solar, seguida da energia eólica e nuclear.
Página 204
CONEXÕES com ... GEOGRAFIA
A importância da Cartografia
A produção de mapas é uma das técnicas mais antigas para representar áreas da superfície terrestre de maneira reduzida, sendo a Cartografia a ciência responsável por estudar e desenvolver essas representações.
Historicamente, as representações cartográficas foram adaptadas de diferentes formas pelos grupos humanos, servindo como instrumento de orientação, localização espacial e conhecimento da distribuição de elementos naturais como vegetação, rios e animais.
Com recursos simples retirados da natureza e técnicas até então desenvolvidas, há indícios de que os primeiros mapas eram produzidos com vários tipos de materiais, entre eles argila, pedaços de rocha, conchas e gravetos de madeira.
Nesse mapa, as fibras vegetais representavam, por exemplo, as correntes marítimas da região e as conchas presas a elas indicavam as ilhas do arquipélago. Esse tipo de mapa data da década de 1920.
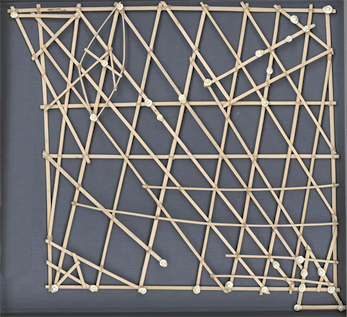
Com o decorrer do tempo, as técnicas e os tipos de produção cartográfica se aprimoraram. Além dos mapas, surgiram outros tipos de documentos para representar áreas de forma reduzida, entre eles cartas e plantas, diferindo, principalmente, no tamanho da escala representada. Ou seja, as áreas abrangidas nas representações das cartas e das plantas são menores em relação aos mapas, portanto detalham elementos com mais riqueza.
Com o aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos nas últimas décadas, as representações cartográficas passaram a ser produzidas digitalmente. Atualmente, equipamentos como drones, veículos aéreos não tripulados, auxiliam a capturar imagens aéreas de pontos menores da superfície terrestre. Os programas de computadores processam e transformam essas imagens em representações cartográficas de maior precisão. O monitoramento e o controle de áreas ambientais e a análise de uso e de ocupação do solo são algumas das finalidades do mapeamento digital.
Mesmo diante dos avanços tecnológicos e com uma maior disponibilidade de recursos em aparelhos eletrônicos, as representações cartográficas seguem presentes de maneira impressa em muitos locais de acesso público, como em painéis de parques florestais, estações de transporte público, universidades e pontos turísticos. Esses instrumentos auxiliam as pessoas na localização espacial, no cálculo de distância e nas rotas de deslocamento, por exemplo.

a ) Em sua opinião, qual é a importância dos recursos cartográficos para os estudos ambientais?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que a Cartografia é uma importante aliada dos estudos da área ambiental. Eles podem citar exemplos do uso de representações cartográficas para a identificação de tipos de relevo e de solo; na análise de características climáticas e os impactos de fenômenos naturais; para o controle e o monitoramento de ações antrópicas, como queimadas e desmatamento; no mapeamento de recursos hídricos e na identificação de atividades econômicas desenvolvidas nesse tipo de recurso natural etc.
b ) Cite situações em que você utiliza representações cartográficas, como mapas, cartas e plantas, e comente com os colegas o que considera essencial para a utilização dessas representações.
Resposta pessoal. Os estudantes podem citar, por exemplo, que utilizam representações cartográficas para consultar a previsão do tempo, realizar deslocamentos entre lugares com mapas em aplicativos de GPS (sistema de posicionamento global) e para a localização de lugares públicos, como praças, parques e praias. Como itens essenciais, podem mencionar a localização e a identificação de elementos, a distância entre locais, o tempo estimado de percurso etc.
Página 205
ATIVIDADES
1. O gráfico a seguir apresenta informações a respeito da matriz elétrica da França com dados referentes ao ano de 2020. Analise-o atentamente e responda às questões.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
1. A matriz elétrica brasileira, em 2023, era a seguinte: 58,9% hidráulica; 13,2% eólica; 8% biomassa; 7% solar; 5,3% gás natural; 2,1% nuclear; 2,1% eletricidade importada; 1,9% carvão e derivados; 1,5% derivados de petróleo. Agora, analise a gráfico a seguir com informações a respeito da matriz elétrica da França para o ano de 2020 e responda às questões.
Fontes de geração de energia elétrica na França (%) (2020)
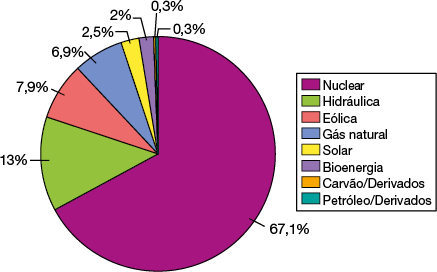
Bioenergia: inclui energia proveniente do uso de recursos como biogás, biomassa e resíduos domésticos.
Fonte de pesquisa: BILÁN électrique 2020. Réseau de Transport d'Électricité, jan. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/g4z27f. Acesso em: 12 set. 2024.
a ) Compare os dados da matriz francesa com os da matriz elétrica brasileira apresentada no início do capítulo. Descreva as principais diferenças que você pode observar entre elas.
Resposta: Ao contrário da matriz elétrica brasileira, que tem energias renováveis formando a maior parcela na geração de energia elétrica (87%), a matriz elétrica francesa se baseia fortemente em energias não renováveis (74,6%), sendo a maior parte representada pela energia nuclear (67,1%).
b ) Há semelhanças entre as matrizes elétricas francesa e brasileira? Justifique sua resposta.
Resposta: Sim, há semelhanças. Embora as porcentagens sejam consideravelmente diferentes, assim como no Brasil, a energia hidráulica na França compõe a maior parcela da energia oriunda de fontes renováveis, representando um total de 13% da matriz elétrica francesa ou mais de 50% da energia gerada por fontes renováveis.
c ) Em sua opinião, que motivos poderiam justificar as diferenças entre as matrizes dos dois países? Argumente sua resposta.
Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a elencar e a refletir sobre características que permitem explorar determinada fonte de energia em um país e que podem justificar as diferenças entre as matrizes elétricas, como características do relevo, potencial hídrico, índice de precipitação, incidência solar, potencial eólico e investimentos governamentais.
2. Leia o trecho da reportagem a seguir e responda às questões.
Projeto brasileiro usa palha da cana-de-açúcar para gerar energia renovável
Um projeto desenvolvido no Brasil com a palha da cana-de-açúcar para gerar energia renovável é candidato a um prêmio de inovação promovido pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).
[...]
O setor, que anteriormente queimava a palha da cana-de-açúcar, usa agora um sistema de manutenção da palha na superfície do solo, com apenas uma parte sendo recolhida para ser utilizada nas usinas como complemento ao bagaço, na geração de eletricidade.
[...]
PROJETO brasileiro usa palha da cana-de-açúcar para gerar energia renovável. Nações Unidas Brasil, Brasília, 17 jun. 2020. Disponível em: https://s.livro.pro/0cr9px. Acesso em: 12 set. 2024.

a ) O uso da palha da cana-de-açúcar está incluso em qual tipo de fonte de energia, abordado na página 198?
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
a ) O uso da palha da cana-de-açúcar está incluso em qual tipo de fonte de energia explorado pela matriz elétrica no Brasil: hidráulica, eólica, biomassa, solar, gás natural, nuclear, eletricidade importada, carvão e derivados ou derivados do petróleo?
Resposta: Biomassa.
b ) Como o uso da palha da cana-de-açúcar na geração de energia elétrica pode ajudar a reduzir a emissão de gases de efeito estufa? Se necessário, faça uma pesquisa.
c ) Explique por que a palha da cana-de-açúcar é considerada um recurso natural renovável.
d ) Quais são os possíveis benefícios do incentivo ao uso da fonte de energia identificada no item a para a geração de energia elétrica? Pesquise o assunto, se necessário.
e ) Cite outra possível aplicação energética da cana-de-açúcar.
Respostas nas Orientações para o professor.
Página 206
3. Leia a manchete a seguir.
Eólica offshore é a aposta do Brasil para consolidar a transição energética
Disponível em: https://s.livro.pro/1mmqid. Acesso em: 12 set. 2024.
A respeito da fonte de energia citada na manchete e conhecendo as características da atual matriz elétrica do Brasil, analise as alternativas a seguir como corretas e incorretas, corrigindo as alternativas incorretas.

a ) O potencial eólico offshore é ainda pouco explorado no país e, com os devidos incentivos governamentais e econômicos, pode assumir parcela expressiva da matriz elétrica brasileira.
Resposta: Correta.
b ) Considerando os valores de capacidade instalada de geração de energia elétrica do país no ano de 2022, a energia eólica offshore precisaria aumentar cerca de três vezes a capacidade eólica atual para ultrapassar o potencial hidrelétrico.
Resposta: Incorreta. A energia eólica offshore precisaria aumentar cerca de cinco vezes a capacidade eólica atual para ultrapassar o potencial hidrelétrico.
c ) O debate sobre as mudanças climáticas pode ser uma das justificativas para a busca de alternativas para as hidrelétricas, uma vez que a ocorrência de secas prolongadas pode comprometer seriamente a geração de energia no país.
Resposta: Correta.
d ) É provável que o estudo tenha apontado as regiões brasileiras onde o potencial eólico apresenta os valores mais elevados, mas que ainda têm um número reduzido ou inexistente de usinas eólicas, como as regiões Norte e Nordeste.
Resposta: Incorreta. A Região Norte do Brasil tem baixo potencial eólico. Os maiores índices são encontrados na região Nordeste e em porções da região Sul.
e ) Embora as regiões litorâneas brasileiras apresentem elevado potencial eólico ainda não explorado, esse tipo de recurso não seria uma alternativa interessante para compor a matriz elétrica atual, uma vez que se refere a uma fonte de energia não renovável.
Resposta: Incorreta. A energia eólica é um tipo de energia renovável.
4. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões.
Energia do calor do Sol
Os primeiros projetos de geração heliotérmica estão começando a sair do papel no Brasil
Os primeiros projetos experimentais brasileiros de geração de energia heliotérmica, ou termossolar, estão em fase de instalação e devem entrar em operação nos próximos meses. Esse tipo de energia solar, internacionalmente conhecida pela sigla CSP, de concentrating solar power, utiliza o calor capturado do sol para aquecer um fluido que, por sua vez, movimenta uma turbina a vapor, produzindo eletricidade. O princípio é o mesmo de qualquer planta termelétrica, mas emprega uma fonte 100% renovável, abundante e limpa, a irradiação solar [...]
ZAPAROLLI, Domingos. Energia do calor do Sol. Pesquisa Fapesp, 20 set. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/116q4y. Acesso em: 12 set. 2024.

a ) Considerando a influência da latitude na irradiação solar no território brasileiro, qual região teria mais potencial para geração de energia heliotérmica citada no texto.
Resposta: As regiões do Brasil mais próximas à linha do equador teriam maior potencial considerando a irradiação solar no território brasileiro, principalmente as regiões Nordeste e parte do Centro-Oeste.
b ) Identifique os recursos utilizados nas duas formas de geração de energia citadas no texto como renovável e não renovável.
Resposta: A energia heliotérmica ou termossolar utiliza o calor proveniente do Sol e é, portanto, renovável. Já as termelétricas utilizam energia da queima de combustíveis fósseis, como o carvão, e se caracterizam como energia não renovável.
c ) Quais são as vantagens da energia heliotérmica em relação à energia gerada em termelétricas?
Resposta: As heliotérmicas são menos poluentes do que as termelétricas, que utilizam combustíveis fósseis como fonte de energia e liberam gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono.
d ) Nas usinas heliotérmicas, o calor pode ser armazenado, pois o fluxo do fluido aquecido pode ser controlado para que o gerador elétrico continue em movimento, mesmo quando o sistema não está capturando a radiação solar. Em termos de geração de energia elétrica, quais são as vantagens dessa característica?
Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que, por serem capazes de armazenar o calor, as usinas heliotérmicas podem gerar energia elétrica mesmo quando não há incidência solar sobre o sistema, por exemplo, no período da noite, diferentemente das usinas fotovoltaicas convencionais, em que a geração de energia é interrompida quando não há luz solar.
Página 207
Impactos socioambientais e culturais das usinas elétricas
Leia os trechos das reportagens a seguir.
Hidrelétrica de Belo Monte faz população de Altamira dobrar em dois anos
Superpopulação acarreta problemas de infraestrutura devido à alta demanda nas áreas da saúde e educação
HIDRELÉTRICA de Belo Monte faz população de Altamira dobrar em dois anos. Jornal da USP, 16 out. 2019. Disponível em: https://s.livro.pro/xzmlp1. Acesso em: 12 set. 2024.
Energias renováveis geraram 12,7 milhões de empregos globalmente
Disponível em: https://s.livro.pro/mo5o6w. Acesso em: 12 set. 2024.
Compartilhe ideias
A sociedade atual tem se tornado cada vez mais dependente da energia elétrica. No entanto, o aumento de sua demanda e, consequentemente, de sua produção pode ser prejudicial ao ambiente e à sociedade.
a ) Com base nas manchetes apresentadas e em seus conhecimentos sobre o tema, debata com os colegas os possíveis impactos positivos e negativos relacionados à geração de energia, considerando aspectos ambientais, sociais e econômicos. Em seguida, elaborem uma lista com as principais conclusões.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a expor seus conhecimentos prévios e a trocar informações com os colegas, ao mesmo tempo que exercitam o respeito a opiniões divergentes. Eles podem responder que o acesso à energia elétrica promove a inclusão social e a qualidade de vida e incentiva o desenvolvimento da região, tendo em vista que muitas tecnologias dependem de energia elétrica. Por outro lado, a construção de usinas elétricas pode representar prejuízos tanto sociais quanto ambientais, dependendo do tipo de usina e da região onde é implantada.
Você pode não perceber, mas a energia elétrica está presente em diferentes situações do seu dia a dia. Aliás, a sociedade atual é extremamente dependente da energia elétrica. Ao longo do tempo, o acesso a esse recurso resultou em diversos benefícios, tanto do ponto de vista social como econômico. No entanto, a geração de energia elétrica também tem aspectos negativos, como mostram as manchetes anteriores.
Confira a seguir as principais vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de usinas elétricas.
| Tipo de usina elétrica | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|
|
Eólica |
O vento é um recurso renovável e apresenta grande potencial de gerar eletricidade. |
Poluição visual e sonora. |
|
Solar |
A luz solar é um recurso renovável. |
Descarte de baterias de vida útil relativamente baixa, alto custo e demanda grande de espaço, além de sofrer influência de diferentes fatores, como latitude, tempo e estações do ano. |
|
Termelétrica |
A queima de combustíveis libera grande quantidade de energia. |
Gera diversos poluentes atmosféricos. |
|
Termonuclear |
Seu uso libera grande quantidade de energia. |
Gera resíduos radioativos. |
|
Hidráulica |
A água é um recurso renovável. |
Necessita de grande área a ser inundada. |
A seguir, vamos estudar com mais detalhes os aspectos positivos e negativos associados à construção de usinas elétricas no Brasil.
Professor, professora: Se julgar pertinente, enfatize com os estudantes que mesmo as fontes de energia renováveis podem apresentar impactos negativos para sociedade e para o meio ambiente. Por isso, é essencial adotar medidas de consumo consciente, poupando energia elétrica quando possível.
Página 208
Impactos positivos
11. Converse com os colegas sobre serviços fundamentais que não seriam possíveis sem energia elétrica.
Resposta pessoal. Serviços relacionados à saúde, à produção de alimentos e medicamentos, entre outros, que necessitam de energia elétrica para manutenção e funcionamento de diferentes aparelhos. Além disso, a disponibilidade de internet é um serviço altamente dependente de energia elétrica e que está presente nos mais diversos setores da sociedade contemporânea.
Ao pensarmos em energia elétrica, um dos serviços essenciais é a iluminação. Sua descoberta e uso revolucionaram a vida das sociedades. Há uma infinidade de atividades diárias que realizamos e que necessitam de energia elétrica, facilitando nossa vida e nos trazendo mais conforto.
No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 99,8% dos domicílios contam com o fornecimento de energia elétrica. Ainda assim, o país conta com milhões de pessoas sem acesso a esse serviço, especialmente nas áreas rurais e em regiões distantes dos centros urbanos.
Alguns serviços públicos, como hospitais e escolas, além de outras atividades, como comércio e indústria, necessitam de energia elétrica continuamente. É difícil pensar em um setor econômico ou de serviços que não precise de energia elétrica em pelo menos uma de suas atividades.
Confira o gráfico a seguir.
Consumo de energia elétrica abre parênteses M W h fecha parênteses no Brasil por setores da economia (2012-2022)
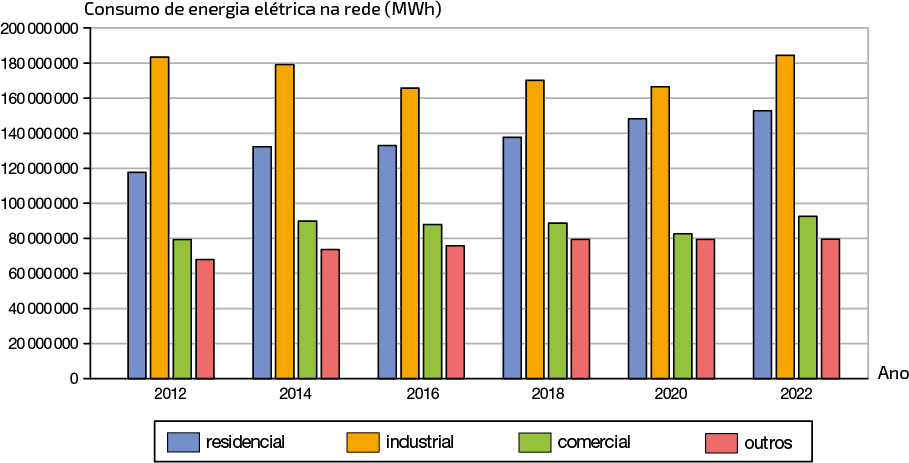
Fonte de pesquisa: PAINEL de monitoramento do consumo de energia elétrica. Empresa de Pesquisa Energética. Disponível em: https://s.livro.pro/add7p3. Acesso em: 12 set. 2024.
12. O que você concluiu ao analisar esse gráfico?
Resposta: Espera-se que os estudantes percebam que houve um aumento no consumo de energia residencial ao longo dos anos, enquanto os outros setores mantiveram certa estabilidade. Eles também podem citar que o setor industrial é o que mais consome energia elétrica.
O gráfico anterior apresenta informações sobre o consumo interno brasileiro de energia elétrica, entre os anos de 2012 e 2022, para os setores industrial, comercial, residencial e outros. Observe que é possível perceber certa estabilidade desse padrão ao longo do período mostrado, sendo liderado pelo setor industrial, e certo aumento do consumo residencial.
Professor, professora: O termo outros refere-se ao consumo total dos seguintes setores: rural, iluminação pública, serviços públicos e poder público.
A dependência das pessoas, seja de forma individual, seja coletiva, por energia elétrica aumenta continuamente o interesse pelas matrizes energéticas dos países. A necessidade de suprir a população e, ao mesmo tempo, favorecer o desenvolvimento econômico local resulta em um aumento da demanda de energia elétrica. Nesse ponto, cada país usa seus recursos naturais disponíveis e constrói as usinas que forem possíveis, considerando os fatores climáticos, a tecnologia disponível e os interesses econômicos.
Página 209
A geração de empregos é, certamente, um dos primeiros impactos sociais positivos gerados por uma usina de energia, tanto na construção quanto na manutenção a partir do seu funcionamento.
Com os planos de ampliação dos setores de energia renovável da matriz elétrica brasileira, há ainda a previsão de migração de mão de obra especializada para o setor. Um exemplo dessa situação é a energia solar, que deve aumentar na próxima década. A respeito desse tema, leia o trecho de reportagem a seguir.
Geração de empregos no setor da energia solar fotovoltaica é destaque no Brasil
Desde 2012, o Brasil gerou 979,7 mil novos empregos na área de geração de energia solar fotovoltaica.
[...]
"A busca por novas fontes de energia tem gerado novas oportunidades de negócio e vagas de emprego. A transição energética é um fenômeno mundial que, entre outros fatores, tem forte relação com a substituição das fontes energéticas baseadas no petróleo por fontes limpas e/ou renováveis", explica Fernando de Lima Caneppele, professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. "Isso deve também desencadear a migração de profissionais de outros setores para esse setor, que não para de crescer."
[...]
O ramo da energia solar fotovoltaica foi o que mais cresceu, passando de 1,36 milhão de empregos em 2012 para 4,3 em 2021. Nesse mesmo ano, o mundo bateu um recorde de produção de energia fotovoltaica: 132 vírgula 8 Gigawatt de capacidade instalada. Esse é o setor que mais cresceu nos últimos dez anos, e o que mais emprega dentro das energias renováveis.
[...]
ESTANISLAU, Julia. Geração de empregos no setor da energia solar fotovoltaica é destaque no Brasil. Jornal da USP, 19 set. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/f9u3fx. Acesso em: 12 set. 2024.
A partir da instalação de uma usina elétrica, é possível observar uma série de profundas transformações na região.
Um exemplo foi a construção da Hidrelétrica de Itaipu, localizada no município de Foz do Iguaçu, no Paraná. A população da cidade girava em torno de 34 mil habitantes na década de 1980. Com a finalização das obras da usina, parte da mão de obra contratada continuou na cidade, que em 2022, de acordo com dados do IBGE, tinha uma população de 285.415 habitantes.
Associada às paisagens naturais, como as do Parque Nacional do Iguaçu, a Usina Hidrelétrica de Itaipu mantém Foz do Iguaçu como um dos maiores polos turísticos do Brasil.

O aumento populacional, temporário ou permanente, tende a estimular o comércio local e resultar em uma ampliação do setor de serviços para a população, como o hoteleiro, o varejista, o de alimentação, entre outros. Com mais pessoas, há mais geração de empregos e de renda, o que contribui para o desenvolvimento regional.
Em um cenário ideal, esse seria o processo de desenvolvimento local a partir da construção de uma usina de geração de energia. No entanto, há outros impactos que não podem ser desconsiderados, seja para a população, seja para o ambiente, como estudaremos a seguir.
Página 210
Impactos negativos
Apesar de as usinas elétricas serem fundamentais para a sociedade atual, sua construção pode ocasionar danos tanto ao ambiente quanto à sociedade local, especialmente quando a instalação ocorre em locais específicos, como os de grande representatividade ambiental ou cultural, como áreas indígenas, quilombolas e de outros povos tradicionais.
Os efeitos associados à construção de usinas elétricas podem variar de acordo com o tipo de usina. No entanto, de modo geral, os impactos negativos ambientais associados à construção de usinas elétricas podem incluir, por exemplo, poluição do ar, da água e do solo, destruição de hábitats, geração de resíduos radioativos e poluição sonora.
Nas usinas termelétricas, por exemplo, a energia elétrica é gerada com base na energia térmica liberada durante a queima de combustíveis fósseis ou de biomassa. A queima de carvão mineral e gás natural pode causar muitos danos ao ambiente e aos seres vivos. Isso porque tanto a combustão completa quanto a incompleta desses combustíveis libera gases poluentes no ambiente, como gás carbônico abre parênteses CO subscrito 2 fecha parênteses, gás metano abre parênteses CH subscrito 4 fecha parênteses, óxido nitroso abre parênteses N subscrito 2 O fecha parênteses, dióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 2 fecha parênteses e material particulado.
Esses gases se combinam de diferentes maneiras, resultando na formação de ácidos, como o ácido carbônico abre parênteses H subscrito 2 C O subscrito 3 fecha parênteses, o ácido sulfúrico abre parênteses H subscrito 2 S O subscrito 4 fecha parênteses e o ácido nítrico abre parênteses H N O subscrito 3 fecha parênteses, que podem retornar à superfície terrestre como chuva ácida.
Além de danificar monumentos, a chuva ácida pode causar danos aos seres vivos. Esses danos podem ser diretos, como ocorre na vegetação local, ou indiretos, como ocorre com os seres vivos aquáticos, prejudicados pela acidificação da água.

Os gases emitidos pela queima de combustíveis fósseis em termelétricas também podem atuar na retenção da radiação infravermelha na atmosfera terrestre, resultando na intensificação do efeito estufa natural.
Essa intensificação, por sua vez, provoca o aumento da temperatura média global, o que pode resultar no aquecimento das águas de mares e oceanos e no derretimento das calotas polares, por exemplo. Como consequência do aumento do volume de água líquida, o nível dos mares e oceanos também se altera, o que, a longo prazo, pode representar danos graves, sobretudo para as populações litorâneas.
O derretimento de parte do gelo das áreas polares é um processo natural em períodos do ano nos quais as temperaturas são naturalmente mais elevadas. No entanto, nos últimos anos, tem-se verificado uma aceleração e a intensificação desse processo, resultando na diminuição das áreas terrestres cobertas por gelo. Esse degelo crescente pode prejudicar os ursos-polares, por exemplo, que utilizam as plataformas de gelo para caçar.
Urso-polar (U. maritimus): pode atingir aproximadamente 2 vírgula 5 metros de comprimento.

Página 211
A saúde humana também pode ser afetada diretamente pelo funcionamento de usinas termelétricas. Os gases poluentes prejudicam a saúde, de modo a desenvolver doenças respiratórias, como alergias e câncer, e ainda prejudicar outros sistemas do corpo humano, como o cardiovascular.
A queima de biomassa nas usinas termelétricas emite menor quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre quando comparada à queima de combustíveis fósseis. Como resultado, os efeitos relacionados ao funcionamento das usinas termelétricas de biomassa também são menores.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente, cerca de 7 milhões de mortes prematuras são causadas pela poluição do ar, entre elas, cerca de 570 mil são crianças menores do que cinco anos.

No que diz respeito às usinas termonucleares, o problema se concentra principalmente no uso de materiais radioativos para a geração de energia elétrica e nos resíduos resultantes desses materiais. O contato deles com o ambiente contamina o ar, a água, o solo e os seres vivos, cuja saúde sofre graves danos, como câncer e até mesmo a morte.
Além disso, acidentes com esse tipo de usina apresentam graves impactos, especialmente ambientais. Um dos mais recentes acidentes nucleares ocorreu na Usina Termonuclear de Fukushima, no Japão, em 2011. Nesse evento, um terremoto levou à formação de um tsunami, que danificou os geradores do sistema de resfriamento da usina. Como resultado, os reatores superaqueceram e explodiram, causando o vazamento de material nuclear.
O material nuclear liberado pela Usina Termonuclear de Fukushima atingiu áreas habitadas e o solo. Estudos indicam que a descontaminação do local pode levar mais de três décadas desde o acidente.

Após mais de dez anos desse desastre, os arredores da usina continuam inadequados à habitação humana.
Em 2023, um relatório divulgado pela operadora da Usina Termelétrica de Fukushima apresentou dados alarmantes sobre a vida marinha nos arredores da cidade. Analisando peixes capturados, a pesquisa identificou teores de materiais radioativos acima do permitido pela segurança alimentar do Japão. Isso evidencia a impossibilidade de pesca na região e os efeitos ainda presentes após o desastre.
Também em 2023, o governo japonês começou a liberar no oceano parte da água residual utilizada para o resfriamento dos reatores da usina de Fukushima. Embora o lançamento seja gradativo ao longo de décadas e a água passe por um tratamento com o objetivo de reduzir as substâncias radioativas, é preciso considerar a segurança desse procedimento.
13. Converse com os colegas sobre o despejo de resíduos radioativos no oceano. Compartilhe suas reflexões com os colegas.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes ressaltem a necessidade de estudos robustos que embasem a decisão do governo japonês, além de pesquisas que monitorem a qualidade da água e a saúde da biodiversidade.
Página 212
A energia eólica é uma importante alternativa para reduzir a dependência hidráulica da matriz energética brasileira. No entanto, esse tipo de usina também causa impactos socioambientais. A poluição sonora é um fator impactante, pois os ruídos produzidos pelos equipamentos afetam as populações vizinhas. Também há poluição visual, já que os aerogeradores são de grande tamanho.
Além disso, os equipamentos utilizados nas usinas eólicas podem interferir no funcionamento de sistemas de comunicação e transmissão de dados, como rádio e televisão. Do ponto de vista ambiental, estudos têm verificado o aumento na quantidade de mortes de animais voadores, como aves e morcegos, prejudicando a fauna local.
A Região Nordeste abriga a maioria dos parques eólicos do Brasil, basicamente na Caatinga. Além dos danos à fauna local, a construção das linhas de transmissão e das estradas causa danos à vegetação nativa.

As usinas hidrelétricas, que representam a maior parte da matriz energética brasileira, também podem estar associadas a impactos negativos.
Essas usinas utilizam um recurso renovável e não emitem poluentes atmosféricos, no entanto sua construção envolve o alagamento de grandes áreas. Como resultado, o hábitat de diversas espécies é destruído, provocando a morte de muitas delas, o que prejudica a diversidade biológica e leva à degradação de muitos recursos naturais e à alteração do clima da região.
Além dos prejuízos ambientais, a construção das usinas hidrelétricas pode representar prejuízos sociais, culturais e econômicos. Por exemplo, quando a área afetada é ocupada por comunidades tradicionais, como indígenas, ribeirinhos e quilombolas, que dependem diretamente dos recursos naturais presentes na região, o modo de vida desses povos é diretamente impactado. Além disso, essas usinas podem ser construídas em áreas agricultáveis e extrativistas, afetando diretamente a subsistência e a renda dessas populações.
A desocupação de áreas para instalação de usinas elétricas pode causar a realocação de comunidades tradicionais. Em muitos casos, tais comunidades se veem forçadas a mudar seus costumes, a fim de se adequar a novas atividades de renda e de subsistência, por exemplo.

A usina de Belo Monte, no Pará, é um caso emblemático dos impactos que a construção de uma usina hidrelétrica pode causar em determinada região. Oriunda de um projeto da década de 1970 e visando atender à crescente demanda energética, a usina de Belo Monte começou a ser construída no ano de 2011. O início das obras levantou amplos debates da comunidade, incluindo povos tradicionais, moradores da região, cientistas, políticos e outros atores preocupados com os efeitos da construção.
Página 213
Compare as fotografias a seguir, antes e depois da construção dessa usina.


14. Que impactos você identifica nessa área depois de analisar as fotografias?
Resposta: Inundação de uma grande área, onde antes viviam pessoas, redução do hábitat das espécies de seres vivos, já que muitos eram terrestres. Houve também desvio do fluxo do rio, o que pode ter impactado os seres vivos aquáticos.
O fluxo migratório de trabalhadores para as obras da usina fez a população de Altamira dobrar em apenas dois anos depois do início das obras, saltando de 75 mil habitantes para cerca de 150 mil. O aumento não planejado da população foi um dos fatores responsáveis por elevar casos de violência, fazendo de Altamira a cidade mais violenta do país no ano de 2015.
Embora Belo Monte seja uma usina a fio d'água, ou seja, um tipo de usina sem reservatório e que busca respeitar a vazão natural do Rio Xingu, sua obra gerou profundos impactos socioambientais. Houve a realocação de cerca de 22 mil ribeirinhos que habitavam a região. Para isso, foram criados bairros na periferia da cidade de Altamira, alterando por completo o modo de vida dessas pessoas.
As atividades pesqueiras sofreram alterações, pois houve redução no tamanho e na quantidade disponível de peixes. No passado, o peixe era um item da alimentação cotidiana, mas, por causa da escassez, seu consumo foi reduzido.
Além disso, cerca de 60% dos produtores de agricultura familiar tiveram de abandonar suas terras, afetando a produção de alimentos, como mandioca, milho, arroz e feijão. Esse e outros fatores aumentaram a insegurança alimentar no município.
Antes da construção da usina, por causa da realocação das populações indígenas, foram feitos projetos com medidas compensatórias para essas comunidades, que passaram a receber recursos e alimentos industrializados.
Como estudamos, vários setores da sociedade mobilizaram-se para inviabilizar o projeto. Entre essas pessoas, destacou-se a jovem ativista indígena brasileira Juma Xipaya (1991 -). Ela lutou pelos direitos da população indígena que seria impactada pela construção da hidrelétrica. Por suas ações, Juma ganhou notoriedade como ativista e ambientalista e se tornou cacica dos Xipaya aos 24 anos, sendo a primeira mulher a liderar sua comunidade.
15. Considerando o que estudamos até aqui, o que você pode concluir sobre a construção de usinas elétricas? Converse com os colegas sobre suas conclusões.
Resposta pessoal. As discussões apresentadas neste capítulo envolvem um tema complexo e que permite gerar profundas discussões em sala de aula e na sociedade. É importante que os estudantes reconheçam os pontos positivos e negativos gerados pelo tema, discutindo a questão em profundidade e propondo estratégias e soluções. Além disso, espera-se que eles reconheçam que impactos positivos e negativos não se restringem a apenas um tipo específico de usina, incluindo também as consideradas limpas e de recursos renováveis.
Página 214
Demanda energética
Analise o gráfico a seguir.
Consumo total de energia elétrica no Brasil (2012-2023)
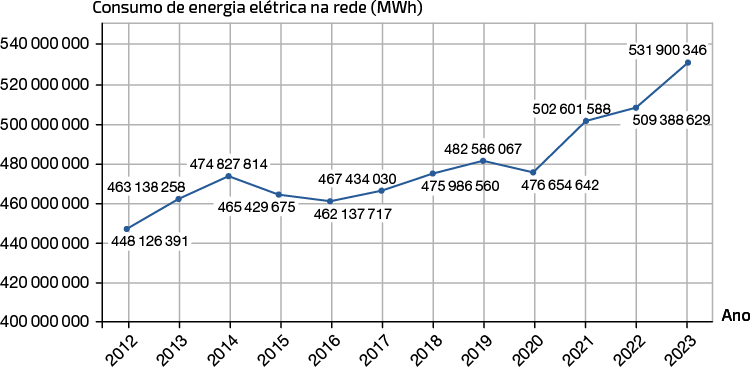
Fonte de pesquisa: PAINEL de monitoramento do consumo de energia elétrica. Empresa de Pesquisa Energética. Disponível em: https://s.livro.pro/add7p3. Acesso em: 12 set. 2024.
16. Analisando o gráfico, o que você pode constatar a respeito do consumo de energia elétrica no Brasil entre os anos de 2012 a 2023?
Resposta: O consumo de energia elétrica no Brasil aumentou progressivamente ao longo dos anos. É possível notar uma queda acentuada no consumo que coincide com o início da pandemia, em 2020, seguido de um aumento contínuo até o final do período analisado.
17. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que a população brasileira em 2050 seja cerca de 233 milhões de habitantes. Em junho de 2020, ela era 211 milhões. O que se espera que ocorra com a geração de energia elétrica no Brasil em 2050? Explique.
Resposta: Paralelamente ao aumento da população brasileira, ocorrerá um aumento do consumo de energia e, como consequência, um aumento da demanda, exigindo que a geração de energia elétrica acompanhe o crescimento populacional.
18. Quais são as possíveis medidas a serem tomadas para suportar o aumento da demanda de energia elétrica?
Resposta: Possivelmente, os estudantes respondam que será necessário instalar mais usinas elétricas.
Como você pôde perceber ao analisar os dados do gráfico anterior, o consumo de energia elétrica tem aumentado ao longo dos anos e a tendência é que isso se mantenha. Esse aumento no consumo de energia elétrica ocorre tanto de modo direto, como no uso de equipamentos elétricos, quanto indireto, por meio do aumento de consumo de bens e serviços.
Mas, afinal, o que fazer para acompanhar esse aumento da demanda de energia elétrica? É possível que muitos afirmem que isso pode ser resolvido com a instalação de mais usinas elétricas. No entanto, será essa a real solução, tendo em vista que, apesar dos benefícios, as usinas elétricas também podem causar danos ao ambiente e à sociedade? Assim, embora a curto prazo a construção de usinas elétricas seja uma saída eficiente, já sabemos que essa medida geraria sérios impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais.
Como você pôde perceber ao longo do estudo sobre energia elétrica, a construção de usinas não é neutra: pode ser parcialmente benéfica ou prejudicial ao ambiente e à sociedade. Portanto, as vantagens e desvantagens devem ser consideradas na tomada de decisão a respeito de projetos de ampliação da capacidade de geração de energia elétrica.
A demanda energética está atrelada ao consumo de energia elétrica ou de produtos de origem industrial – que, como já vimos, é o setor que mais consome energia. Sendo assim, posturas que busquem um consumo consciente se tornam essenciais na atualidade.
Página 215
Geração autônoma de energia elétrica
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
Você já deve ter observado painéis solares em residências e em outros empreendimentos. Esse cenário tem se tornado cada vez mais comum, em razão, por exemplo, da necessidade de buscar formas alternativas de geração de energia elétrica.
A geração autônoma de energia elétrica por meio de painéis solares pode ser realizada em sistema on-grid ou off-grid. Confira a seguir.
O sistema on-grid é conectado diretamente na rede de energia elétrica. Por isso, a energia gerada é enviada à empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, que via sistema de créditos abate parte do valor pago na fatura.
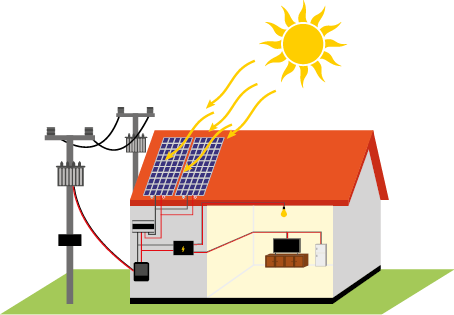
Representação do sistema on-grid.
Já o sistema off-grid não é conectado à rede de energia elétrica e a energia gerada é armazenada em baterias para abastecer a residência ou o estabelecimento comercial.
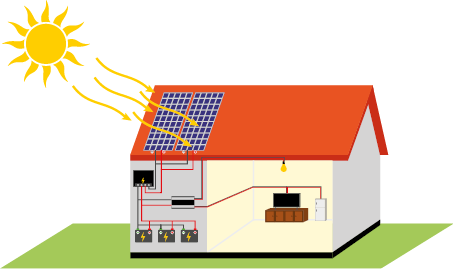
Representação do sistema off-grid.
Imagens elaboradas com base em: BORTOLOTO, V. A. et al. Geração de energia solar on grid e off grid. In: JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FATEC DE BOTUCATU, 6, 2017. Anais... Botucatu: Fatec, 2017. p. 3-4.
Os dois sistemas têm vantagens e desvantagens. No sistema on-grid, a instalação é mais barata, a manutenção é mais duradoura e a geração de energia elétrica é mais eficiente, tendo em vista sua disponibilização direta na rede. No entanto, em caso de corte no fornecimento de energia elétrica pela rede, o fornecimento também é cortado no local em que o sistema está instalado.
No off-grid, por sua vez, o uso de baterias encarece a instalação e a manutenção é mais frequente. Por outro lado, esse sistema possibilita acesso em locais não atendidos pela rede de energia elétrica e não depende do fornecimento de energia dessa rede.
19. Pesquise no município onde você vive se há locais com sistema de geração de energia elétrica autônoma. Entreviste a pessoa responsável sobre o tipo de sistema instalado, os custos envolvidos, o motivo para a instalação e a visão a respeito desse tipo de geração de energia.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a avaliar a região onde vivem em relação à autonomia da geração de energia elétrica e aos possíveis benefícios. Oriente-os a elaborar previamente algumas perguntas a serem feitas ao responsável pelo sistema, de modo que obtenham mais informações sobre os pontos positivos e negativos dessa instalação.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
19. Em dupla, pesquisem no município onde vocês vivem se há locais com sistema de geração de energia elétrica autônoma. Entrevistem a pessoa responsável sobre o tipo de sistema instalado, os custos envolvidos, o motivo para a instalação e a visão dela a respeito desse tipo de geração de energia.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a avaliar a região onde vivem em relação à autonomia da geração de energia elétrica e aos possíveis benefícios. Oriente-os a, caso considerarem necessário, elaborar previamente outras perguntas a serem feitas ao responsável pelo sistema, de modo que obtenham mais informações sobre os pontos positivos e negativos dessa instalação.
Orientação para acessibilidade
Professor, professora: Organize as duplas de modo que o estudante não vidente esteja acompanhado de um estudante vidente. Se considerar pertinente, sugira aos estudantes que gravem (em áudio ou vídeo) a entrevista.
Compartilhe ideias
Repensar o uso da energia elétrica, de modo direto ou indireto, pode minimizar a necessidade de construção de novas usinas elétricas.
a ) Junte-se a dois colegas e listem medidas que podem ser adotadas no dia a dia para utilizar a energia elétrica de maneira consciente.
Resposta: Os estudantes podem citar algumas medidas, como: desligar as luzes dos cômodos desocupados da residência; manter desligados os aparelhos sem uso; manter chuveiros elétricos desligados enquanto ensaboa o corpo, atitude que também economiza água; usar de preferência energia renovável, como a solar.
Página 216
LIGADO NO TEMA
Lixo eletrônico
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
Leia o trecho de reportagem a seguir.
[...]
De acordo com a quarta edição do Monitor Global de Lixo Eletrônico, GEM, foram produzidos 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos em 2022. [...]
A quantidade de resíduos eletrônicos registrada como recolhida e reciclada foi de 14 milhões de toneladas, ou 22,3%. A previsão é que esse total caia para 20% até 2030, devido à crescente lacuna nos esforços de reciclagem em relação à alta na produção mundial de lixo eletrônico.
O aumento das disparidades em todo o mundo é atribuído a desafios que incluem o aumento do consumo, a redução de conserto e a obsolescência.
Contam-se ainda o avanço tecnológico, a limitação nas opções de conserto, os ciclos de vida mais curtos dos produtos, a crescente eletrificação, as deficiências de concepção e a infraestrutura inadequada para a gestão de resíduos eletrônicos.
[...]
A publicação revela ainda que 31 milhões de toneladas de metais foram incorporados no lixo eletrônico em 2022, juntamente com 17 milhões de toneladas de plásticos e 14 milhões de toneladas de materiais como minerais ou vidro.
PRODUÇÃO de lixo eletrônico pela humanidade chegou a 62 milhões de toneladas. Nações Unidas, 22 mar. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/yrd0k8. Acesso em: 12 set. 2024.
a ) O texto da reportagem cita que é prevista a redução da porcentagem de resíduos eletrônicos que serão recolhidos e reciclados. Em sua opinião, quais são os possíveis efeitos dessa queda?
Resposta pessoal. A redução da coleta e da reciclagem dos resíduos eletrônicos significa que um montante cada vez maior desses resíduos será depositado em locais inadequados e com possíveis efeitos de contaminação ambiental. Muitos componentes desse tipo de resíduo precisam de destinação adequada, pois podem contaminar o solo, a água subterrânea e os organismos, incluindo os seres humanos.
Ao longo do tempo, comprar equipamentos eletrônicos, como smartphones, celulares, tablets, computadores e televisores, tem se tornado cada vez mais acessível à população. Apesar dos benefícios dessa facilidade de acesso à tecnologia, o aumento do consumo global desses equipamentos tem gerado preocupação, uma vez que o aumento do consumo desses produtos significa aumento do descarte deles − o chamado lixo eletrônico, ou "e-lixo".
Ainda de acordo com o Monitor Global do Lixo Eletrônico, citado na notícia anterior, em apenas 12 anos o mundo quase dobrou sua produção de e-lixo, de 34 milhões de toneladas em 2010 para 64 milhões de toneladas em 2022. Somente no Brasil são produzidos 2,4 milhões de toneladas por ano, fazendo do país o quinto maior produtor de lixo eletrônico do mundo. Desse total, apenas 3% são reciclados.
O descarte inadequado do lixo eletrônico pode poluir corpos de água e solo, prejudicando os seres vivos que dependem direta ou indiretamente desses recursos, inclusive os seres humanos. Em contato com os compostos tóxicos presentes nos resíduos eletrônicos, alguns seres vivos podem desenvolver doenças, como o câncer (uma vez que muitos desses compostos são cancerígenos); esse contato pode causar também malformação em fetos e intoxicação respiratória.

Página 217
Quantidade de lixo eletrônico, em milhões de toneladas, produzida no mundo, de acordo com o tipo de equipamento eletrônico (2022)
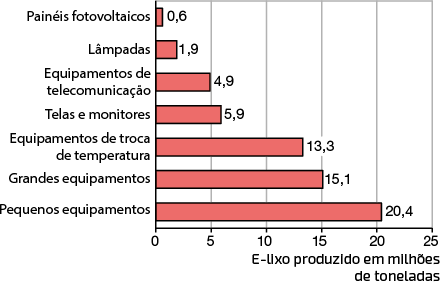
Fonte de pesquisa: BALDÉ, Cornelis P. et al. The global e-waste monitor 2024. Geneva, 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/bkea4h. Acesso em: 19 set. 2024.
Talvez os componentes mais preocupantes e presentes em muitos tipos de e-lixo sejam as pilhas e as baterias. Embora no mercado haja diferentes tipos e marcas, com o lançamento de opções mais eficientes e com menor toxicidade, ainda circulam versões que oferecem sérios riscos ao ambiente e à saúde caso o descarte não seja feito de forma correta.
Cádmio, chumbo e mercúrio são alguns metais que podem ser encontrados em pilhas e baterias. Enquanto estão intactas e em uso, não há risco, mas o descarte inadequado pode resultar no vazamento de seus componentes no ambiente.
Para que esse tipo de situação não ocorra, é crucial que pilhas e baterias sejam recicladas. Uma vez destinadas aos pontos de coleta corretos, esses itens são submetidos a processos de tratamento, neutralização e reaproveitamento de materiais para serem reutilizados.
Além de resultarem em consequências graves para a saúde e o ambiente, o consumo excessivo de equipamentos eletrônicos, aliado ao não reaproveitamento e à não reciclagem dos materiais descartados, aumenta a extração de minerais e metais do solo e do subsolo, um processo que também provoca danos ambientais.
Os resíduos eletrônicos não devem ser descartados como resíduos sólidos comuns, mas destinado a pontos de coleta específicos, de onde são recolhidos e destinados a tratamento apropriado por distribuidores, comerciantes e fabricantes de produtos eletrônicos.

b ) Quais atitudes você pode ter em seu dia a dia para reduzir a geração de resíduos eletrônicos?
Resposta: É necessário consumir esses equipamentos de forma consciente, usando-os até o final de sua vida útil e considerando sempre consertá-los em vez de substituí-los. Caso o equipamento realmente necessite ser descartado, isso deve ser feito em local adequado para evitar a contaminação do ambiente e dos seres vivos, inclusive seres humanos.
c ) Junte-se a dois colegas e façam uma pesquisa sobre os pontos de coleta de e-lixo no município onde vivem, especialmente nas proximidades da residência de vocês. Em seguida, elaborem um panfleto com informações dos resíduos eletrônicos: o que é, seu perigo à saúde e ao meio ambiente e formas de descarte correto. Depois, distribuam esse material para as comunidades escolar e não escolar.
Resposta: O objetivo desta questão é incentivar os estudantes a divulgar, para as comunidades escolar e não escolar, informações importantes a respeito do descarte adequado do lixo eletrônico. Caso eles não identifiquem pontos de coleta, auxilie-os a verificar a possibilidade de instalar um desses pontos. Para isso, converse com os responsáveis por eles.
Página 218
ATIVIDADES
1. Leia o trecho de uma reportagem sobre energia solar a seguir.
[...] "Os sistemas normalmente são projetados para atender à média de consumo ao longo do ano, então, em determinados meses você vai consumir mais energia da rede para compensar aquilo que você não conseguiu gerar com seu sistema próprio e, em outros meses, você vai ficar com créditos" [...]
GERAÇÃO de energia solar pode substituir dependência do sistema hidrelétrico. Jornal da USP, 12 ago. 2022. Disponível em: https://s.livro.pro/jn05us. Acesso em: 4 out. 2024.
O texto se refere à geração de energia por um sistema on-grid ou off-grid? Justifique sua resposta e diferencie esses dois tipos de sistemas.
2. Leia o trecho da reportagem a seguir e responda à questão proposta.
Série "Energia": Usinas termelétricas à biomassa crescem e se consolidam na matriz energética
As termelétricas devem dobrar a produção atual até 2050, segundo o Plano Nacional de Energia (MME)
FERRAZ JÚNIOR. Série "Energia": usinas termelétricas à biomassa crescem e se consolidam na matriz energética. Jornal da USP, 1 abr. 2022. Disponível em: https://s.livro.pro/yvuxfg. Acesso em: 12 set. 2024.
Qual é a vantagem do uso de termelétricas à biomassa?
Resposta: Comparada à queima de combustíveis fósseis, a queima de biomassa nas usinas termelétricas emite menor quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre.
3. Analise as informações a seguir e associe os tipos de usinas de energia elétrica às respectivas vantagens e desvantagens.
Tipo de usina
1. Usina solar.
2. Usina termonuclear.
3. Usina eólica.
4. Usina hidrelétrica.
Vantagens
A. Produz grande quantidade de energia.
B. Utiliza a luz solar, um recurso renovável.
C. Utiliza a água, um recurso renovável.
D. Utiliza o vento, um recurso renovável.
Desvantagens
I. Gera resíduos radioativos.
II. Para sua construção, necessita inundar uma grande área.
III. Alto custo e pode sofrer variações de eficiência com as estações do ano.
IV. Poluição visual e sonora.
Resposta: 1-B-III; 2-A-I; 3-D-IV; 4-C-II.
4. Considere o texto a seguir e escreva a alternativa que o completa corretamente.
No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia na intensificação do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas são consideradas uma fonte:
a ) limpa de energia, sendo a única alternativa para minimizar os efeitos desse fenômeno.
b ) eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados.
c ) alternativa, não emitindo gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis.
d ) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta.
e ) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa de todas as demais fontes geradoras.
Resposta: Alternativa c.
5. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões propostas.
Morte no Rio Madeira
Com a contribuição de pescadores, pesquisador do ICB revela que produção de pescado em afluente do Amazonas caiu quase 40% após a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau
SANCHES, Teresa. Morte no Rio Madeira. Boletim, ano 44, n. 2033, 24 set. 2018. Disponível em: https://s.livro.pro/wf8oo1. Acesso em: 11 set. 2024.
a ) Como a informação anterior pode impactar a população da região?
b ) Como a redução do estoque de peixes pode interferir na diversidade biológica da região?
c ) Como a construção de uma hidrelétrica pode prejudicar a população de peixes? Se necessário, faça uma pesquisa.
d ) Quais são as possíveis medidas a serem tomadas para reduzir os prejuízos causados pela construção de usinas hidrelétricas?
Professor, professora: A sigla ICB refere-se ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Respostas das questões 1 e 5 nas Orientações para o professor.
Página 219
6. Leia o texto a seguir.
Mensalmente, os consumidores de energia elétrica pagam uma fatura, que contém valores referentes ao uso dessa energia. Nela, está incluída parte dos gastos com sua geração, transmissão, distribuição e consumo. Sendo assim, quanto maior o consumo de energia elétrica, maior o valor pago pelo serviço.
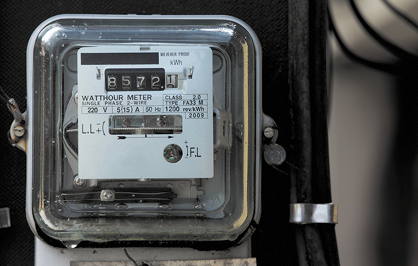
No entanto, atualmente, o consumidor pode se organizar para realizar suas atividades em horários em que o valor do quilowatt por hora é reduzido, a chamada tarifa branca. Pesquise essa modalidade de tarifa e responda às questões a seguir.
a ) Como funciona a tarifa branca?
b ) Ao optar pela tarifa branca, como o consumidor pode reduzir o valor pago na fatura de energia elétrica?
c ) Qual é a importância da tarifa branca para a rede de energia elétrica como um todo?
d ) Que cuidados o consumidor precisa ter para que a tarifa branca resulte em redução significativa no valor pago na fatura?
e ) Você acha que a adoção da tarifa branca seria viável na residência onde você vive? Explique.
f ) Em que situação a adoção da tarifa branca pode ser desfavorável ao consumidor?
7. Dados atuais sugerem que cerca de 85% dos brasileiros tenham em casa algum aparelho eletrônico que não usam (ou não funciona mais) e que não sabem o que fazer com ele. Será que esses dados estão mais perto de nós do que imaginamos? Vamos, então, investigar.
Para esta atividade, você vai entrevistar seus familiares com o objetivo de investigar o conhecimento dessas diferentes pessoas a respeito da geração de lixo eletrônico e do descarte correto. Para isso, siga esses passos.
1. Elabore um roteiro de entrevista com perguntas que atendam ao objetivo descrito anteriormente. Para facilitar a análise dos dados, faça perguntas objetivas, de múltipla escolha, em vez de questões abertas/discursivas. Por exemplo:
- Você sabe o que é lixo eletrônico?
- Você tem algum eletrodoméstico que não funciona mais em sua casa?
- Você sabe como descartar corretamente esse aparelho?
Se possível, busque variar a faixa etária dos seus familiares e entrevistar o maior número de pessoas que conseguir.
2. Após finalizar as entrevistas, é hora de analisar os dados. Para ilustrar os resultados, construa gráficos variados e elabore textos explicativos para cada um deles.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
2. Após finalizar as entrevistas, é hora de analisar os dados. Para isso, identifique a principal resposta para cada pergunta, a fim de constatar a prevalência dos dados coletados.
Resposta pessoal. O resultado dependerá da pesquisa realizada pelos estudantes.
3. Elabore um projeto de forma a organizar a pesquisa e os resultados. Ao final, produza uma conclusão para o trabalho. Nesse momento, é importante retomar o objetivo inicial das entrevistas e, inclusive, verificar se os resultados reforçam ou refutam o dado apresentado no enunciado da atividade.
Resposta pessoal. O resultado dependerá da pesquisa realizada pelos estudantes.
8. Leia os trechos de reportagens a seguir.
Pesquisadores querem reduzir mortes de morcegos nos parques eólicos
Milhares de animais morrem por ano devido à colisão ou à mudança de pressão gerada pelas pás das turbinas
SCHMIDT, Sarah. Pesquisadores querem reduzir mortes de morcegos nos parques eólicos. Pesquisa Fapesp, 2 jun. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/by775v. Acesso em: 4 out. 2024.
Morcegos urbanos ajudam no controle de pragas agrícolas
Pesquisadores da UnB mostram que espécies insetívoras do mamífero são exímias predadoras de artrópodes considerados prejudiciais a lavouras. Economia com uso de agrotóxicos é de até US$ 94 por hectare de milho
LOPES, Helen. Morcegos urbanos ajudam no controle de pragas agrícolas. UnB Ciência, 18 nov. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/1nfizj. Acesso em: 4 out. 2024.
a ) Como os dois trechos de reportagem podem estar relacionados entre si?
b ) Além da morte de morcegos citada no texto, quais impactos negativos podem ser associados aos parques eólicos?
c ) Quais são as vantagens das usinas eólicas?
Respostas das questões 6 e 8 nas Orientações para o professor.
Página 220
CAPÍTULO12
Os seres vivos e as radiações
A radiação ionizante e o organismo
Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, um dos reatores da usina nuclear de Chernobyl, cidade que atualmente pertence à Ucrânia, explodiu. Em consequência, uma grande quantidade de material radioativo foi lançada no ambiente.
Sobre esse acidente nuclear, leia o trecho de reportagem a seguir.

[...] Dados do Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos das Radiações Atómicas (UNSCEAR, na sigla em inglês) informam que, dos 600 liquidadores (trabalhadores presentes no local durante a explosão), 134 receberam doses muito elevadas e sofreram de doença aguda por radiação. "Destes, 28 trabalhadores morreram nos primeiros três meses".
"Entre os que sobreviveram à doença das radiações, a recuperação demorou vários anos. Muitos deles desenvolveram catarata devido à radiação nos primeiros anos após o acidente", acrescenta a agência de saúde.
Por sua vez, nos primeiros meses após a explosão, as doses de radiação recebidas pela tireoide foram particularmente elevadas em crianças e adolescentes que viviam nas regiões mais afetadas, e naqueles que bebiam leite com níveis elevados de iodo radioativo, o que foi associado a mais casos de câncer de tireoide.
"Além do aumento dramático da incidência de câncer de tireoide entre as pessoas expostas em idade jovem, há indícios de um aumento da incidência de leucemia e de catarata entre os trabalhadores", informa o órgão da ONU.
A instituição acrescenta: "A evacuação e a deslocação foram uma experiência traumática para muitas pessoas, com um profundo impacto psicossocial devido à perda de casas e empregos, à perturbação do tecido social das comunidades e ao estigma social associado a Chernobyl".
[...]
CHERNOBYL 37 anos depois: sobrevivente conta o que aconteceu após desastre nuclear. National Geographic, 26 abr. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/aixgop. Acesso em: 10 set. 2024.
1. De acordo com o trecho de reportagem, quais foram as consequências do acidente na usina nuclear de Chernobyl para os moradores da região?
Resposta: Além das mortes nos primeiros meses após a exposição, as pessoas que sobreviveram ao acidente desenvolveram doenças, como câncer, catarata e há indícios do aumento de incidência de catarata e leucemia (câncer de células sanguíneas), em razão da exposição à radiação. Além disso, muitas pessoas perderam suas casas e empregos, provocando um impacto psicossocial.

Como estudamos anteriormente, as usinas nucleares podem causar inúmeros prejuízos, o que pode ser mais intenso no caso de acidentes, como o da usina nuclear de Chernobyl. Neste e em outros casos, resíduos e materiais radioativos são liberados no ambiente de maneira totalmente descontrolada, resultando na exposição de seres humanos, e outros seres vivos, à radiação ionizante.
Página 221
A radiação ionizante é a radiação capaz de ionizar, isto é, de retirar elétrons de um átomo, ionizando o meio no qual incide. Para que os elétrons sejam removidos, a energia incidente deve ser superior à energia que mantém o elétron na eletrosfera do átomo.
A energia necessária para remover um elétron varia entre os átomos dos diferentes elementos químicos. De maneira geral, elementos químicos como sódio abre parênteses N a fecha parênteses, lítio abre parênteses L i fecha parênteses, potássio abre parênteses K fecha parênteses e césio abre parênteses C s fecha parênteses são mais facilmente ionizáveis por apresentarem um único elétron na camada de valência (camada mais externa de um átomo). Já os gases nobres são mais difíceis de serem ionizáveis.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
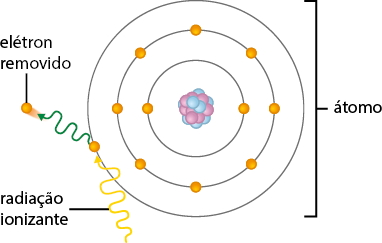
Imagem elaborada com base em: GOVERNMENT OF JAPAN. Ministry of the Environment. Basic knowledge and health effects of radiation: booklet to provide basic information regarding health effects of radiation. Tokyo, 2024. v. 1. p. 18. Disponível em: https://s.livro.pro/hdirgm. Acesso em: 10 set. 2024.
Existem três tipos principais de radiação ionizante: alfa abre parênteses alfa fecha parênteses, beta abre parênteses beta fecha parênteses e gama abre parênteses gama fecha parênteses. Esses tipos variam quanto às suas características, como origem, poder de penetração, poder de ionização e velocidade. Também existe a radiação X, que, assim como a radiação gama, por exemplo, tem mais energia e, portanto, mais capacidade de remover elétrons.
Ao atingir as células, a radiação pode atravessá-las, sem acumular ou depositar energia ou causar danos, os quais, por sua vez, podem ser reparados por mecanismos da própria célula. Caso não sejam reparados ou o reparo seja incorreto, podem se manifestar efeitos biológicos, como estudaremos ainda neste capítulo.
O corpo humano é formado por diferentes tipos de células, os quais apresentam diferentes taxas de divisão. Células com alta taxa de multiplicação, como as da epiderme, as sanguíneas e as germinativas, tendem a ser mais sensíveis à radiação ionizante. A parte da célula mais sensível à radiação é o núcleo.
Os efeitos biológicos não se restringem às células atingidas diretamente pela radiação ionizante. Estudos indicam que essas células podem induzir danos, via comunicação química, em células vizinhas não atingidas diretamente pela radiação.
A absorção de energia da radiação ionizante varia de acordo com o tipo de molécula e o tipo de tecido. Essa característica possibilita, por exemplo, enxergarmos as estruturas internas do corpo humano por meio de um exame de radiografia, em diferentes tonalidades.
Tecidos mais rígidos, como os ossos, absorvem grande parte da radiação incidente, enquanto tecidos moles, como músculos e gordura, absorvem menos quantidade de radiação. Por isso, em uma radiografia, visualizamos os ossos em coloração distinta de outros tecidos.
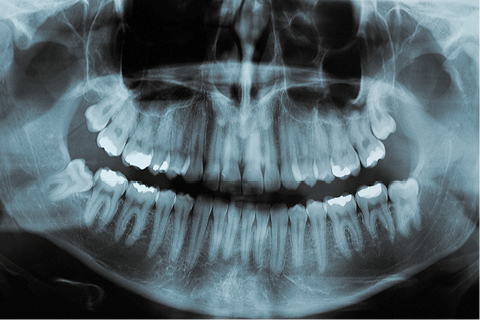
Vários fatores podem interferir nos efeitos biológicos resultantes, como o tipo de radiação, o tempo de exposição e fatores individuais, como idade, sexo e estado de saúde. A idade é um fator preponderante, sendo crianças e idosos os grupos mais suscetíveis à radiação. O sexo biológico também interfere nesses efeitos, pois células do sistema reprodutor feminino e dos seios, por exemplo, são mais suscetíveis à radiação. Assim, indivíduos do sexo feminino sentem mais os efeitos da exposição à radiação do que indivíduos do sexo masculino.
O estado físico da pessoa que recebe a radiação também interfere nos efeitos biológicos. Pessoas com bom estado de saúde e resistência imunológica tendem a sofrer menos danos do que pessoas com problemas de saúde.
Página 222
Efeitos biológicos da radiação ionizante
Ao atingir os seres vivos, como ocorreu com as vítimas do acidente nuclear de Chernobyl, por exemplo, a radiação ionizante interage com seus átomos e suas moléculas em uma sequência de eventos, os chamados estágios.
Acompanhe a seguir mais detalhes sobre os estágios de interação da radiação ionizante com átomos e moléculas.
| Estágio | Características | Duração |
|---|---|---|
|
Físico |
Nesse estágio, ocorrem as excitações e as ionizações dos átomos, com a consequente formação de íons. Enquanto as excitações causam pouco efeito nos átomos e moléculas, as ionizações causam desequilíbrio eletrostático, levando as moléculas e os átomos ao segundo estágio. |
Cerca de 10 elevado a menos 15 segundos. |
|
Físico-químico |
Nesse estágio, ocorre o rompimento das ligações químicas, resultado da ionização de um ou mais átomos. |
Cerca de 10 elevado a menos 6 segundos. |
|
Químico |
Nesse estágio, ocorre a interação dos íons e dos radicais livres✚ com outras moléculas, como enzimas e proteínas, o que altera sua funcionalidade. |
Poucos segundos. |
|
Biológico |
Nesse estágio, surgem os efeitos bioquímicos ou fisiológicos que resultam em alteração na funcionalidade e/ou morfologia de órgãos e sistemas. |
Dias, semanas ou anos. |
Fonte de pesquisa: OKUNO, Emico; YOSHIMURA, Elisabeth. Efeitos biológicos das radiações nos seres vivos. In: OKUNO, Emico; YOSHIMURA, Elisabeth. Física das radiações. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. p. 204.
Dica
A excitação, verificada no estágio físico, é o processo que faz os elétrons mudarem de uma camada menos energética para uma camada mais energética, levando-o a um maior estado de energia. Já a ionização, também verificada no estágio físico, é o processo que resulta na remoção de elétrons de átomos e moléculas, levando à formação de pares iônicos, sendo um deles com carga positiva e o outro com carga negativa.
Mecanismos indireto e direto
As radiações podem agir nos seres vivos por meio de dois mecanismos, o indireto e o direto. O mecanismo indireto ocorre quando a radiação atua na molécula de água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses, por exemplo, quebrando-a e gerando componentes reativos capazes de interagir com outras moléculas, como o DNA.
Uma das principais moléculas a sofrer ação da radiação ionizante é a água, porque é a mais abundante no corpo humano. Como resultado da ação da radiação, a molécula de água pode se tornar excitada abre parênteses H subscrito 2 O sobrescrito asterisco, fecha parênteses ou sofrer a radiólise, ou seja, a quebra por radiação. Como resultado da radiólise, pode ocorrer a formação de íons (H subscrito 3 O sobrescrito mais, H subscrito 2 O sobrescrito mais e H subscrito 2 O sobrescrito menos), que, por serem instáveis, podem formar outros radicais livres H símbolo com o formato de um ponto e O H símbolo com o formato de um ponto.
Dica
O símbolo abre parênteses asterisco fecha parênteses representa uma molécula em estado excitado, e abre parênteses vezes fecha parênteses refere-se a um elétron isolado ou desemparelhado.
Os estágios de interação da radiação com a molécula de água estão apresentados a seguir.
H subscrito 2 O mais radiação ionizante seta para a direita H subscrito 2 O sobrescrito mais, mais e sobrescrito menos ou H subscrito 2 O
H subscrito 2 O sobrescrito mais seta para a direita H sobrescrito mais mais O H símbolo com o formato de um ponto
e sobrescrito menos mais H subscrito 2 O seta para a direita H subscrito 2 O sobrescrito menos
H subscrito 2 O sobrescrito menos seta para a direita H símbolo com o formato de um ponto mais O H sobrescrito menos
H subscrito 2 O sobrescrito mais H subscrito 2 O seta para a direita H subscrito 3 O sobrescrito mais, mais O H vezes
H subscrito 2 O sobrescrito asterisco seta para a direita H símbolo com o formato de um ponto mais O H símbolo com o formato de um ponto
Professor, professora: Ao abordar a formação de radicais livres, comente com os estudantes que, além das radiações ionizantes, alguns compostos são capazes de resultar em radicais livres, como os componentes do cigarro, a ingestão de álcool e resíduos de agrotóxicos. Esses radicais também podem ser formados naturalmente durante os processos metabólicos nas células.
- Radicais livres:
- refere-se a átomos, íons ou moléculas altamente reativos que são liberados pelo metabolismo do organismo.↰
Página 223
Os radicais livres, por sua vez, podem reagir e dar origem a outras moléculas, como o peróxido de hidrogênio abre parênteses H subscrito 2 O subscrito 2 fecha parênteses, que causam danos às estruturas celulares, entre elas o DNA.
O H símbolo com o formato de um ponto mais O H símbolo com o formato de um ponto seta para a direita H subscrito 2 O subscrito 2
H símbolo com o formato de um ponto mais O subscrito 2 seta para a direita H O subscrito 2
H símbolo com o formato de um ponto mais H O subscrito 2 seta para a direita H subscrito 2 O subscrito 2
Os radicais livres são muito reativos e, por não terem carga elétrica, podem reagir com diversas moléculas, como proteínas, lipídios e carboidratos, o que gera uma reação em cadeia, resultando em danos ao corpo humano. Enquanto os radicais livres atuam, de modo geral, próximo ao local onde são produzidos, o peróxido de hidrogênio pode se espalhar para diferentes partes do corpo humano.
O mecanismo direto de atuação da radiação ionizante nos organismos ocorre quando a radiação atua diretamente em uma molécula essencial, como o DNA, alterando-a. Os danos causados ao DNA pela radiação ionizante são variados. Confira a seguir exemplos desses danos ao DNA.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
Rompimento das ligações de hidrogênio que unem as duas fitas simples de DNA, separando-as.
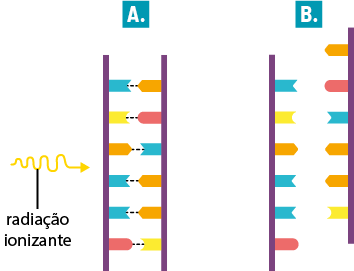
Rompimento de uma das fitas de DNA ou de ambas, com posterior afastamento dos fragmentos.
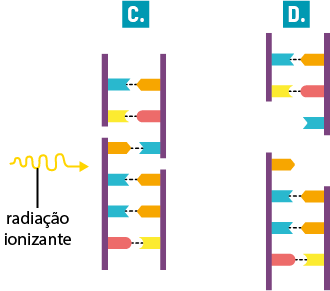
Rompimento de uma das fitas de diferentes moléculas de DNA, com posterior ligação cruzada.
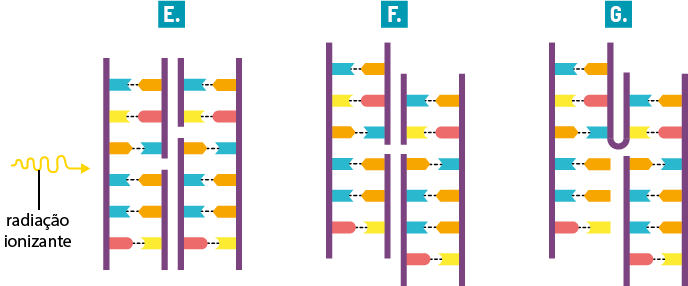
Imagens elaboradas com base em: OKUNO, Emiko; YOSHIMURA, Elisabeth. Física das radiações. São Paulo: Oficina de textos, 2010. p. 208.
A depender do tipo e da quantidade de alterações, os mecanismos celulares são capazes de repará-las. Nos casos em que o reparo não ocorre, no entanto, os danos são mantidos, prejudicando o funcionamento adequado das células e podendo levar à morte celular ou a eventos cancerígenos, por exemplo.
A radiação ionizante também pode atuar diretamente nos cromossomos, quebrando um ou ambos os braços cromossômicos. Os fragmentos resultantes podem se ligar de diferentes maneiras, dando origem a anomalias ou alterações cromossômicas, nas quais os cromossomos têm sua estrutura normal alterada.
Página 224
Nas alterações cromossômicas tipo inversão, anel e acêntrico, ambos os braços do cromossomo são quebrados pela ação da radiação ionizante. Já na alteração tipo translocação, um dos braços de diferentes cromossomos é quebrado.
Professor, professora: Comente com os estudantes que foram adotadas cores distintas nos cromossomos para facilitar a compreensão dos processo de alteração cromossômica.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
Na inversão, a radiação quebra o cromossomo em duas regiões. Os fragmentos se desprendem e depois voltam a se ligar ao cromossomo, mas em posição invertida.
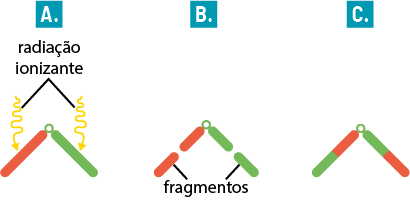
Na alteração tipo anel, o fragmento formado após a quebra causada pela radiação ionizante une suas extremidades, formando a estrutura em forma de anel.
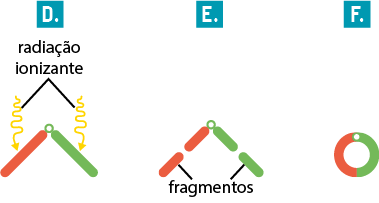
Na alteração tipo acêntrica, as extremidades do cromossomo, nas quais o centrômero não está presente, se unem após a quebra.
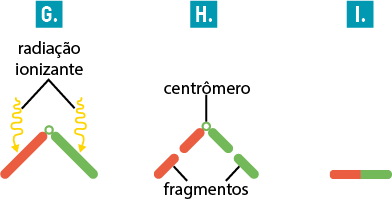
Na translocação, ocorre troca de fragmentos entre cromossomos.

Imagens elaboradas com base em: OKUNO, Emiko; YOSHIMURA, Elisabeth. Física das radiações. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. p. 210.
Reações teciduais e efeitos estocásticos
Os efeitos biológicos da exposição à radiação ionizante também podem variar quanto à natureza, sendo classificados como reações teciduais ou efeitos estocásticos.
As reações teciduais são resultado da exposição a doses elevadas de radiação ionizante, causando a morte de muitas células. Como consequência, o tecido ou o órgão pode perder sua funcionalidade. Nesse tipo de efeito, existe um limiar de dose, ou seja, uma dose mínima de radiação para que ocorram reações teciduais; abaixo desse limiar, elas não são observadas. E, quanto maior a dose de exposição, maior é a gravidade.
As reações teciduais podem ser imediatas ou tardias. As reações teciduais imediatas ocorrem algumas horas ou semanas após a exposição à radiação ionizante, como as queimaduras e descamações da pele e a inflamação de mucosas.
Um exemplo de reação tecidual imediata é a radiodermatite, reação que ocorre em pacientes de câncer de mama que passam por tratamento com radioterapia. Os sintomas ocorrem porque a radiação provoca a morte de células basais da epiderme do local onde a radioterapia foi aplicada.
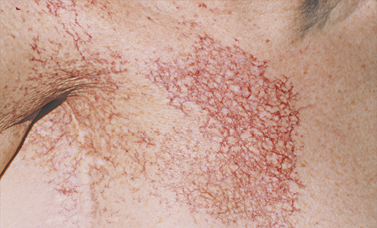
Professor, professora: Ao abordar o conceito de reações teciduais, comente com os estudantes que a dosagem elevada, citada no texto, se refere àquela acima dos limites de dose estabelecidos por sistemas de proteção radiológica.
Professor, professora: Comente com os estudantes que a radioterapia é indicada tanto para pacientes que mantêm a mama quanto para aquelas que a removem como parte do processo de tratamento contra o câncer de mama.
Página 225
As reações teciduais tardias, por sua vez, manifestam-se meses ou anos após a exposição à radiação ionizante. Esse tempo de latência e os efeitos observados variam de acordo com o tecido, porque alguns tecidos são mais radiossensíveis do que outros. Entre as reações teciduais tardias, podemos citar a necrose de matéria branca da medula espinal e a catarata.
Os efeitos teciduais tardios podem se manifestar em embriões, quando eles são expostos à radiação ionizante ainda no útero. Tais efeitos variam com a dose da irradiação e podem incluir retardo mental severo e malformações. Estudos indicam que a indução de retardo mental severo ocorre quando a exposição é de pelo menos 300 miliGray. Essa dosagem foi verificada, por exemplo, nos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Já no caso de malformações, a dosagem é mais baixa, de 100 miliGray.
Dica
Gray abre parênteses G y fecha parênteses e miligray abre parênteses m G y fecha parênteses são unidades de medida que indicam a quantidade de energia de radiação ionizante absorvida por uma unidade de massa.
Milhares de crianças foram afetadas pela radiação liberada no acidente de Chernobyl, inclusive crianças nascidas muitos anos depois da explosão do reator. Algumas delas desenvolveram problemas de pele, câncer, paralisia cerebral, malformações e alterações neurológicas, por exemplo.
Os efeitos estocásticos ocorrem em razão da exposição a doses altas e baixas de radiação ionizante, a qual atinge locais específicos, como moléculas de DNA, nas quais pode provocar mutações nos genes e cromossomos e, ao longo do tempo, causar câncer. Nesse tipo de efeito, danos em uma única célula podem levar a resultados graves e, quanto maior a dose de radiação, maior a probabilidade de o dano ocorrer.
Os efeitos estocásticos podem ser hereditários ou cancerígenos, a depender do tipo de célula no qual a radiação ionizante incide.
No caso dos efeitos estocásticos hereditários, a radiação incide em células germinativas, e os efeitos podem ser repassados aos descendentes da pessoa irradiada. Nesse caso, a irradiação atinge os órgãos reprodutores, nos quais ocorre a formação e/ou maturação das células germinativas. Para esse tipo de efeito, não há níveis seguros de exposição à radiação ionizante.
Já no caso dos efeitos estocásticos cancerígenos, a radiação incide em células somáticas, e não existe um limiar para a indução desse tipo de efeito. Assim, até mesmo a radiação ambiental pode causar câncer. Embora não haja uma relação direta entre dose e gravidade de câncer, há maior probabilidade de ocorrência de câncer em casos de doses mais elevadas de radiação ionizante. Esses efeitos são sempre do tipo tardio. Por isso, o câncer demora alguns anos para se manifestar após a exposição à radiação, o chamado período de latência, que varia de acordo com o tipo de câncer.
Observe o gráfico a seguir.
Professor, professora: Ao abordar o gráfico, comente com os estudantes que os dados se referem a habitantes menores de 18 anos na época do acidente em Chernobyl. Comente que Belarus é um país vizinho à Ucrânia e foi mais afetado pelo acidente de Chernobyl.
Incidência de câncer de tireoide entre habitantes de Belarus
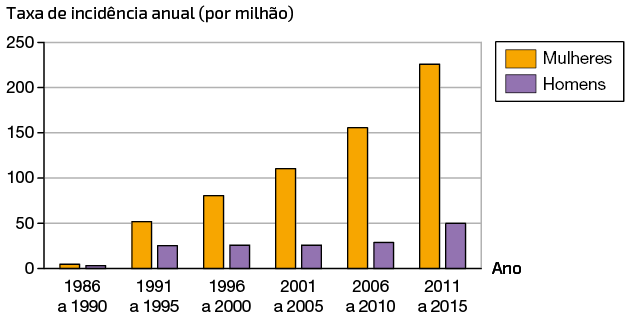
Fonte de pesquisa: JANIAK, Marek K.; KAMIŃSKI, Grzegorz. Thyroid cancer in regions most contaminated after the Chernobyl disaster. Journal of Biomedical Physics and Engineering, v. 14, n. 3, 2024. p. 302.
2. O que você pode concluir ao analisar o gráfico?
Resposta: Espera-se que os estudantes percebam que ocorreu um aumento na incidência de câncer de tireoide ao longo dos anos entre os habitantes de Belarus, principalmente em mulheres.
Página 226
Radiação ionizante e doenças
Cada célula do corpo humano tem sua divisão controlada e ajustada de acordo com a necessidade do organismo, evitando, por exemplo, que ela se multiplique indevidamente. No entanto, em determinadas situações, como após a exposição à radiação ionizante, esse controle pode ser prejudicado, e uma ou mais células passam a se multiplicar de maneira descontrolada.
Como resultado dessa multiplicação celular descontrolada, formam-se tumores, os quais podem ser malignos ou benignos. Os tumores malignos são conhecidos popularmente como câncer. Eles podem se disseminar para diferentes locais do organismo, formando tumores secundários, processo conhecido como metástase. Por sofrer metástase, o tumor maligno tem elevado poder invasivo e não fica restrito ao local de origem, o que dificulta o tratamento.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo. De acordo com essa mesma instituição, são estimados 341.350 novos casos de câncer para homens no Brasil entre os anos de 2023 e 2025, e 362.730 novos casos de câncer para mulheres no mesmo período.
Por exemplo, o adenocarcinoma do endométrio, tecido que reveste internamente o útero, é um tipo de câncer que pode acometer mulheres. Observe na imagem a seguir células cancerígenas invadindo o tecido muscular do endométrio.
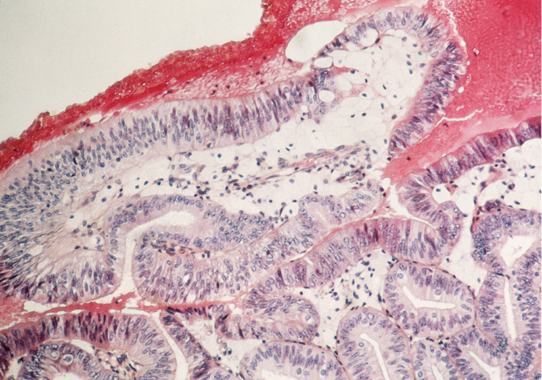
Compartilhe ideias
Grande parte dos portadores de câncer não tem conhecimento dos direitos sociais garantidos a eles por lei.
a ) Você conhece algum desses direitos? Compartilhe com os colegas. Se necessário, façam uma pesquisa para embasar a conversa.
Resposta nas Orientações para o professor.
As doenças resultantes da exposição à radiação ionizante não se restringem ao câncer. Outras doenças, como as respiratórias, cardíacas e digestivas e os derrames cerebrais, estão associadas a esse tipo de agente. Há evidências de que tuberculose e catarata também estejam associadas a esse tipo de radiação.
Outro problema relacionado à exposição à radiação é a Síndrome Aguda da Radiação, que ocorre quando muitas células do corpo são mortas por exposição a alta dose de radiação recebida de uma vez ou em curtos intervalos. Os sintomas variam conforme a dose recebida, como náuseas, diarreia, anemias e danos à medula óssea. Em casos mais graves, ocorrem danos fatais ao sistema nervoso e cardiovascular.
Os danos causados pela radiação ionizante não se restringem aos seres humanos, tampouco aos animais.
Os pinheiros, por exemplo, são plantas muito sensíveis à radiação em altas doses. Em angiospermas, os raios ultravioleta podem causar uma diminuição na área foliar e no número de estômatos.
Diversos estudos sobre os efeitos da radiação em animais e plantas são conduzidos na área onde ocorreu o acidente de Chernobyl. Entre os diversos resultados observados, verificou-se que a quantidade de insetos e aracnídeos, por exemplo, sofreu uma grande redução na área afetada.
a ) Além da radiação ionizante, outros fatores podem favorecer o desenvolvimento de câncer. Faça uma pesquisa para identificar quais são esses fatores.
Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a perceber que o câncer é uma doença multifatorial. Alguns dos fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa doença são os hereditários e os ambientais. Entre os ambientais, os estudantes podem citar alimentação, tabagismo e sedentarismo.
Página 227
CONEXÕES com ... HISTÓRIA e FILOSOFIA
Ética e ciência
A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi o maior conflito armado da história da humanidade, contra o expansionismo nazista na época. Nesse contexto, diversos países se mobilizaram contra o exército nazista alemão e seu principal aliado, o Japão.
Com o objetivo de criar um dispositivo de destruição em massa antes dos nazistas e vencer a guerra, os Estados Unidos criaram o Projeto Manhattan (1942-1947), que contou com uma equipe de cientistas, liderada pelo físico estadunidense Julius Robert Oppenheimer (1904-1967). Esse projeto resultou na construção das primeiras bombas atômicas, que tiveram um papel devastador na história da humanidade, sendo responsáveis pela morte direta de milhares de pessoas.

Embora a guerra já houvesse acabado na Europa, com a invasão do exército soviético à Alemanha e a morte de Adolf Hitler (1889-1945), ela continuou no Japão. Assim, em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas, nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de civis e impulsionando a rendição do país asiático.
Antes do ataque ao Japão, o Projeto Manhattan contou com outros episódios controversos. Entre eles, acidentes com materiais radioativos e testes em seres humanos, sem o devido consentimento dos envolvidos, a fim de verificar os efeitos biológicos desses materiais e sua eliminação pelo organismo.
Além disso, antes do bombardeio às cidades japonesas, foi realizado um teste com uma terceira bomba nuclear, no Novo México. Apesar de a região ser desértica, seus efeitos foram sentidos pelas populações nos arredores. Sobre isso, leia o trecho de texto a seguir.
[...]
Às 5 dividido por 29 da manhã, a bomba Gadget, que significa ferramenta em inglês, explodiu. O clarão que tomou o céu por alguns segundos foi tão brilhante quanto o sol. O estrondo percorreu quilômetros e uma nuvem no formato de um cogumelo subiu por doze quilômetros de altura, enchendo o ar de radioatividade. A onda de choque, o estrondo, a luz e o calor surreais deram a notícia para todos naquele deserto: a bomba funciona.
[...]
A explosão liberou cerca de 20 quilotons de potência. Por ser um teste controlado, não houveram vítimas diretas da explosão, porém, devido à grande quantidade de poeira, ventos e material radioativo, vários habitantes das proximidades do deserto de Los Alamos foram afetados com problemas de radiação ao longo prazo.
[...]
BARCELOS, Gabriel. A bomba atômica. Espaço do conhecimento UFMG, 5 set. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/cnz6lk. Acesso em: 17 set. 2024.
a ) Com base nas informações apresentadas, por que há um debate ético em torno dos trabalhos científicos desenvolvidos pelo Projeto Manhattan? Converse sobre isso com os colegas.
Resposta: O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a ética nas ciências. Espera-se que eles respondam que a construção de uma arma com potencial de destruição em massa, como as bombas atômicas, envolveu a morte de diversos pesquisadores e civis, além de devastar cidades inteiras, afetar o ambiente gerando doenças ao longo dos anos e traumatizar as populações. Leve-os à reflexão de que a Ciência deve contribuir para o bem-estar das pessoas e buscar soluções pacíficas para os problemas globais que atingem a sociedade. O uso da Ciência para levar à destruição e à morte deve ser repudiado por todos.
b ) Apesar de os ataques atômicos não terem se repetido ao longo da história, atualmente países como Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Paquistão, Israel, Índia e Coreia do Norte possuem armas nucleares. Converse com os colegas, expondo sua opinião, sobre como essa realidade pode ser prejudicial à humanidade.
Resposta pessoal. Peça aos estudantes que pesquisem a situação desse armamento nesses países atualmente. Comente que, segundo pesquisas sobre segurança internacional, a partir dos conflitos geopolíticos da década de 2020, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, as grandes potências armamentistas começaram a atualizar suas armas nucleares. Embora desde os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki a posse dessas armas tenha sido utilizada apenas como demonstração de poder, a preocupação diante da possibilidade de novos ataques nucleares no mundo é alarmante.
Página 228
ATIVIDADES
1. Que características determinam que uma radiação seja classificada como ionizante?
2. Quais são os tipos de radiação ionizante?
Resposta: Alfa abre parênteses alfa fecha parênteses, beta abre parênteses beta fecha parênteses e gama abre parênteses gama fecha parênteses.
3. Cite três fatores que podem interferir nos efeitos biológicos causados pelas radiações ionizantes.
Resposta: O tipo de radiação, o tempo de exposição e os fatores individuais, como idade, sexo e estado de saúde.
4. Diferencie os mecanismos diretos e indiretos pelos quais a radiação pode agir em um ser vivo.
Resposta: No mecanismo indireto, a radiação atua em moléculas distintas do material genético, como a molécula de água, quebrando-a e gerando componentes reativos capazes de interagir com o DNA. Já no mecanismo direto, a radiação atua diretamente no DNA, alterando-o.
5. Analise a imagem a seguir e responda às questões propostas.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
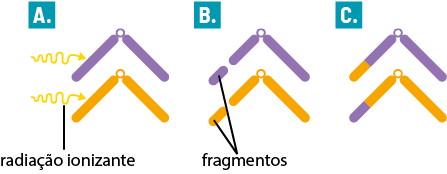
Imagens elaboradas com base em: OKUNO, Emiko; YOSHIMURA, Elisabeth. Física das radiações. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. p. 210.
a ) Que tipo de alteração cromossômica está representado na imagem?
Resposta: Translocação.
b ) Explique como essa alteração acontece.
Resposta: A radiação ionizante causa a quebra de diferentes cromossomos. Os fragmentos são, então, trocados entre os cromossomos.
c ) Cite outro tipo de alteração cromossômica que pode ocorrer pela ação da radiação. Explique como ele acontece.
Resposta nas Orientações para o professor.
6. Sobre os efeitos da radiação ionizante, identifique a alternativa correta.
a ) Nas alterações cromossômicas tipo invesão, translocação, acêntrico e anel, ambos os braços do cromossomo são quebrados pela radiação ionizante.
b ) A radiação ionizante atua nos seres vivos apenas de forma direta, ou seja, afetando diretamente a molécula de DNA.
c ) Os efeitos estocásticos ocorrem em razão de doses altas de radiação ionizante, causando má formação embrionária.
d ) A reação tecidual tardia pode se manifestar em embriões, causando má-formação.
e ) O efeito estocástico hereditário ocorre em células somáticas.
Resposta: Alternativa d.
7. Associe os estágios de interação da radiação ionizante e da matéria às suas características.
1. Químico
2. Biológico
3. Físico
4. Físico-químico
A. Estágio em que ocorre o rompimento das ligações químicas, em razão da ionização de um ou mais átomos.
B. Estágio em que ocorre a interação dos íons e dos radicais livres com outras moléculas, alterando sua funcionalidade.
C. Estágio em que se manifestam os efeitos bioquímicos ou fisiológicos que resultam na alteração da funcionalidade e/ou morfologia dos órgãos e sistemas.
D. Estágio em que ocorrem as excitações e as ionizações dos átomos, resultando na formação de íons.
Resposta: 1 – B; 2 – C; 3 – D; 4 – A.
8. Leia o trecho de texto a seguir e responda às questões propostas.
[...]
O simples ato de respirar, dizem os especialistas, tende a provocar reações de oxidação no organismo, porque o próprio oxigênio é uma fonte potencial de formação dos chamados radicais livres em sistemas biológicos. Isso acontece devido às propriedades químicas do oxigênio que todos respiram.
[...]
De radicais livres muito já se ouviu falar, desde a década passada, quando começaram a ser apontados como os grandes responsáveis pela aceleração do envelhecimento e pelo desenvolvimento de doenças como o câncer. [...]
A AÇÃO dos radicais livres no organismo. Pesquisa Fapesp, jan. 1999. Disponível em: https://s.livro.pro/iiuvpo. Acesso em: 10 set. 2024.
a ) De acordo com o texto, como são gerados os radicais livres?
b ) Como os radicais livres podem ser formados pela ação da radiação ionizante?
c ) Explique como os radicais livres podem causar danos ao organismo.
Respostas das questões 1 e 8 nas Orientações para o professor.
Página 229
Radiação não ionizante e organismo

3. Qual é a importância da atitude mostrada na fotografia para a saúde humana?
Resposta: O uso de filtro solar bloqueia a penetração da radiação ultravioleta na pele, ajudando a evitar o desenvolvimento de doenças de pele, como câncer.
4. Em seu dia a dia, você costuma realizar essa atitude?
Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a fazer uma autoavaliação sobre o uso diário do protetor solar.
As células da pele e das íris dos olhos humanos possuem um pigmento chamado melanina. A concentração de melanina nessas células está relacionada à tonalidade da pele, à cor dos cabelos e à cor dos olhos humanos. Além disso, esse pigmento também ajuda a proteger os tecidos internos da radiação ultravioleta (UV). Por isso, quando nos expomos diretamente à luz solar, ocorre aumento na produção de melanina pelas células da pele, dando à pele a aparência bronzeada.
Embora a melanina promova a proteção natural do corpo contra a radiação ultravioleta, é preciso adotar outros cuidados diários, como fazer uso de protetores solares, os quais ajudam a bloquear a penetração da radiação ultravioleta na pele.
A incidência excessiva de radiação ultravioleta emitida pelo Sol pode causar uma série de danos aos seres vivos, desde queimaduras de graus variáveis até câncer de pele.
A radiação UV abrange os comprimentos de onda de 100 a 400 nanômetros, sendo considerada do tipo não ionizante, assim como as ondas de rádio, a luz visível e a radiação infravermelha. Embora não seja ionizante, a radiação ultravioleta pode causar danos aos seres vivos, especialmente na pele e nos olhos.
Atmosfera terrestre e radiação ultravioleta
A radiação ultravioleta pode ser de três tipos: UV-A, UV-B e UV-C. Em razão da atuação da atmosfera terrestre, cada um desses tipos de radiação UV atinge a superfície da Terra com intensidades distintas e resulta em efeitos biológico também variáveis.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
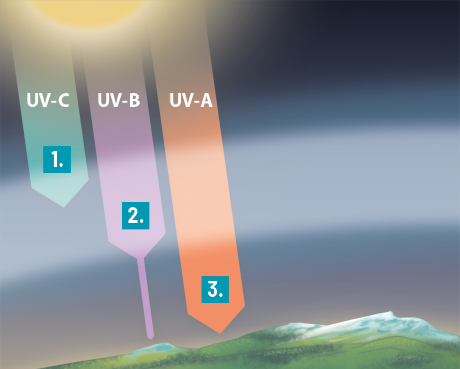
Imagem elaborada com base em: 20 QUESTIONS and answers. United Nations Environment Programme. Disponível em: https://s.livro.pro/jlpqam. Acesso em: 10 set. 2024.
1. Os raios UV-C têm comprimento de onda entre 100 nanômetros e 280 nanômetros. Como são absorvidos totalmente pelo ozônio abre parênteses O subscrito 3 fecha parênteses presente na camada de ozônio, não atingem a superfície terrestre e, portanto, não oferecem riscos aos seres vivos.
2. Os raios UV-B têm comprimento de onda entre 280 nanômetros e 315 nanômetros e estão relacionados à vermelhidão e às queimaduras de pele. No entanto, os raios UV-B também têm uma função importante no organismo: promover a conversão de colesterol em vitamina D na pele.
3. Os raios UV-A têm comprimento de onda entre 315 nanômetros e 400 nanômetros. Eles penetram nas camadas mais inferiores da pele e são os mais perigosos, podendo causar danos ao material genético. Também estão relacionados ao envelhecimento precoce da pele.
Professor, professora: A classificação da radiação ultravioleta como ionizante ou não ionizante pode variar de acordo com a fonte de pesquisa. Nessa coleção, adotamos a classificação da Organização Mundial de Saúde (WHO, sigla em inglês), Associação Internacional de Proteção contra Radiação (IRPA, sigla em inglês) e Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP, sigla em inglês), que consideram a radiação ultravioleta como não ionizante.
Página 230
Existem vários fatores que interferem na intensidade da radiação ultravioleta que atinge a superfície da Terra. Observe a tabela a seguir.
| Fator | Interferência |
|---|---|
|
Horário do dia |
Entre 70% e 80% da radiação UV atinge a Terra entre 9 horas e 13 horas, especialmente no verão. |
|
Altitude |
O fluxo de radiação ultravioleta aumenta em aproximadamente 6% a cada 1 quilômetro de altitude. |
|
Estação do ano |
A intensidade do fluxo de raios UV varia bastante com as estações do ano, especialmente nas regiões temperadas, onde, no verão, ela é maior do que durante a primavera e o outono. |
|
Ocorrência de nuvens |
A cobertura de nuvens pode reduzir a incidência dos raios UV na superfície terrestre. |
|
Latitude |
Quanto maior a latitude, menor o fluxo de raios UV que atinge a superfície terrestre. Portanto, a linha do equador é a região que recebe a maior intensidade dessa radiação. |
|
Reflexão da superfície |
A superfície da Terra reflete parte dos raios UV que chegam até ela. No entanto, as partes mais claras da superfície, como aquelas cobertas por areia ou neve, têm um índice de reflexão superior às demais áreas. |
Fonte de pesquisa: MEDEIROS, Fernanda Costa de. Uma revisão sistemática sobre a eficácia da radiação ultravioleta como agente germicida. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) – Núcleo de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Sergipe.
Como estudamos, o gás ozônio é capaz de bloquear parte da radiação ultravioleta. A maior parte das moléculas desse gás encontram-se em altas concentrações a cerca de 20 a 35 quilômetros de altitude, formando a camada de ozônio.
Na estratosfera, a radiação UV atua tanto na formação quanto na degradação do gás ozônio abre parênteses O subscrito 3 fecha parênteses. A energia dessa radiação rompe as ligações existentes entre os dois átomos da molécula de gás oxigênio, resultando em átomos livres de oxigênio, capazes de se reagir, sob ação da radiação UV, para formar abre parênteses O subscrito 3 fecha parênteses.
Apesar de sua importância, as ações humanas têm provocado a formação de uma área de afinamento nessa camada, chamado de buraco na camada de ozônio. Sobre esse tema, leia o trecho de reportagem a seguir.
Professor, professora: Ao abordar a formação e a degradação do gás ozônio, comente com os estudantes que esse gás também pode ser formado na troposfera, por meio de processos de decomposição de poluentes liberados pela queima de combustíveis fósseis. No entanto, diferentemente do que se observa na estratosfera, na troposfera esse gás é prejudicial à saúde dos seres vivos.
"Buraco na camada de ozônio diminuiu, mas ainda existe", alerta pesquisador da UFCG
Segundo Cosme Figueiredo, o Brasil é um dos países mais vulneráveis à redução da camada e monitoramento deve ser constante
Na década de 1980, o mundo entrou em alerta devido à descoberta de que os níveis da camada de ozônio na atmosfera, que absorve a perigosa radiação ultravioleta do Sol e protege a vida na Terra, estavam diminuindo rapidamente, ameaçando a saúde da população, a produção agrícola e a cadeia alimentar marinha. Os principais culpados, segundo os cientistas, eram os clorofluorcarbonos (CFC), compostos químicos utilizados em aerossóis e aparelhos de refrigeração.
[...]
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. "Buraco na camada de ozônio diminuiu, mas ainda existe", alerta pesquisador da UFCG. 26 dez. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/l3u90s. Acesso em: 10 set. 2024.
5. O que provoca o buraco na camada de ozônio?
Resposta: Como mencionado no trecho de reportagem anterior, poluentes atmosféricos, como o CFC, são responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Além desse poluente, o HCFC (hidroclorofluorcarbono), o CTC (tetracloreto de carbono), o hálon, e o brometo de metila são liberados na atmosfera, alcançando a camada de ozônio e destruindo-a.
6. De acordo com o trecho de reportagem, qual é a consequência da formação do buraco da camada de ozônio?
Resposta: O buraco na camada de ozônio pode prejudicar a saúde da população, a produção agrícola e a cadeia alimentar marinha, ou seja, ele gera prejuízos para todos os seres vivos, uma vez que o bloqueio dos raios ultravioletas está prejudicado.
7. Em sua opinião, a que se deve a redução do buraco na camada de ozônio?
Resposta: O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito das medidas promovidas por acordos entre diferentes países para a redução desses poluentes, como o Protocolo de Montreal, em que se responsabilizavam pela redução da emissão de gases destruidores da camada de ozônio.
Página 231
Efeitos biológicos da radiação ultravioleta
Os diferentes tipos de radiação ultravioleta também apresentam diferentes efeitos biológicos. A radiação tipo UV-C, apesar de ser bloqueada pela atmosfera terrestre, é a que tem maior poder carcinogênico, enquanto a radiação tipo UV-B é a principal agente de queimaduras solares. Já a radiação tipo UV-A tem maior poder de penetração na pele e pode alterar e inibir genes responsáveis por controlar a divisão celular e a morte programada das células, interferindo, assim, no ciclo celular e na ocorrência de câncer.
Os efeitos imediatos da radiação ultravioleta na pele incluem bronzeamento, imunossupressão✚ e queimaduras, as quais podem ser acompanhadas de edema✚ e bolhas. Já os efeitos tardios estão relacionados ao fotoenvelhecimento e à fotocarcinogênese, ou seja, indução ao câncer.
Imagens desta página sem proporção.
O câncer de pele se caracteriza pelo crescimento anormal e descontrolado das células desse órgão, resultado de prejuízos nos sistemas de controle do ciclo celular. Embora a radiação UV seja um causador desse tipo de câncer, existem outros fatores de risco, como tendência genética e tonalidade de pele.
O melanoma é o tipo de câncer de pele mais agressivo, podendo evoluir para metástases e óbito.
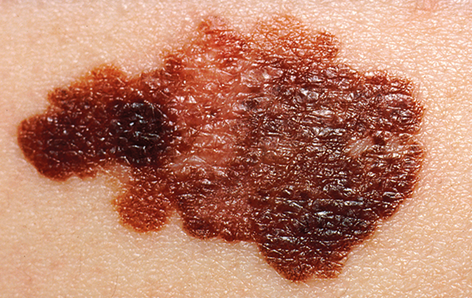
A radiação UV também é prejudicial aos olhos, podendo causar danos imediatos e tardios. Os imediatos incluem a ceratoconjuntivite, caracterizada por ser uma irritação ocular severa, com inflamação da córnea e da conjuntiva. Nesse caso, os sintomas podem abranger fotofobia, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento, dor ao piscar e visão borrada.
Já os efeitos tardios incluem o pterígio, uma estrutura carnosa resultante do crescimento anormal da conjuntiva e que invade a córnea, e a catarata, que se caracteriza pela opacidade do cristalino. Nesse último caso, o quadro pode ser intensificado por outras condições, como diabetes, consumo de álcool e tabagismo.
Tanto o pterígio quanto a catarata podem comprometer a visão.
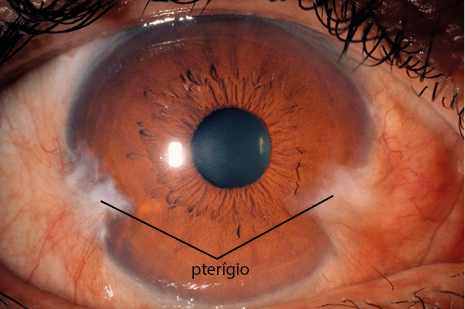
Compartilhe ideias
Adotar cuidados ao se expor diretamente à luz solar é essencial à saúde.
a ) Converse com os colegas sobre os cuidados que devemos ter ao nos expormos diretamente à luz solar. Em seguida, compartilhem quais desses cuidados vocês adotam como hábitos diários e quais consideram que precisam modificar.
Resposta: Os estudantes podem citar: utilizar protetor solar diariamente, fazendo a reaplicação sempre que necessário; utilizar óculos de sol com lentes de proteção UV; evitar expor-se diretamente à luz solar em períodos de intensa incidência solar, especialmente entre 9 horas e 15 horas; consultar um dermatologista em caso de alterações na pele, como o aparecimento de pintas e manchas. Incentive os estudantes a refletir sobre os próprios hábitos e avaliar os impactos a longo prazo.
Apesar de sua ação, por vezes danosa, a exposição adequada à radiação UV apresenta efeitos benéficos ao organismo, como a produção da vitamina D, que participa do metabolismo ósseo, auxilia na manutenção dos dentes e possibilita o balanço de cálcio abre parênteses C a fecha parênteses no sangue.
Página 232
PRÁTICA CIENTÍFICA
Radiação ultravioleta e organismos unicelulares
Por dentro do contexto
A higienização de ambientes hospitalares e clínicos, por exemplo, é fundamental para a saúde dos pacientes e dos profissionais que atuam no local, uma vez que, ao recepcionar pessoas doentes, diversos agentes patogênicos, como vírus, fungos e bactérias, passam a circular em tais ambientes.
Uma das estratégias para a higienização de objetos em ambientes hospitalares, como os instrumentos de uso médico, é a radiação ultravioleta.

Professor, professora: Ao abordar a fotografia, explique aos estudantes que a capela de fluxo laminar é um equipamento comum em laboratórios. Ela garante um ambiente livre de microrganismos, possibilitando reduzir ou eliminar as chances de contaminação de materiais. Além disso, esse instrumento também protege o ambiente ao redor e o cientista ao manipular materiais infecciosos ou tóxicos, por exemplo, em seu interior.
a ) Em sua opinião, quais efeitos a radiação ultravioleta pode ter nos microrganismos, como os causadores de doenças?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os efeitos da radiação ultravioleta nas células. Espera-se que eles comentem que a radiação UV pode causar efeitos nocivos à estrutura celular, por exemplo, danos no DNA da célula e até mesmo a morte dos microrganismos.
Materiais
- fermento biológico seco
- suco de uva integral
- açúcar
- ágar
- água
- protetor solar
- creme hidratante
- óculos escuros com proteção UV
- 2 placas de Petri ou um recipiente de vidro raso
- filme de PVC
- conta-gotas ou pipeta
- colher de chá
- colher de sopa
- colher de café
- recipiente de vidro abre parênteses 250 mililitros fecha parênteses
- panela
- fogão
- secador de cabelo
- caneta hidrográfica
- cronômetro
- copo medidor (500 mililitros)
- smartphone com câmera fotográfica
Como proceder
A. Prepare o meio de cultura. Para isso, adicione em uma panela 200 mililitros de água, duas colheres de sopa de suco de uva, uma colher de sopa de açúcar e duas colheres de café de ágar. Peça a um adulto para que ferva essa mistura por cerca de 30 segundos.
B. Derrame o líquido ainda quente nas placas de Petri até formar uma camada de aproximadamente 0 vírgula 5 centímetros de altura.
C. Deixe a mistura esfriar e solidificar.
D. Usando o secador de cabelos em temperatura mediana, seque a preparação até que a umidade da superfície desapareça.
E. Prepare uma solução de leveduras. Para isso, misture aproximadamente 10 mililitros de água com meia colher de chá de fermento biológico seco. Deixe hidratar por 15 minutos.
Dica
Utilize apenas a quantidade de suco de uva integral necessário à atividade, evitando desperdício de alimento.
Cuidado
Apenas o adulto deve manipular o líquido quente. Peça a ele que realize as etapas A e B.
Página 233
F. Usando o conta-gotas ou a pipeta, pingue uma gota da solução de levedura sobre o meio de cultura. Em seguida, espalhe com cuidado a gota por toda a superfície do meio de cultura usando a parte convexa de uma colher de chá.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
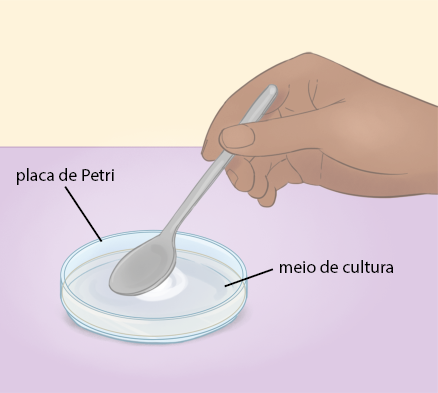
G. Cubra toda a superfície das placas com o filme de PVC.
H. Com a caneta hidrográfica, trace linhas no filme de PVC de uma das placas, dividindo-a em três porções. Cubra um terço do filme de PVC com bloqueador solar. Cubra outro terço com creme hidratante. O último terço não deve ter nenhum produto sobre o plástico filme. Espere o protetor solar e o creme hidratante secarem. Com a caneta hidrográfica, faça a identificação de cada porção na placa.
I. Posicione os óculos escuros sobre a outra placa com as lentes voltadas para o filme de PVC, de modo que as lentes cubram parte da placa.

J. Exponha as montagens à incidência direta de luz solar por duas horas.
Dica
Um meio de cultura é um meio nutritivo para permitir o crescimento de microrganismos como as leveduras.
Cuidado
Exponha-se ao Sol apenas pelo tempo necessário à realização do experimento.
K. Posicione as montagens em um ambiente protegido da incidência direta de luz solar por 48 horas.
L. Ao final do período de 48 horas, faça a avaliação das montagens e fotografe os resultados.
Análise e divulgação
1. Você observou alguma diferença no crescimento das leveduras em ambas as placas? Descreva os resultados observados.
2. Com base nos resultados observados, como você explicaria a ação do bloqueador solar como protetor contra a radiação UV?
3. Que outros materiais, substâncias ou objetos poderiam ser testados em um experimento semelhante ao realizado nesta seção para avaliar a proteção contra raios UV?
4. Observando seus resultados, como você responderia à questão proposta no início desta seção?
5. Produza um panfleto de conscientização sobre os os possíveis riscos da exposição excessiva à radiação ultravioleta. Utilize as imagens produzidas durante as etapas do experimento para compor os panfletos. Distribua esse material para seus familiares.
Respostas nas Orientações para o professor.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
5. Junte-se a um colega e produzam um panfleto de conscientização sobre os possíveis riscos da exposição excessiva à radiação ultravioleta. Utilizem as imagens produzidas durante as etapas do experimento para compor os panfletos. Por fim, distribuam esse material para seus familiares.
Resposta: O objetivo desta atividade é levar os estudantes a conscientizar seus familiares sobre os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Caso julgue interessante, organize com eles um evento de conscientização sobre os riscos da exposição à radiação ultravioleta aberto à comunidade. O evento pode contar com uma palestra de um médico dermatologista, por exemplo.
Orientação para acessibilidade
Professor, professora: Organize as duplas de modo que o estudante não vidente esteja acompanhado de um estudante vidente. Oriente-os a inicialmente conversar a respeito das informações que serão adicionadas no panfleto. É possível organizar diferentes tarefas para cada um dos estudantes.
Página 234
ATIVIDADES
1. Analise a seguinte afirmação: "Em relação às radiações, somente as ionizantes podem fazer mal à saúde". Que argumento você utilizaria para explicar as incorreções dessa informação?
2. Por que a radiação ultravioleta é considerada uma radiação não ionizante?
Resposta: Porque é uma radiação de baixa frequência e baixa energia, quanto comparada com as radiações ditas ionizantes, como alfa, beta e gama.
3. Leia o trecho de reportagem a seguir.
Você deve se preocupar com seu micro-ondas? Veja o que dizem os especialistas
Embora existam casos isolados e raros de lesões causadas pela radiação do uso de micro-ondas, especialistas afirmam que eles emitem menos radiação eletromagnética do que as velas.
[...]
As conversas nas plataformas de redes sociais revelam um sentimento de que os micro-ondas não são seguros. [...]
Mas essas preocupações são legítimas? Os fornos de micro-ondas dependem de uma forma exclusiva de radiação não ionizante, conhecida justamente como "micro-ondas", que é diferente da radiação ionizante encontrada nos raios X e em outras fontes de alta energia. De acordo com Christopher Baird, físico da West Texas A&M University, nos Estados Unidos, especializado em eletromagnetismo, as micro-ondas em nossas cozinhas são uma forma de radiação eletromagnética semelhante às ondas de rádio.
[...]
MACINTYRE, Christine. Você deve se preocupar com seu micro-ondas? Veja o que dizem os especialistas. National Geographic, 27 maio 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/vdmsw8. Acesso em: 10 set. 2024.
a ) De acordo com o texto, por que é possível afirmar que fornos de micro-ondas não representam risco à saúde, pelo tipo de radiação que emitem?
b ) O que é uma onda eletromagnética?
c ) Realize uma pesquisa e identifique a frequência de onda em que as micro-ondas atuam.
d ) Identifique o trecho da reportagem em que fica explicitado a vinculação de fake news ao uso de radiação em atividades humanas.
Resposta: Espera-se que os estudantes identifiquem o trecho "As conversas nas plataformas de redes sociais revelam um sentimento de que os micro-ondas não são seguros."
4. Leia os trechos de textos a seguir.
Robôs usam raios UV para desinfetar ambientes
[...]
"Vários estudos científicos já mostraram que a radiação ultravioleta do tipo C [UVC] tem forte efeito germicida. Ela destrói o ácido nucleico de vírus e bactérias, perturbando o seu DNA ou RNA deixando-os incapazes de se replicarem e infectarem o organismo", explica o engenheiro eletrônico Miguel Ignácio Serrano [...]
VASCONCELOS, Yuri. Robôs usam raios UV para desinfetar ambientes. Revista Pesquisa Fapesp, 6 jul. 2022. Disponível em: https://s.livro.pro/ml58k3. Acesso em: 17 set. 2024.
As unhas de gel e de acrílico podem ser bonitas, mas trazem riscos à saúde
[...]
Há muitos fatores que contribuem para o risco de câncer, incluindo idade, tipo de pele, exposição prévia e histórico familiar. No entanto, há casos de câncer de pele em que a lâmpada UV para unhas foi considerada uma das causas.
Os formatos postiços em gel são colocados com secadores especiais que emitem luz ultravioleta na forma de UVA, que endurece o gel, convertendo-o em polímeros rígidos. Quem repete a ação com espaço de poucos fins de semana aumenta significativamente a exposição aos raios UVA já que o gel leva aproximadamente dez minutos para endurecer.
[...]
AS UNHAS de gel e de acrílico podem ser bonitas, mas trazem riscos à saúde. The Conversation, 23 jul. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/uvqboz. Acesso em: 10 set. 2024.
a ) Com base nos textos, o que é possível concluir a respeito do uso da radiação ultravioleta?
Resposta: Porque os micro-ondas dependem de uma forma exclusiva de radiação não ionizante que é diferente da radiação ionizante.
b ) Por que a radiação ultravioleta pode ser utilizada para eliminar microrganismos?
Resposta: São oscilações que transportam energia e são produzidas por campos elétricos e magnéticos. Elas se propagam através do vácuo ou de materiais.
c ) Quais podem ser os efeitos biológicos da radiação UV-A?
Resposta: Frequência de 109 hertz até 1.011 hertz, comprimento de onda: 1 milímetro a 300 milímetros.
Respostas das questões 1 e 4 nas Orientações para o professor.
Página 235
CAPÍTULO13
Material genético e hereditariedade
O estudo da hereditariedade
Confira a fotografia a seguir e responda às questões propostas.

1. Como você considera possível transmitir características de um ser vivo para a geração seguinte por meio da reprodução?
Resposta: Isso é possível porque parte do material genético do progenitor é transmitida aos descendentes no processo reprodutivo. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que essas características sejam determinadas geneticamente.
2. Todas as características de um ser vivo podem ser transmitidas aos descendentes? Explique sua resposta.
Resposta: Espera-se que os estudantes reconheçam que, de modo geral, as características transmitidas entre as gerações são determinadas geneticamente. As características fenotípicas, forma como o genótipo se expressa, podem ser modificadas ou influenciadas pelo ambiente. Comentários nas Orientações para o professor.
Como estudamos no capítulo anterior, a radiação ionizante pode causar alterações no material genético, tanto de células somáticas quanto germinativas. Nesse último caso, as alterações podem ser transmitidas às gerações seguintes.
Certas características, como o formato dos olhos e o tipo de cabelo, podem ser transmitidas dos progenitores para a prole por meio da reprodução. Ao abordar essa transmissão de características, determinadas geneticamente, dos progenitores para os descendentes, estamos tratando da hereditariedade, a qual pode ser percebida, por exemplo, nas semelhanças entre pais e filhos biológicos.
Afinal, como o DNA pode ser relacionado à hereditariedade? Vamos estudar esse assunto a seguir.
O DNA e a hereditariedade
Após diversos estudos científicos, descobriu-se que o DNA era o material genético dos seres vivos, ou seja, que continha as informações para diversas características do ser vivo e para o funcionamento e desenvolvimento do organismo. Além disso, sabia-se que algumas dessas características eram transmitidas aos descendentes, mas não como isso ocorria.
Vários pesquisadores estudaram o DNA a fim de compreender seu papel no organismo. Entre esses estudiosos está a cientista inglesa Rosalind Franklin (1920-1958), que junto a seus colaboradores obteve a imagem tridimensional do DNA por meio da técnica de difração de raios X. Graças a essa descoberta, o biólogo estadunidense James Watson (1928 -) e o biofísico inglês Francis Crick (1916-2004) deduziram, em 1953, a estrutura tridimensional do DNA, que é aceita até os dias atuais.

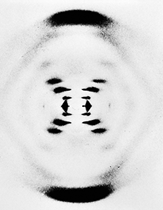
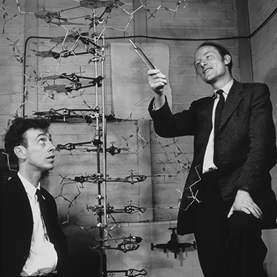
3. Explique com suas palavras a estrutura da molécula de DNA.
Resposta: O objetivo desta questão é retomar o conteúdo de ácidos nucleicos explorado anteriormente. Espera-se que os estudantes comentem que essa molécula é formada por duas cadeias de nucleotídeos, paralelas e dispostas em espiral, formando uma estrutura em dupla hélice. Cada nucleotídeo, por sua vez, é composto de uma pentose (desoxirribose), uma base nitrogenada (que pode ser adenina, timina, guanina e citosina) e um grupo fosfato.
Página 236
As informações do DNA que orientam a produção de diferentes moléculas estão contidas em porções específicas da molécula, os genes.
O gene é considerado a base da hereditariedade. Trata-se de um segmento de DNA que ocupa um lugar específico (lócus gênico) e serve de molde para a formação de um produto na célula, como uma proteína ou RNA. Os genes que ocupam o mesmo lócus gênico podem apresentar formas alternativas, denominadas alelos, que diferem uns dos outros na sequência de nucleotídeos.
Dica
O genoma pode ser definido como o conjunto de instruções genéticas contido no DNA de um organismo ou RNA em alguns vírus. O conjunto de genes de um organismo para determinada característica forma o genótipo. Já a característica que é vista no organismo recebe o nome de fenótipo, que pode sofrer influência de outros fatores, como os ambientais.
Os nucleotídeos de cada filamento do DNA se unem uns aos outros por meio de ligações fosfodiéster entre a desoxirribose de um nucleotídeo e o fosfato de outro. As bases nitrogenadas, por sua vez, conectam-se umas às outras por meio de ligações de hidrogênio, formando pares: citosina e guanina abre parênteses C traço G fecha parênteses e adenina e timina abre parênteses A traço T fecha parênteses.
A quantidade de ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas varia entre os pares. No par C traço G, há três ligações de hidrogênio, enquanto no par A traço T há duas.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
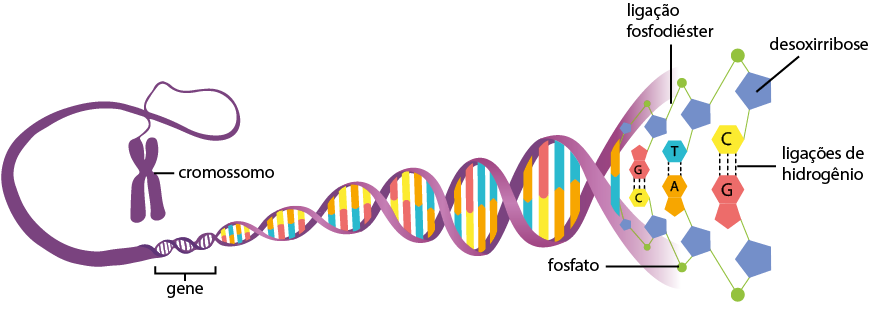
Imagem elaborada com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 230, 232.
O DNA e os ciclos celulares
Como estudado anteriormente, o ciclo celular é composto de duas etapas: a interfase e a divisão celular, que pode ocorrer via mitose ou meiose. A duplicação do material genético ocorre na interfase, mais especificamente na fase S. Essa etapa é essencial para que, durante a divisão celular, o material genético seja dividido igualmente entre as células-filhas e, consequentemente, a transmissão das informações ocorra de maneira adequada entre as células.
Confira no gráfico a seguir a alteração do DNA durante o ciclo de vida de uma célula.
Quantidade de DNA durante o ciclo de vida de uma célula
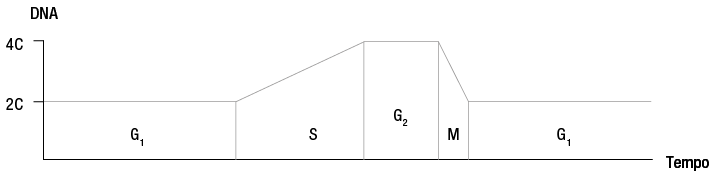
Fonte de pesquisa: ROBERTIS, Edward. D. P. de; ROBERTIS JUNIOR, E. M. F. D. Fundamentos de biologia celular e molecular. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. p. 166.
Dica
No eixo y do gráfico, 2 C e 4 C indicam determinada quantidade de DNA. Assim, na fase G subscrito 2, há o dobro da quantidade de DNA se comparada à fase G subscrito 1. Na fase M, ocorre a divisão celular. Portanto, após essa fase, a quantidade de DNA é reestabelecida.
4. Explique com suas palavras o gráfico apresentado.
Resposta nas Orientações para o professor.
Página 237
Para que a duplicação ou replicação do DNA ocorra, várias enzimas participam do processo, entre elas a DNA polimerase. Como resultado desse processo, ocorre a síntese de uma nova cadeia de DNA oriunda da cadeia inicial – a fita molde. Acompanhe a seguir o processo de replicação do DNA.
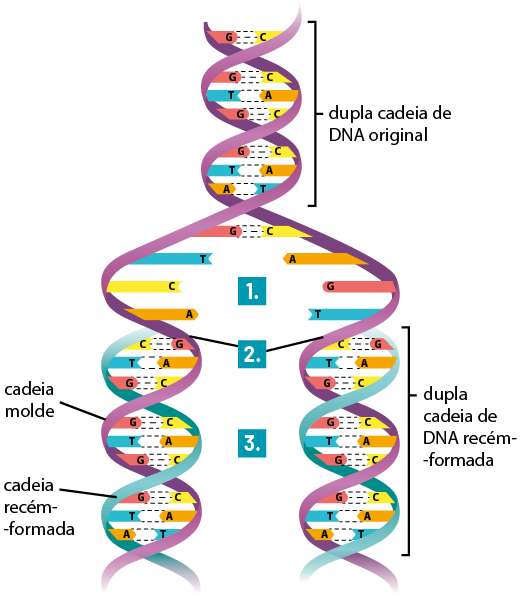
Imagem elaborada com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 234.
1. As enzimas que atuam na replicação do DNA rompem as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Assim, a dupla cadeia de DNA se abre, expondo as bases nitrogenadas de cada cadeia.
2. Cada cadeia de DNA serve de molde para a formação de uma nova molécula. Nucleotídeos livres são adicionados à cadeia (fita) molde, obedecendo à complementariedade de bases nitrogenadas: adenina-timina e citosina-guanina.
3. As ligações fosfodiéster e as ligações de hidrogênio são formadas entre os nucleotídeos e resultam na formação de duplas cadeias de DNA idênticas entre si e à molécula de DNA que lhes deu origem.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
Cada molécula de DNA formada durante o processo de duplicação contém uma cadeia da molécula original e uma cadeia recém-polimerizada. Por isso, o processo é considerado semiconservativo, já que apenas metade da molécula original é conservada em cada uma das moléculas-filhas.
Dica
As células podem apresentar quantidades diferentes de conjuntos de cromossomos. As formadas por apenas um conjunto são denominadas haploides abre parênteses n fecha parênteses, como os espermatozoides e os ovócitos de seres humanos. Já as células formadas por dois conjuntos de cromossomos são denominadas diploides abre parênteses 2 n fecha parênteses, como as células somáticas que compõem nosso corpo, por exemplo, as células musculares.
Outra molécula fundamental à hereditariedade é o RNA mensageiro. Essa molécula é encontrada no núcleo e no citoplasma de todos os seres vivos, participando da síntese de proteínas e atuando como catalisador de reações biológicas.
Assim como no DNA, na molécula de RNA, os nucleotídeos se unem uns aos outros por ligações fosfodiéster.
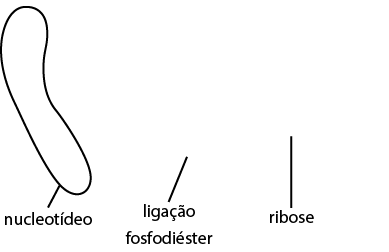
Imagem elaborada com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 256.
5. Diferencie a estrutura das moléculas de DNA e RNA.
Resposta: A molécula de DNA é uma fita dupla, em dupla-hélice e composta dos seguintes pares de bases nitrogenadas: adenina – timina e citosina – guanina. Já o RNA é uma fita simples, composta das seguintes bases nitrogenadas: citosina, adenina, guanina e uracila. Além disso, o açúcar do DNA é a desoxirribose, enquanto o do RNA é a ribose.

Existem diferentes tipos de RNA. Neste capítulo, focaremos em três deles: RNA mensageiro (RNAm ou mRNA), RNA transportador (RNAt) e RNA ribossômico (RNAr).
- O RNAm contém a informação necessária para a produção da proteína e é utilizado como molde.
- O RNAt é responsável por transportar os aminoácidos ao ribossomo durante a produção da proteína, além de interagir com RNAm para posicionar os aminoácidos na ordem correta na síntense proteica.
- O RNAr compõe os ribossomos, onde se associam o RNAm e o RNAt para a síntese proteica.
Página 238
Reprodução e hereditariedade
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
A reprodução é o processo pelo qual os seres vivos geram descendentes, transmitindo-lhes o material genético e possibilitando a manutenção das linhagens. Na reprodução humana, há o envolvimento do espermatozoide (gameta masculino) e do ovócito (gameta feminino), ou seja, é uma reprodução sexuada. Ambos os gametas são produzidos pela meiose.
A espermatogênese é o processo de produção dos espermatozoides, que se inicia na puberdade e continua por toda a vida do ser humano do sexo masculino. Acompanhe a seguir.
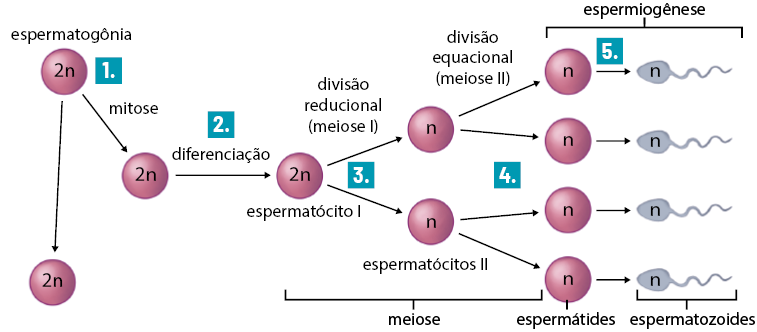
1. As espermatogônias abre parênteses 2 n fecha parênteses se dividem via mitose nos túbulos seminíferos, originando duas espermatogônias-filhas.
2. Uma das espermatogônias-filhas abre parênteses 2 n fecha parênteses se diferencia, formando o espermatócito I.
3. Cada espermatócito I se divide, na meiose I, para produzir dois espermatócitos II. Nessa divisão, os cromossomos homólogos com cromátides duplicadas se separam, originando células com n é igual a 23 cromossomos.
4. As cromátides irmãs se separam na meiose II, migrando para lados opostos da célula. Assim são originadas 4 células-filhas com 23 cromossomos cada, chamadas de espermátides.
5. Cada espermátide se diferencia em espermatozoide pela espermiogênese.
A ovogênese é o processo de produção dos ovócitos, que se inicia antes do nascimento.
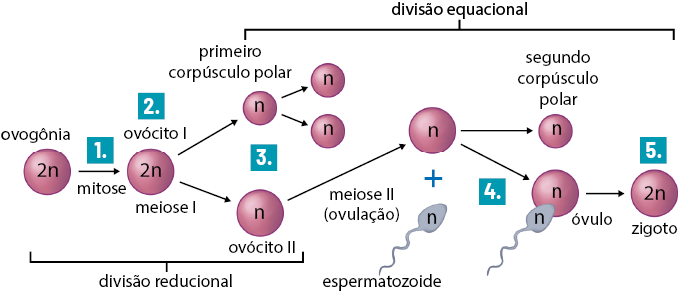
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 564, 572.
1. As ovogônias abre parênteses 2 n fecha parênteses se dividem por mitose. Por volta do terceiro mês do desenvolvimento fetal, algumas ovogônias se transformam em células maiores, os ovócitos I.
2. Os ovócitos I iniciam a meiose I antes do nascimento, mas não a completam.
3. Após a puberdade, todos os meses, durante o ciclo menstrual, a meiose reinicia, formando duas células haploides: o ovócito II e o primeiro corpúsculo polar, que se desintegra. O ovócito II inicia a meiose II, mas não a termina (mantido na metafase II). Durante a ovulação, um ovócito II é liberado e segue para o interior da tuba uterina.
4. Se não houver fecundação, o ovócito II se degenera. Caso haja fecundação, a meiose II é reiniciada e o ovócito II se divide em óvulo e em um segundo corpúsculo polar, que posteriormente se degenera.
5. Os núcleos do espermatozoide e do óvulo se unem, formando o zigoto ou célula-ovo.
Professor, professora: O primeiro corpúsculo polar pode sofrer outra divisão e produzir dois corpúsculos polares. Desse modo, cada ovócito I dará origem a 3 corpúsculos polares e um único gameta (ovócito secundário, que se torna óvulo após a fecundação). Já o espermatócito primário gera 4 gametas (espermatozoides).
Página 239
Manifestação das informações genéticas
Até o momento, estudamos como a informação genética está organizada e como é transmitida aos descendentes. Afinal, como essa informação se manifesta sob a forma de características específicas? Vamos estudar esse assunto a seguir.
Do DNA à proteína
Como estudamos anteriormente, as proteínas são os principais constituintes das células, unidades básicas dos seres vivos. Além de atuar nessa estruturação, elas interferem no funcionamento celular. Para a síntese proteica, são necessários dois processos: a transcrição e a tradução do DNA.
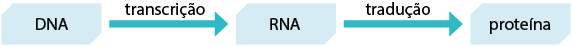
Transcrição
A transcrição é a conversão da informação contida na molécula de DNA em uma molécula de RNA mensageiro. Essa etapa da síntese proteica é dividida em iniciação, alongamento e término. Para que esse processo ocorra, é necessária a formação de uma molécula de RNA complementar à cadeia molde do DNA, intermediada pela enzima RNA polimerase.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
A. Iniciação: a RNA polimerase se liga a uma sequência específica de nucleotídeos do DNA, chamada de DNA promotor. Essa região promotora está localizada perto do ponto de início da transcrição de um gene. A RNA polimerase separa a dupla fita do DNA, rompendo as ligações de hidrogênio. Uma das cadeias de DNA é usada como molde para a produção de RNA e a outra permanece inativa. A RNA polimerase orienta a inserção de nucleotídeos complementares à cadeia molde de DNA.
B. Alongamento: a enzima se move sobre a fita molde de DNA, levando ao alongamento da cadeia de RNA, com a adição sucessiva de nucleotídeos, ligados entre si por meio de ligações fosfodiéster. O nucleotídeo uracila abre parênteses U fecha parênteses é incorporado no lugar da timina abre parênteses T fecha parênteses. A ligação A traço T é trocada pela A traço U.
C. Término: a fase de alongamento acontece até que a RNA polimerase encontre uma sequência de nucleotídeos específica, que causará seu desligamento e a liberação do RNA recém-sintetizado. Quando a molécula de RNA é liberada, a cadeia molde de DNA se liga novamente à cadeia complementar, restabelecendo a molécula de DNA.
A.
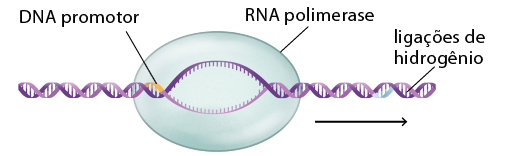
B.
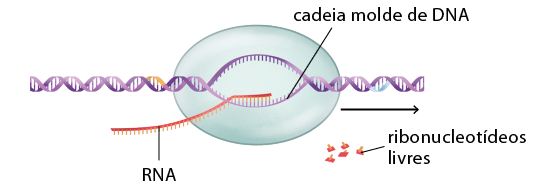
C.
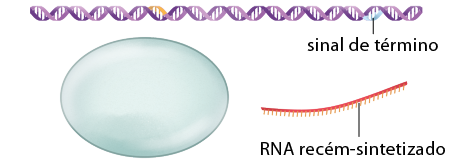
Imagens elaboradas com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 260.
Página 240
Como resultado da transcrição, há a formação de uma cadeia de RNA com sequência de nucleotídeos similar ao filamento não molde de DNA ou filamento codificante. O processo de transcrição em procariotos e eucariotos tem a mesma base. Porém, em eucariotos, em razão da organização do genoma e da participação de uma maior variedade de enzimas e moléculas, esse processo é mais complexo.
Splicing ou recomposição do RNA
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
O RNA recém-sintetizado dos eucariotos é chamado de pré-RNAm ou de transcrito primário. Essa molécula se encontra no núcleo das células e precisa passar por uma série de alterações antes de ser transferida para o citoplasma. Uma dessas alterações é chamada de recomposição ou splicing.
O DNA dos eucariotos tem regiões que codificam proteínas, conhecidas como éxons, intercaladas por regiões não codificantes, íntrons. Dessa maneira, para que posteriormente ocorra a síntese correta das proteínas, o RNAm que servirá de molde deve conter apenas as sequências codificantes, isto é, os éxons.
O processo pelo qual os íntrons são retirados do pré-RNAm é nomeado recomposição ou splicing, e ocorre nos eucariotos. Nos procariotos, como as bactérias, é rara a presença de íntrons. Dessa maneira, o RNAm nesses organismos geralmente não sofre splicing.
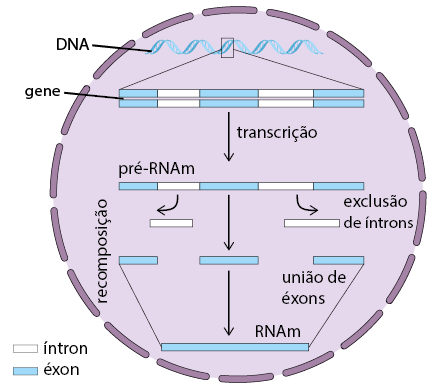
Outro tipo de alteração que pode acontecer no transcrito primário é a recomposição alternativa ou splicing alternativo.
No splicing alternativo, uma única molécula de pré-RNAm pode ser editada de diferentes maneiras, resultando em combinações variadas de éxons, que refletem na formação de diferentes tipos de RNAm. Assim, um único gene pode codificar a informação para mais de um tipo de proteína.
Acompanhe a seguir a representação do processo de splicing alternativo de uma molécula de pré-RNAm.
A.
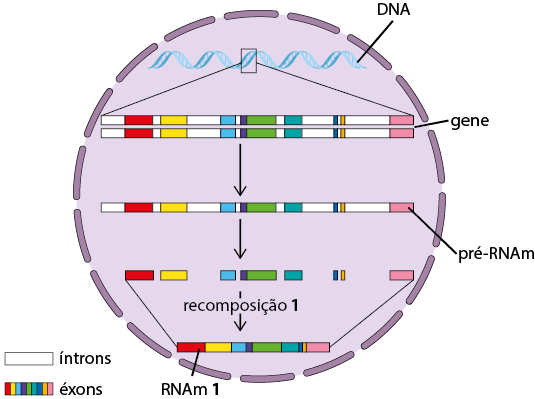
B.
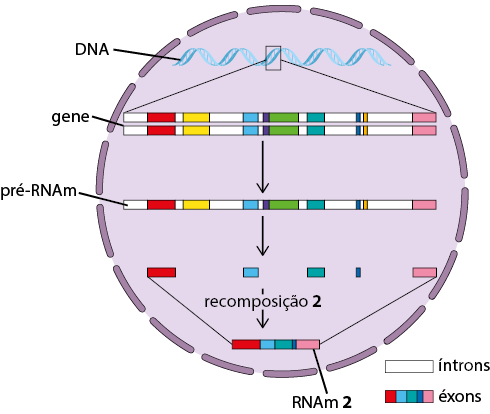
Imagens elaboradas com base em: SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 310.
Página 241
Tradução
A tradução consiste em converter a sequência de nucleotídeos codificada no RNAm em uma sequência específica de aminoácidos para formar uma proteína. Nos eucariotos, a molécula de RNAm é transferida do núcleo para o citoplasma, orientando a síntese proteica.
Como estudamos anteriormente, uma proteína ou polipeptídio é uma sequência específica de aminoácidos ligados entre si por meio de ligações peptídicas, sendo determinada pela sequência de nucleotídeos de um gene. Nesse caso, a cada três bases nitrogenadas forma-se um códon, que, por sua vez, corresponde a um aminoácido específico.
A sequência de bases nitrogenadas do DNA apresenta 64 códons diferentes, que orientam a produção de 20 tipos de aminoácidos, que, por sua vez, podem ser combinados para formar diferentes proteínas.
A sequência específica de códons presentes em um gene codifica determinada sequência de aminoácidos e, consequentemente, resulta na formação de uma proteína específica. Ao conjunto de correspondências entre códons e aminoácidos nas proteínas é dado o nome de código genético.
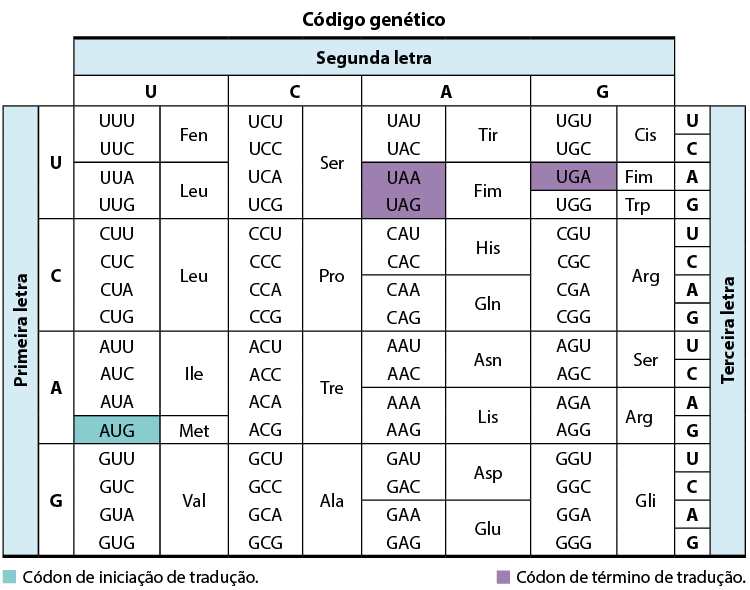
Fonte de pesquisa: SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 343.
Cada uma das siglas apresentadas no quadro do código genético representa um aminoácido.
| Sigla | Aminoácido | Sigla | Aminoácido | Sigla | Aminoácido |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ala |
alanina |
Glu |
glutamato |
Pro |
prolina |
|
A r g |
arginina |
G l n |
glutamina |
Ser |
serina |
|
A s n |
asparagina |
H i s |
histidina |
Tir |
tirosina |
|
A s p |
aspartato |
I l e |
isoleucina |
T r e |
treonina |
|
Cis |
cisteína |
Leu |
leucina |
T r p |
triptofano |
|
Fen |
fenilalanina |
Lis |
lisina |
Val |
valina |
|
Gli |
glicina |
Met |
metionina |
6. Por que o código genético é considerado redundante e universal?
Resposta: É redundante porque um aminoácido pode ser determinado por mais de um tipo de códon; e universal, pois praticamente todos os seres utilizam esse mesmo código para produzir proteínas, até mesmo os vírus.
O RNAm é traduzido nos ribossomos, que têm duas subunidades, uma maior e outra menor, formadas por RNAr. Este é muito específico em relação ao aminoácido que o transporta até o ribossomo. Um dos dois sítios de ligação do RNAt é o anticódon, formado por uma trinca de nucleotídeos, complementar ao códon para o aminoácido que o RNAm especifica. O outro sítio de ligação é a região unida ao aminoácido.
Página 242
Durante a tradução, o códon do RNAm e o anticódon do RNAt se ligam por complementariedade de bases nitrogenadas. Cada aminoácido tem um tipo específico de RNAt. No sítio de ligação do RNAt, as enzimas adicionam o aminoácido correto.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
A tradução pode ser dividida em três fases: iniciação, alongamento e término. Acompanhe a seguir.
A. Iniciação: a subunidade menor do ribossomo se liga ao RNAm, próximo ao códon de iniciação AUG. O RNAt insere a metionina (Met), o primeiro aminoácido de uma cadeia polipeptídica. A subunidade maior do ribossomo se associa à menor.
B. Alongamento: o segundo códon é posicionado no sítio A do ribossomo e orienta a entrada do segundo RNAt com aminoácido. Quando o códon e o anticódon se pareiam, o segundo aminoácido se liga à metionina presente no sítio P. O RNAt de iniciação é liberado do ribossomo no sítio E. À medida que o ribossomo se move sobre a cadeia de RNAm, novos códons se posicionam no sítio A e aminoácidos específicos são inseridos à cadeia polipeptídica. Os aminoácidos são adicionados um por vez, pela leitura de códons do RNAm.
C. Término: um códon de término, que não é reconhecido por RNAt, posiciona-se no sítio A do ribossomo. Uma proteína com estrutura semelhante ao RNAt, nomeada proteína de liberação (ou fator de liberação), liga-se ao códon de término. A síntese de proteína é finalizada, havendo a liberação do polipeptídio recém-sintetizado no sítio P. O restante do complexo de tradução (ou o ribossomo e RNAm) se dissocia. O aminoácido metionina adicionado no início da tradução pode ser mantido ou degradado.
A.
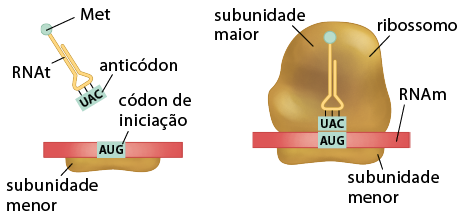
B.
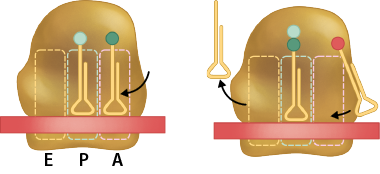
C.
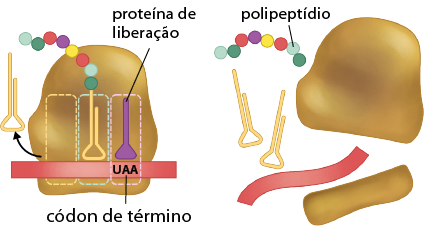
Imagens elaboradas com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 289-291.
Variedade proteica
Além das modificações dos transcritos primários, que possibilitam que um único gene codifique mais de uma proteína, a grande diversidade proteica se deve a modificações pós-traducionais. Quando liberadas dos ribossomos, geralmente as proteínas se apresentam inativas. Para que elas possam exercer suas funções biológicas, são necessárias algumas modificações, que incluem dobramentos da molécula e adição de fosfato ou de outras proteínas.
O dobramento da proteína é a modificação mais importante, pois interfere diretamente no papel desempenhado por essas moléculas no organismo. Isso acontece porque o dobramento transforma as proteínas lineares recém-traduzidas em moléculas tridimensionais, capazes de exercer sua função, ou seja, em conformação nativa.
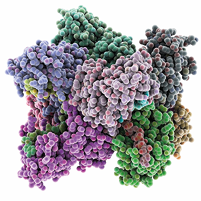
Imagem elaborada com base em: PROTEIN Date Bank. Disponível em: https://s.livro.pro/i91f39. Acesso em: 16 set. 2024.
Após serem modificadas, as proteínas podem permanecer no citoplasma ou ser direcionadas a outros locais da célula, como ao núcleo, às organelas ou à membrana plasmática.
Página 243
ATIVIDADES
1. Em 1962, James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins receberam o prêmio Nobel de Medicina por terem decifrado a estrutura helicoidal do DNA. No entanto, na história dessa descoberta há detalhes importantes, muitas vezes desconhecidos ou desconsiderados pelos curiosos a respeito do tema e até mesmo pela própria comunidade científica. A respeito desse assunto, leia o texto a seguir.
[...]
A química britânica Rosalind Franklin (1920-1958) já era reconhecida internacionalmente pelo uso da cristalografia de raios X para o estudo da estrutura de moléculas de carbono. No King's College, em Londres, o físico britânico John Randall (1905-1984), diretor do Departamento de Biofísica, queria dedicar os esforços do recém-criado laboratório para descobrir a estrutura do DNA.
[...]
Tal interesse também existia em Cambridge (Inglaterra), onde o biólogo norte-americano James Watson e o britânico Francis Crick (1916-2004) iniciavam uma parceria com o mesmo objetivo. Começava a ‘corrida do DNA'.
Em Londres, Franklin conheceu o fisiologista neozelandês Maurice Wilkins (1916--2004), diretor assistente do laboratório que havia feito pressão para trazê-la. De imediato, os dois não se entenderam. [...]
Apesar dos conflitos, Franklin rapidamente elevou a qualidade da cristalografia do King's College. [...]
Com suas imagens, Franklin descobriu que o DNA se apresentava em duas formas – hidratada ou desidratada. Deduziu também que a molécula tinha forma de hélice, com fosfatos no lado externo. Assim, ela pôde descartar a primeira estrutura proposta por Watson e Crick: uma tripla hélice com fosfatos no interior. [...]
A atribuição de créditos nessa história é tão confusa quanto eram as relações interpessoais dos envolvidos. Watson e Crick sabiam que só haviam chegado à estrutura porque obtiveram acesso aos resultados experimentais de Franklin, sem que ela soubesse. [...]
Em 1962, Watson, Crick e Wilkins ganhariam o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Franklin havia falecido anos antes, de câncer. Se estivesse viva, também seria premiada – com certeza, merecia. Sozinha chegou ao mesmo entendimento da estrutura que Watson e Crick, e produziu resultados experimentais superiores aos de Wilkins.
NEVES, Kleber. Rosalind Franklin e o segundo lugar. Ciência Hoje, jun. 2018. Disponível em: https://s.livro.pro/s6hutu. Acesso em: 6 set. 2024.
a ) Por que a imagem produzida por Rosalind Franklin foi essencial para a descoberta da estrutura do DNA?
Resposta: As imagens produzidas por Rosalind Franklin foram essenciais na descoberta da estrutura do DNA porque revelaram que a molécula de DNA tinha a forma de uma hélice, com os fosfatos localizados no lado externo. Essa descoberta permitiu que Watson e Crick pudessem desenvolver o modelo correto da dupla hélice.
b ) Considerando as informações apresentadas no texto, você considera que o processo de descoberta da estrutura da molécula do DNA ocorreu de forma justa e ética? Justifique sua resposta.
Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na Ciência com base na história de Rosalind Franklin. Espera-se que eles comentem o trecho do texto acerca da divulgação dos resultados experimentais dela sem que soubesse e reconheçam esse fato como injusto e antiético. Além disso, espera-se que mencionem a falta de reconhecimento da cientista na premiação pela descoberta.
2. Leia o trecho de reportagem a seguir.
Teria a vida na Terra começado no espaço? Cientistas encontram compostos orgânicos em meteoritos
Em artigo na revista "Nature Communications", pesquisadores da Universidade de Hokkaido, no Japão, descobriram recentemente que três meteoritos contêm os blocos de construção moleculares do DNA e o seu primo RNA
PACHECO, Denis. Teria a vida na Terra começado no espaço? Cientistas encontram compostos orgânicos em meteoritos. Jornal da USP, 13 maio 2022. Disponível em: https://s.livro.pro/00l9hr. Acesso em: 6 set. 2024.
Considerando que os componentes encontrados sejam bases nitrogenadas, qual dos compostos indicados a seguir garantiria se tratar dos blocos de construção do DNA e RNA, respectivamente?
a ) adenina e timina
c ) timina e guanina
e ) guanina e adenina
b ) citosina e guanina
d ) timina e uracila
Resposta: Alternativa d.
3. O triptofano, aminoácido precursor da serotonina, está entre os nutrientes presentes no cacau. Esse neurotransmissor regula importantes processos no nosso corpo, como o sono, o apetite e o humor.
Considerando o processo de produção desse aminoácido, identifique a seguir a alternativa que indica a sequência de bases nitrogenadas lidas durante o processo de transcrição.
a ) UGG
b ) CTT
c ) ACC
d ) CAA
e ) GUU
Resposta: Alternativa c.
Página 244
4. Diferencie os três tipos de RNA envolvidos na síntese proteica, de acordo com a função que desempenham nesse processo.
5. O que é recomposição ou splicing do RNA? Qual é sua importância para o processo de síntese proteica?
6. Qual é a importância da recomposição alternativa ou splicing alternativo?
Resposta: O splicing alternativo possibilita que uma única molécula de RNAm, editada de diferentes maneiras, origine dois ou mais tipos diferentes de proteínas, aumentando a variedade proteica no organismo.
7. Confira o esquema a seguir.
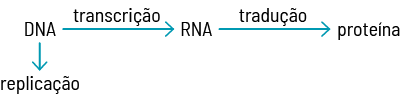
Sobre esse esquema são feitas as seguintes afirmações.
I ) A replicação do DNA é etapa diretamente envolvida na produção de proteínas no organismo.
II ) A molécula de RNA representada no esquema, que contém a sequência para a produção de proteínas, é o RNAt.
III ) Diferentes sequências de bases nitrogenadas podem dar origem a uma mesma proteína.
IV ) A molécula de RNA é complementar a uma das fitas do DNA que deu origem a ela.
Analise as afirmativas anteriores como verdadeiras (V) ou falsas (F) e escreva em seu caderno a alternativa que apresenta a sequência correta de letras.
a ) F-F-F-V
b ) V-V-V-V
c ) F-F-V-F
d ) F-F-V-V
e ) V-F-V-V
Resposta: Alternativa d.
8. A ocitocina e a vasopressina são hormônios proteicos cuja composição difere apenas em dois aminoácidos. Tal variação, porém, confere papéis biológicos muito diferentes a esses hormônios. A ocitocina atua na indução das contrações uterinas durante o parto e na secreção de leite pelas glândulas mamárias. A vasopressina atua nos rins, onde aumenta a absorção de água e promove vasoconstrição, resultando em aumento da pressão sanguínea. Analise, então, a sequência de aminoácidos desses dois hormônios e responda às questões.
a ) Quais são os aminoácidos que diferem a ocitocina da vasopressina?
Imagem sem proporção e em cores fantasia.

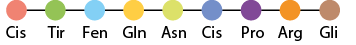
Resposta: Os aminoácidos que diferem entre os dois hormônios são isoleucina, leucina, fenilalanina e arginina, sendo os dois primeiros pertencentes à ocitocina e os dois últimos à vasopressina.
b ) Ambos os hormônios têm 9 aminoácidos em sua estrutura. Quantos nucleotídios no RNAm são necessários para sintetizar uma sequência polipeptídica desse tamanho, desconsiderando os códons de início e de término? Justifique sua resposta.
Resposta: São necessários 27 nucleotídeos. Isso porque, para cada aminoácido especificado, são necessários três nucleotídeos, ou seja, um códon. Assim, 3 vezes 9 é igual a 27.
c ) Que tipo de ligação une os aminoácidos de uma proteína?
Resposta: Os aminoácidos se unem por meio de ligações peptídicas.
d ) Suponha que o gene codificante da ocitocina tenha sofrido em seu RNAm mutação nos códons especificadores dos aminoácidos isoleucina e leucina. Essa mutação resultou na seguinte substituição: I l e por F e n, e L e u por A r g. Qual é a principal consequência dessas mutações?
Resposta: As substituições provocadas pelas mutações na ocitocina resultaram em uma sequência de aminoácidos idêntica à da vasopressina, que apresenta papel biológico divergente da ocitocina, molécula que seria formada se não houvesse a mutação nos códons.
9. Na maioria dos organismos, o fluxo de informação genética obedece à ordem a seguir, no chamado "Dogma central da Biologia molecular".
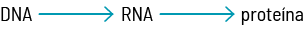
No entanto, em organismos que têm apenas RNA como material genético, a informação contida na molécula de RNA deve ser, primeiro, transcrita em uma molécula de DNA, por ação da enzima transcriptase reversa, para depois sofrer a transcrição e a tradução. Dessa forma, nesses organismos, o fluxo de informação genética obedece à seguinte ordem:

a ) Explique a quais processos se refere e qual é a importância do Dogma central da Biologia molecular.
b ) Considerando que no ciclo de replicação viral pode haver incorporação do material genético do vírus no material genético da célula hospedeira, qual é a importância da transcriptase reversa nesse processo?
10. Suponha que a planta A tenha em seu DNA 18% de guanina e a planta B 29% de timina. Qual será a porcentagem das demais bases nitrogenadas no DNA dessas plantas? Justifique sua resposta.
Respostas das questões 4, 5, 9 e 10 nas Orientações para o professor.
Página 245
Engenharia genética
Leia a manchete a seguir e responda à questão.
Mais de 32 milhões de testes RT-PCR para diagnóstico de Covid-19 já foram distribuídos para todo o Brasil
Disponível em: https://s.livro.pro/frqoq6. Acesso em: 4 set. 2024.
7. Você conhece outra aplicação da técnica PCR (reação em cadeia da polimerase), além da descrita na manchete?
Resposta pessoal. Os estudantes podem citar, por exemplo, testes de paternidade e exames forenses.
Durante a pandemia de covid-19, os testes de PCR, utilizados na detecção do material genético viral, foram essenciais para o diagnóstico e o tratamento da doença e a determinação do isolamento social. O desenvolvimento dessa técnica, fundamental para o enfrentamento da pandemia, só foi possível graças à Engenharia genética, um ramo da Biologia que envolve a compreensão e a manipulação do material genético dos organismos.
Extração e amplificação de material genético
Em muitos casos, para que o material genético de uma amostra seja manipulado e analisado, são necessários alguns procedimentos, como a extração e a amplificação desse material.
O processo de extração pode variar conforme o tipo celular da amostra. No entanto, há etapas gerais que envolvem o rompimento da membrana plasmática das células, a remoção de componentes celulares, como organelas, restos celulares e proteínas, e o isolamento do material genético.
Na amplificação, múltiplas cópias do material genético são formadas. O PCR, uma das técnicas utilizadas para esse processo, possibilita a amplificação de fragmentos do DNA com base em uma quantidade reduzida de material genético. Nessa técnica, as amostras são submetidas a temperaturas específicas para a separação da dupla fita do DNA e para a ação adequada das enzimas utilizadas, como a DNA polimerase.
Uma vez amplificados, os fragmentos de DNA podem ser analisados por meio de técnicas posteriores, como a eletroforese, que descreveremos a seguir.
Eletroforese
A eletroforese é um método de separação de moléculas eletricamente carregadas que migram ao longo de uma matriz por indução de um campo elétrico. A técnica é muito utilizada em laboratórios para separar moléculas de proteínas e fragmentos de DNA, possibilitando sua análise.
Ao quebrar o DNA de um indivíduo com uma enzima de restrição✚, são formados diversos fragmentos de tamanhos diferentes. O padrão de tamanho desses fragmentos é exclusivo para cada pessoa, mas é extremamente similar entre pais e filhos. No entanto, o padrão de fragmentos de DNA não pode ser visto, até que se realize a eletroforese. Acompanhe a seguir uma explicação simplificada dessa técnica.
Os fragmentos de DNA gerados pela enzima de restrição são depositados sobre uma matriz de gel no interior da cuba, em pequenos orifícios chamados poços. A cuba é preenchida com uma solução que viabiliza a passagem de corrente elétrica, esta gerada por uma fonte, que tem um eletrodo negativo fixado na extremidade da cuba próximo ao poço, e um eletrodo positivo na outra extremidade.
Como as moléculas de DNA têm carga negativa, ao ligar a fonte, os fragmentos são repelidos pelo eletrodo negativo, migrando em direção ao polo positivo da cuba. O gel forma uma rede microscópica de poros. Assim, fragmentos maiores de DNA têm mais dificuldade para atravessá-lo, enquanto os menores atravessam-no mais rapidamente.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
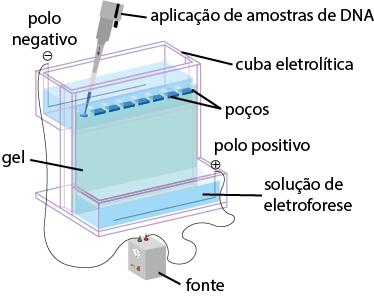
Imagem elaborada com base em: NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 93.
- Enzima de restrição:
- enzimas que fazem cortes na dupla fita de DNA em sequências de nucleotídeos específicas.↰
Página 246
Quando a corrente elétrica é desligada, fragmentos de DNA de tamanho similar formam bandas ao longo da extensão do gel, que se distribuem na matriz em ordem decrescente de tamanho de fragmentos, ficando os maiores mais próximos ao poço. Para facilitar a identificação do tamanho dos fragmentos, no início da eletroforese, são colocados marcadores de massa molecular (M) com bandas de tamanhos já conhecidos. Assim, para identificar o tamanho dos fragmentos que formam determinada banda da amostra de DNA, basta comparar à banda do marcador ao lado.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
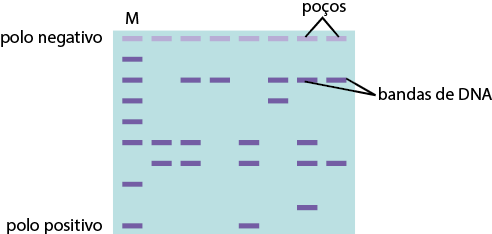
Imagem elaborada com base em: NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 93.
Para a visualização das bandas formadas na eletroforese, o gel pode ser corado com um composto químico que interage com as moléculas de DNA. Esse composto tem como característica se tornar fluorescente quando exposto à luz ultravioleta, possibilitando visualizar as bandas de DNA.
Organismos geneticamente modificados e transgênicos
Os organismos geneticamente modificados (OGMs) são aqueles cujo material genético foi, de alguma forma, alterado pela Engenharia genética, resultando em alterações no DNA que não ocorrem naturalmente. Já os organismos transgênicos tiveram seu material genético alterado pela inserção de um ou mais genes provenientes de outra espécie ou grupo. Trata-se do transgene, que é manipulado, amplificado e inserido no DNA de outro organismo, nomeado transgênico.
O transgene pode ser introduzido em uma célula por meio de uma variedade de técnicas. Ao entrar na célula-alvo, o transgene pode alcançar o núcleo, onde, geralmente, se insere em um cromossomo. Após a inserção, o gene em questão passa a se expressar no organismo e produzir características de interesse, antes ausentes na espécie. Esse processo caracteriza a transgenia, que pode ser desenvolvida tanto em plantas quanto em animais. Observe o esquema.
Ao infectar a célula vegetal, parte do DNA bacteriano (A), contendo o gene de interesse, se insere no genoma da planta (B). Como resultado, forma-se uma planta transgênica (C).
A.
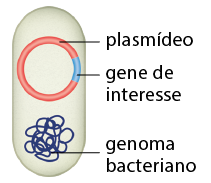
B.
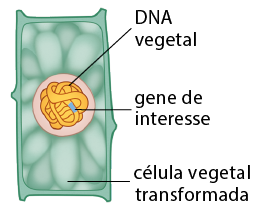
C.
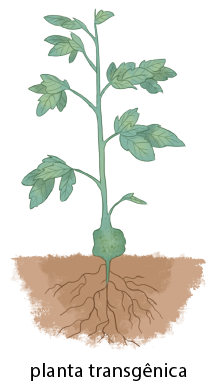
Representação da formação de uma planta transgênica por infecção bacteriana em três etapas (A, B e C).
Imagens elaboradas com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 633.
Compartilhe ideias
No Brasil, determinados alimentos transgênicos estão disponíveis para consumo humano, como o milho, a soja e o trigo. Alguns países, como os Estados Unidos, aprovaram o consumo de salmão transgênico, a primeira espécie animal modificada geneticamente e considerada apropriada para consumo humano.
a ) Formem grupos de cinco integrantes e façam uma pesquisa com membros da comunidade escolar e com seus familiares questionando-lhes se são contra ou a favor da inclusão de alimentos transgênicos na alimentação humana e se atentam à informação da embalagem dos produtos que indicam a presença desses alimentos. Em seguida, organizem os dados em um gráfico, compartilhem com a turma e discutam o tema, expondo suas opiniões.
Resposta nas Orientações para o professor.
Página 247
Terapia gênica
Os avanços da Genética molecular e da Engenharia genética têm fornecido ferramentas importantes para diversas áreas, como a Medicina.
Por exemplo, atualmente, há pesquisas que visam ao tratamento de certa doença intervindo diretamente no gene patogênico, a terapia gênica. Essa técnica consiste em inserir, por meio de um vetor, como um vírus, uma cópia saudável de determinado gene nas células do paciente ou em consertar esse gene na célula germinativa para que o organismo funcione adequadamente. A inserção de cópias saudáveis pode ser feita diretamente no organismo ou em células isoladas, posteriormente injetadas no corpo. Acompanhe a seguir.
A. Algumas células são removidas do paciente.
B. Genes sadios são inseridos em vírus alterados geneticamente para não se reproduzirem.
C. Vírus transgênicos são misturados com células humanas, que adquirem o gene sadio trazido pelos vírus.
D. Células carregando o gene sadio são injetadas no ser humano, multiplicando-se e auxiliando no tratamento da doença.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
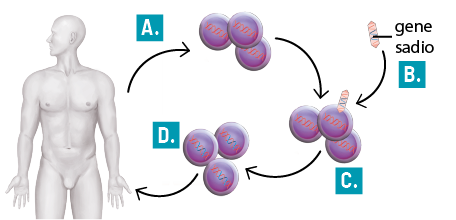
Imagem elaborada com base em: SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 518-521.
Clonagem celular e de organismos
Leio o trecho de reportagem a seguir e responda à questão.
Há 25 anos, nascia Dolly, o primeiro clone de mamífero da história
[...] a clonagem abriu caminho para outras pesquisas científicas, algumas ainda em andamento, como a das células-tronco✚ desenvolvidas a partir de células especializadas sem ser preciso recorrer a embriões. Ou estudos para criação de animais e plantas mais resistentes a doenças ou ainda a preservação de espécies de animais em extinção.
[...]
GONÇALVES, Eliane. Há 25 anos, nascia Dolly, o primeiro clone de mamífero da história. Agência Brasil, 5 jul. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/xxmwxx. Acesso em: 6 set. 2024.
8. O que você sabe a respeito do processo de clonagem?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema. Se julgar interessante, anote as respostas dos estudantes na lousa e ao longo das aulas resgate esses conhecimentos, validando-os ou refutando-os de acordo com o conteúdo apresentado.
Naturalmente, nos mamíferos, a presença de material genético idêntico ocorre somente em casos de gêmeos univitelinos. No entanto, em 1996, cientistas conseguiram clonar o primeiro mamífero – seu nome era Dolly, uma ovelha nascida na Escócia.
Esse clone foi formado com base em uma célula somática diferenciada de um animal adulto. Tal feito simbolizou a possibilidade de reprogramação celular, bem como de produção de todos os tipos de tecido por meio de células diferenciadas de um organismo adulto, incentivando pesquisas de células-tronco com base em células diferenciadas.

Assim, de modo simplificado, a clonagem pode ser definida como a formação de células e indivíduos geneticamente idênticos. É um processo que ocorre naturalmente em alguns seres vivos que realizam reprodução assexuada, como alguns vegetais e microrganismos. Na biotecnologia, essa técnica é utilizada para replicar fragmentos de DNA (clonagem de DNA), células ou organismos.
A clonagem pode ser do tipo reprodutiva ou terapêutica, e uma das principais técnicas envolvidas nesses processos é a transferência nuclear. Acompanhe a seguir.
- Células-tronco:
- células com capacidade de diferenciação, ou seja, que podem dar origem a diferentes tipos celulares.↰
Página 248
Na técnica de transferência nuclear, o núcleo de um óvulo é retirado (A). O núcleo de uma célula somática diferenciada é transferido para o óvulo enucleado (B). Uma série de estímulos (C) faz o óvulo portador do núcleo diferenciado iniciar um processo de divisão celular, resultando na formação do blastocisto✚ (D).
Professor, professora: Ao citar o blastocisto, comente com os estudantes que o desenvolvimento embrionário e suas fases serão explorados mais detalhadamente em outro capítulo.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
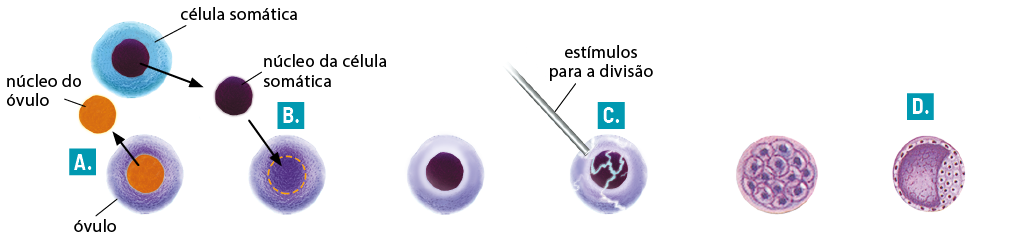
Imagens elaboradas com base em: STEM Cell Quick Reference. Learn.Genetics. Disponível em: https://s.livro.pro/08ye0y. Acesso em: 5 set. 2024.
O blastocisto formado pela técnica de transferência nuclear pode ser utilizado para a clonagem reprodutiva ou para a clonagem terapêutica.
Na clonagem reprodutiva, o blastocisto é implantado no útero de uma fêmea, onde se desenvolve e dá origem a um novo ser vivo geneticamente idêntico ao doador do núcleo diferenciado.
Na clonagem terapêutica, o blastocisto não é implantado no útero de uma fêmea. As células da massa interna são removidas e mantidas em laboratório, onde se multiplicam como células-tronco. Estas são geneticamente idênticas ao doador do núcleo somático e podem dar origem a diferentes tipos de células e tecidos, como o nervoso, o muscular e o sanguíneo.
As células somáticas diferenciadas perdem a capacidade de formar todos os tipos de tecido. Isso acontece porque, apesar de todas as células de um organismo apresentarem o mesmo material genético, ou seja, os mesmos genes, estes se expressam de modo diferente em cada tecido. Assim, o ponto crucial do processo de clonagem por transferência nuclear é a reprogramação celular, responsável por transformar as informações contidas na célula diferenciada em informações de estado embrionário, capazes de originar um novo indivíduo, na clonagem reprodutiva, ou diferentes tipos de células e tecidos, na clonagem terapêutica.
A clonagem terapêutica é uma importante fonte de células-tronco embrionárias. Ela pode ser utilizada como uma alternativa ao uso de embriões formados pela união de óvulo com espermatozoide. Além disso, esse tipo de células-tronco pode auxiliar no tratamento de doenças, como diabetes, doença de Parkinson, lesões na medula e doenças sanguíneas. Isso porque, quando inseridas no organismo, essas células podem ser induzidas a produzir células saudáveis.
Apesar de promissores, ambos os tipos de clonagem necessitam de mais estudos, tanto para produzirem organismos com mais chances de sobrevivência, na clonagem reprodutiva, quanto para células e tecidos serem aplicados com segurança em humanos, na clonagem terapêutica.
Além das aplicações citadas, atualmente essa técnica pode ser utilizada na formação de clones de espécies em perigo de extinção ou extintas. A clonagem de animais extintos, aliás, já foi feita com uma cabra selvagem, o bucardo. Embora um embrião tenha sido gerado após inúmeras tentativas, ele morreu pouco após o nascimento, enfatizando a necessidade de mais estudos do processo de reprogramação celular.
Professor, professora: Ao citar a dificuldade de formação de embriões clonados e a baixa viabilidade dos clones, se considerar pertinente, informe aos estudantes que a ovelha Dolly, por exemplo, foi resultado de 276 tentativas de gestação e morreu precocemente, aos 6 anos de idade, por causa de problemas pulmonares.
Compartilhe ideias
No Brasil, temas como clonagem, uso de células-tronco e Engenharia genética em células humanas é orientado pela Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05).
a ) Junte-se a um colega e analisem essa lei, identificando os posicionamentos legais em relação aos temas abordados neste capítulo. Em seguida, conversem a respeito deles, abordando se vocês são a favor ou contra tais posicionamentos.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a discutir, refletir e a se posicionarem em relação às definições e aos aspectos legais dos temas estudados no capítulo. Espera-se que a leitura da lei citada colabore com o desenvolvimento da capacidade argumentativa deles acerca desses temas.
- Blastocisto:
- massa celular esférica e oca formada entre o quinto e o sétimo dia após a fecundação.↰
Página 249
PRÁTICA CIENTÍFICA
Extração de DNA
Por dentro do contexto
Como você estudou anteriormente, para manipulação do DNA, é necessário extraí-lo. Essa etapa geralmente envolve o rompimento das membranas das células, a remoção de alguns componentes celulares e o isolamento desse DNA.
a ) Como realizar uma prática com materiais de fácil acesso que nos permita desenvolver as etapas para extração do DNA e visualizá-lo?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir sobre a estrutura celular e a localização do DNA nas células, além de sobre quais substâncias seriam necessárias para remover as membranas das células e isolar a molécula de DNA. Caso ache pertinente, anote na lousa os materiais sugeridos pelos estudantes para cada etapa da extração e retome-a ao final da prática.
Materiais
- 250 gramas de cebola picada
- 30 gramas de sal de cozinha
- 100 mililitros de detergente incolor
- 1 frasco de etanol 98% gelado
- 1 recipiente de vidro de 1 litro
- água à temperatura ambiente
- 1 bastão de vidro
- 1 copo medidor
- fonte de calor
- água aquecida a 60 graus Celsius
- gelo
- bacia
- suporte para coador de café
- filtro de papel
- copo de vidro
- cronômetro
- termômetro
Como proceder
A. No recipiente de 1 litro, adicione o sal, o detergente e a água à temperatura ambiente até completar 1 litro. Misture bem até dissolver o sal.
B. Utilizando o copo medidor, separe 100 mililitros da solução que você preparou anteriormente e adicione a ela a cebola picada.
C. Leve essa mistura ao banho-maria abre parênteses 60 graus Celsius fecha parênteses por 30 minutos, mexendo a cada 5 minutos.
Dica
Apenas um adulto deve manipular a água quente. Peça a ele que aqueça a água para o banho-maria.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.

D. Decorridos os 30 minutos, resfrie a mistura em uma bacia com gelo.
E. Filtre a mistura com o filtro de papel, retirando os pedaços de cebola.
F. Coloque metade do líquido filtrado em um copo e adicione vagarosamente dois volumes de etanol abre parênteses C subscrito 2 H subscrito 6 O fecha parênteses sobre ele. Aguarde cerca de 3 minutos.
G. Agite delicadamente a mistura com o bastão de vidro. Observe os resultados.
Análise e divulgação
1. Em qual das etapas ocorre o rompimento da membrana plasmática das células da cebola?
2. Qual é a importância do álcool na extração do DNA?
3. Como o DNA é visualizado nesta atividade prática?
4. Produza um vídeo ensinando essa prática para os estudantes de outras turmas do colégio e divulgue-o nas redes sociais da escola. Ao final do vídeo, comente sobre a importância da Engenharia genética para a Ciência e a sociedade.
Respostas nas Orientações para o professor.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
4. Em duplas, produzam um vídeo ensinando essa prática para os estudantes de outras turmas do colégio e divulgue-o nas redes sociais da escola. Ao final do vídeo, comentem a respeito da importância da Engenharia Genética para a Ciência e a sociedade.
Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a divulgar uma técnica de extração do DNA, bem como fazê-los perceber a importância da manipulação do DNA, retomando alguns temas e conceitos abordados no capítulo.
Orientação para acessibilidade
Professor, professora: Organize as duplas de modo que o estudante não vidente esteja acompanhado de um estudante vidente. Oriente-os a, inicialmente, roteirizar o vídeo, prevendo as falas e os possíveis recursos a serem utilizados para auxiliar nas explicações. É essencial que ambos os estudantes participem do vídeo.
Página 250
ATIVIDADES
1. Leia o texto e julgue as afirmativas a seguir como falsas ou verdadeiras. Na sequência, reescreva em seu caderno as frases falsas, corrigindo-as.
Um biólogo forense foi chamado para auxiliar em uma investigação analisando amostras de material biológico encontradas. Para chegar aos resultados esperados pela equipe de investigação, o profissional coletou o material biológico, extraiu o material genético, amplificou-o com a técnica de PCR e aplicou a técnica de eletroforese. A respeito dessas estratégias, foram feitas as seguintes afirmações.
a ) O processo de amplificação corresponde ao rompimento da membrana plasmática, à remoção de organelas e ao isolamento do material genético.
Resposta: Falsa. O processo de extração corresponde ao rompimento da membrana plasmática, à remoção de organelas e ao isolamento do material genético.
b ) A extração do material genético é feita por meio de um método que separa as moléculas por indução de um campo elétrico.
Resposta: Falsa. A técnica de eletroforese é feita por meio de um método que separa as moléculas por indução de um campo elétrico.
c ) Na PCR, ao aplicar temperaturas específicas, ocorre a separação da dupla fita de DNA e a ação de enzimas, permitindo a amplificação do ácido nucleico.
Resposta: Verdadeira.
d ) Na eletroforese, são formadas bandas de DNA na matriz de gel de acordo com o tamanho dos fragmentos do material genético.
Resposta: Verdadeira.
2. Na segunda metade do século XX, a humanidade presenciou um processo semelhante à Revolução Industrial, mas no campo, o que chamamos de Revolução Verde. Em vista da demanda crescente por alimentos e por maior aporte de investimentos, novas tecnologias foram desenvolvidas, incluindo maquinários, fertilizantes e agrotóxicos. No final do mesmo século, o surgimento das plantas transgênicas também mudou significativamente a agricultura.
Faça uma pesquisa acerca dos pontos positivos e negativos da Revolução Verde e do desenvolvimento dos transgênicos para a agricultura e para o meio ambiente.
3. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões. Se necessário, faça uma pesquisa.
[...]
Nos anos 1970, cientistas inauguraram a engenharia genética, ao desenvolverem a tecnologia do "DNA recombinante"[...].
Um importante biofármaco produzido com o uso dessa técnica foi a insulina sintética para pessoas com diabetes. Os geneticistas conseguiram inserir o gene humano de produção de insulina em bactérias e elas começaram a produzir esse hormônio, acabando com a necessidade de se extrair insulina de animais e minimizando tanto a rejeição da substância pelo organismo quanto seus efeitos colaterais.
[...]
MIRANDA, Lucas Mascarenhas de. A engenharia genética pode criar super-humanos? Ciência Hoje, Rio de Janeiro, n. 377, jun. 2021. p. 12.
a ) Em que consiste a técnica do DNA recombinante?
Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que a técnica do DNA recombinante consiste em combinar DNA de dois organismos distintos. Ela pode ser utilizada para alterar, analisar e recombinar sequências de DNA. No exemplo da insulina sintética, o gene que codifica a produção de insulina humana é inserido em plasmídeos e transferido para as bactérias que produzirão a insulina.
b ) Faça uma pesquisa e cite outros biofármacos produzidos pela técnica do DNA recombinante.
Resposta pessoal. Os estudantes podem citar, por exemplo, o hormônio do crescimento humano, utilizado por crianças com deficiência desse hormônio, e fatores de coagulação, utilizados por pessoas com hemofilia.
4. Analise a imagem a seguir e responda às questões.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
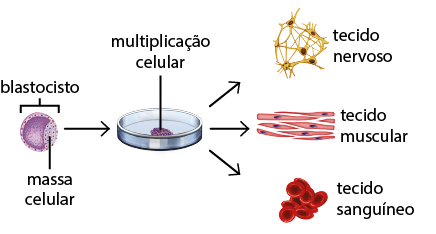
Imagens elaboradas com base em: STEM Cell Quick Reference. Learn.Genetics. Disponível em: https://s.livro.pro/08ye0y. Acesso em: 5 set. 2024.
a ) Comente as etapas da técnica representada na imagem.
b ) Diferencie a técnica de clonagem terapêutica da técnica de clonagem reprodutiva.
c ) O tema referente à clonagem pode despertar curiosidade, mas também dúvidas na população. Produza um material digital de divulgação científica que contribua para esclarecer possíveis dúvidas da comunidade escolar, de familiares e dos amigos. Faça um levantamento prévio com as pessoas do seu convívio acerca das dúvidas delas a respeito do tema. Com base nisso, utilizando o material didático e outras fontes confiáveis, pesquise informações para solucionar as dúvidas coletadas. Por fim, produza um material de divulgação, com linguagem acessível e em formato digital (vídeo, podcast, textual etc.), e compartilhe com a comunidade.
Respostas das questões 2 e 4 nas Orientações para o professor.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
c ) O tema referente à clonagem pode despertar curiosidade, mas também dúvidas na população. Em dupla, produzam um material digital de divulgação científica que contribua para esclarecer possíveis dúvidas da comunidade escolar, de familiares e dos amigos. Façam um levantamento prévio com as pessoas do convívio de vocês acerca das dúvidas delas a respeito do tema. Com base nisso, utilizando o material didático e outras fontes confiáveis, pesquisem informações para sanar essas dúvidas. Por fim, produzam um material de divulgação, com linguagem acessível e em formato digital (vídeo, podcast, textual etc.), e compartilhem-no com a comunidade.
Resposta pessoal. Esta atividade pode ser desenvolvida com professores de Língua Portuguesa e tem como objetivo incentivar a habilidade dos estudantes de comunicar temas científicos e divulgar conhecimento para diferentes públicos. Pode ser necessário um auxílio maior dos professores na etapa de levantamento prévio de conhecimentos, de forma a conduzir mais eficientemente a coleta de dados, e na seleção das fontes confiáveis para a pesquisa. Busque também incentivar os estudantes a produzir diferentes tipos de mídias para a etapa de divulgação, o que pode ser enriquecedor para a turma.
Orientação para acessibilidade
Professor, professora: Organize as duplas de modo que o estudante não vidente esteja acompanhado de um estudante vidente. Oriente-os a dividir entre eles as tarefas envolvidas na produção do material de divulgação. Atente para a necessidade de orientações mais específicas, de acordo com o formato escolhido pelos estudantes.
Página 251
CAPÍTULO14
Hereditariedade e genética mendeliana
Probabilidade e genética
Professor, professora: Ao abordar o exemplo dos dados, enfatize aos estudantes que, a cada lance, qualquer uma das 6 faces do dado pode ficar voltada para cima.
A probabilidade indica a frequência com que determinado evento pode ocorrer. Considere, por exemplo, um dado. Ao lançá-lo, seis resultados diferentes podem ocorrer, já que o dado tem seis faces diferentes. Assim, qual é a probabilidade de o lançamento de um dado resultar na face com o número 3? Há uma possibilidade em seis de ocorrer o evento face 3; portanto, a probabilidade é 1 sexto.
E no lançamento de dois dados simultaneamente, qual é a probabilidade de ambos os lançamentos resultarem na face com o número 3? Essa probabilidade é 1 sobre 36.
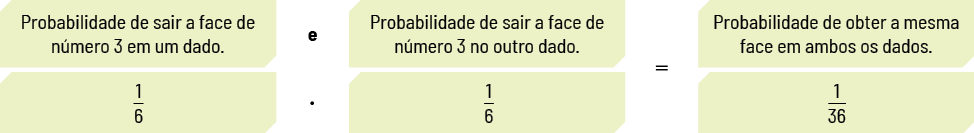
Assim, é provável que 1 a cada 36 lançamentos resulte na face de número 3 nos dois dados.
Agora, qual é a probabilidade de, ao lançar um dado, o resultado ser a face 2 ou a face 3? Para responder a esse questionamento, é preciso calcular a probabilidade de que pelo menos um evento ocorra. Nesse caso, as probabilidades devem ser somadas, aplicando a regra da adição.
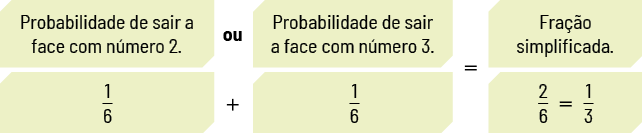
Dica
Quando o cálculo de probabilidade envolver um evento e outro, utiliza-se a regra da multiplicação abre parênteses vezes fecha parênteses. Quando for necessário calcular a probabilidade de um evento ou outro ocorrer, utiliza-se a regra da adição abre parênteses mais fecha parênteses.
A probabilidade de sair o número 2 ou o número 3 em um lançamento de dado é de 1 terço ou 33 vírgula 33 reticências por cento.
A probabilidade é usada para compreender cruzamentos genéticos. Estudaremos esse assunto a seguir.
Mendel e a transmissão da informação genética
Cada gameta apresenta em seu interior um conjunto cromossômico e, portanto, um conjunto gênico que determinará as características de seu portador, auxiliando assim na transmissão da informação genética.
Alguns estudos contribuíram para a construção do conhecimento atual sobre a transmissão das informações genéticas, entre eles os do cientista austríaco Gregor Johann Mendel (1822-1884).
Na metade do século XIX, os estudos realizados por Mendel auxiliaram a elucidar os mecanismos de hereditariedade. Ele vivia em um mosteiro, na atual República Tcheca, onde iniciou seus experimentos.

Página 252
Primeira lei de Mendel
A planta escolhida por Mendel foi a ervilha-de-jardim (Pisum sativum). Ela tem flores com pétalas fechadas, impedindo a entrada ou a saída de grãos de pólen. Por isso, essa planta geralmente realiza a autofecundação, isto é, o gameta masculino de uma flor fecunda o gameta feminino da mesma flor, não havendo troca de gametas (reprodução cruzada). A autofecundação possibilita que grande parte das características se mantenha de uma geração para outra, reduzindo, assim, a variabilidade genética. Em razão dessa uniformidade genética, as linhagens são chamadas de puras.
Depois de algum tempo de cultivo das ervilhas-de-jardim, Mendel obteve variedades puras da planta, cujas características não variavam ao longo das gerações. Ele observou aspectos como altura, cor das flores, cor e textura das sementes e textura das vagens.
Ervilha-de-jardim (P. sativum): pode atingir aproximadamente 2 metros de altura.

Um dos experimentos realizados por Mendel considerou a altura das ervilhas-de-jardim. Acompanhe a seguir.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
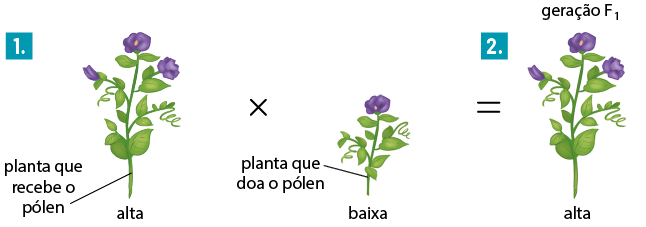
1. Mendel realizou a fecundação cruzada entre plantas puras altas e plantas puras baixas, inserindo grãos de pólen de uma planta no estigma de outra.
2. A fecundação cruzada originou somente plantas altas (geração F subscrito 1).
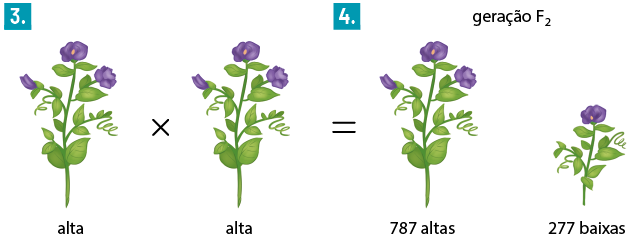
3. Mendel fecundou uma planta alta com o pólen de uma planta baixa e uma planta baixa com o grão de pólen de uma planta alta. Ambos os cruzamentos resultaram em prole de plantas altas. Depois, ele deixou que essas ervilhas (altas) se autofecundassem.
4. Na sequência, Mendel plantou 1.064 sementes obtidas do cruzamento entre plantas altas. Houve o desenvolvimento de ervilhas altas (787 plantas) e de ervilhas baixas (277 plantas), na proporção de três para um abre parênteses 3 dividido por 1 fecha parênteses, na geração F subscrito 2.
Imagens elaboradas com base em: SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 45-49.
Dica
O primeiro cruzamento realizado por Mendel é o cruzamento de parentais abre parênteses P fecha parênteses cujos descendentes pertencem à primeira geração abre parênteses F subscrito 1 fecha parênteses. Quando ele cruzou os indivíduos da F subscrito 1 entre si, obteve a segunda geração abre parênteses F subscrito 2 fecha parênteses.
1. Das 1.064 sementes plantadas por Mendel, a quantidade de plantas altas e baixas observadas por ele apresentou uma proporção aproximada de 3 dividido por 1. Quais seriam as quantidades de plantas altas e plantas baixas caso a proporção 3 dividido por 1 fosse exata? Faça o cálculo no caderno.
Resposta nas Orientações para o professor.
Página 253
Ao realizar o experimento apresentado anteriormente, Mendel esperava que na geração F subscrito 2 surgissem apenas plantas altas. Com base no resultado obtido na F subscrito 2, ele deduziu que as plantas altas abre parênteses F subscrito 1 fecha parênteses tinham um fator determinante para plantas baixas que foi inibido pela expressão de outro fator para plantas altas. O fator que foi expresso recebeu o nome de fator dominante, e o fator inibido foi chamado de recessivo. Atualmente, os fatores citados por Mendel são chamados de alelos.
Professor, professora: Se julgar pertinente, relembre com os estudantes o conceito de alelos e de genes estudado anteriormente.
Nos seres vivos diploides, os alelos se apresentam aos pares, um presente no cromossomo herdado da mãe e o outro, no cromossomo herdado do pai. Por isso, o alelo relacionado à altura alta está, em um cromossomo, na mesma posição do alelo relacionado à altura baixa no outro cromossomo.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
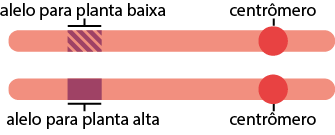
Imagem elaborada com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 181.
Quando um organismo tem alelos que expressam a mesma variação da característica, por exemplo, planta alta, diz-se que ele é homozigoto para tal característica. Quando os alelos expressam variações diferentes para a mesma característica, o indivíduo é chamado de heterozigoto.
Assim como Mendel, nós também utilizaremos símbolos para facilitar os estudos genéticos. Nesse caso, para representar o alelo dominante, utilizaremos a letra D maiúsculo, e para representar o alelo recessivo, a letra d minúsculo. Assim, quando um indivíduo apresenta os alelos D maiúsculo e D maiúsculo, ele é considerado homozigoto dominante para determinada característica; quando apresenta os alelos d minúsculo e d minúsculo, é chamado de homozigoto recessivo; e quando apresenta os alelos D maiúsculo e d minúsculo, é denominado heterozigoto para tal característica.
Confira o exemplo a seguir.
Geração parental (P): as plantas altas são homozigotas para o alelo dominante D maiúsculo D maiúsculo e produzem apenas gametas com o alelo D maiúsculo. As plantas baixas são sempre homozigotas para o alelo recessivo d minúsculo d minúsculo e só produzem gametas com o alelo d minúsculo.

Geração F subscrito 1: composta de plantas heterozigotas para a altura, que têm alelos D maiúsculo e d minúsculo e, portanto, produzem gametas de dois tipos, D maiúsculoe d minúsculo.

Geração F subscrito 2: formada por indivíduos com os genótipos D maiúsculo D maiúsculo, D maiúsculo d minúsculo ou d minúsculo d minúsculo. A proporção genotípica, ou seja, entre os genótipos, é de 1 D maiúsculo D maiúsculo dividido por 2 D maiúsculo d minúsculo dividido por 1 d minúsculo d minúsculo. Já os fenótipos são plantas altas e baixas, cuja proporção é de 3 altas para cada 1 baixa abre parênteses 3 dividido por 1 fecha parênteses.
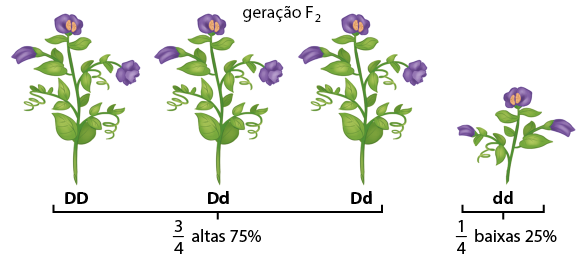
Imagens elaboradas com base em: SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 45-49.
Página 254
Os estudos realizados por Mendel levaram à conclusão de que os fatores são os alelos, responsáveis por características que se separam na formação dos gametas, os quais apresentam um único fator para cada gene. Essa é a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação dos fatores. Para exemplificar, analise o esquema a seguir.
A. Os alelos para a característica cor das sementes se encontram em cromossomos homólogos, sendo um de origem paterna e outro de origem materna.
B. Durante a meiose I, as cromátides são duplicadas. Portanto, os alelos também são duplicados.
C. Os cromossomos duplicados se separam e se deslocam para cada célula-filha. A célula, que era diploide abre parênteses 2 n fecha parênteses, dá origem a células haploides abre parênteses n fecha parênteses.
D. Ao final da meiose II, ocorre a separação das cromátides-irmãs. Cada gameta recebe um representante do par dos cromossomos homólogos e tem apenas um alelo de cada gene.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
Imagem elaborada com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 181.
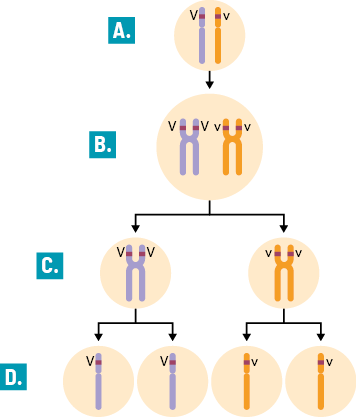
Após a meiose, cada gameta tem apenas um alelo para determinada característica.
Quadro de Punnett
Para a resolução direta de cruzamentos que envolvem um ou dois genes, é possível utilizar o quadro de Punnett, desenvolvido pelo geneticista inglês Reginald Crundall Punnett (1875-1967). Trata-se de um diagrama no qual são inseridos os possíveis alelos dos gametas dos genitores e depois analisadas as combinações de todos os possíveis genótipos formados nesse cruzamento.
Para compreender melhor, acompanhe o exemplo a seguir envolvendo o albinismo, uma condição em que ocorre ausência do pigmento melanina no corpo. O albinismo é um fenótipo recessivo, ou seja, para que ele se manifeste o indivíduo precisa ser homozigoto recessivo abre parênteses a minúsculo a minúsculo fecha parênteses.
ATIVIDADES RESOLVIDAS
R1. Qual é a probabilidade de um homem heterozigoto para o albinismo e de uma mulher também heterozigota para a mesma condição terem um filho com albinismo?
Resolução
Extraindo os dados do problema, temos:
- genótipos dos pais: A maiúsculo a minúsculo e A maiúsculo a minúsculo
- gametas do pai: A maiúsculo ou a minúsculo
- gametas da mãe: A maiúsculo ou a minúsculo
Construindo o quadro de Punnett, temos:
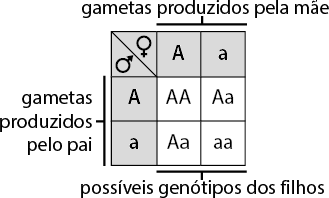
Analisando o quadro de Punnett, é possível prever que o casal tem 25%, ou 1 quarto, de probabilidade de ter um filho com albinismo abre parênteses a minúsculo a minúsculo fecha parênteses.
2. Qual é a probabilidade de esse casal ter um filho heterozigoto para albinismo?
Resposta: 50%. A maiúsculo a minúsculo vezes A maiúsculo a minúsculo é igual a A maiúsculo A maiúsculo; A maiúsculo a minúsculo; A maiúsculo a minúsculo; a minúsculo a minúsculo.
Página 255
Heredogramas
A genealogia possibilita estudar as características genéticas de pessoas com parentesco e descobrir se determinada característica está presente nos ancestrais ou nos descendentes de um indivíduo. Uma maneira de representar graficamente a genealogia é por meio do heredograma. Com o auxílio desse método, é possível identificar indivíduos portadores de alelos que resultem na característica analisada e acompanhar sua transmissão entre as gerações. Confira algumas convenções utilizadas em um heredograma.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
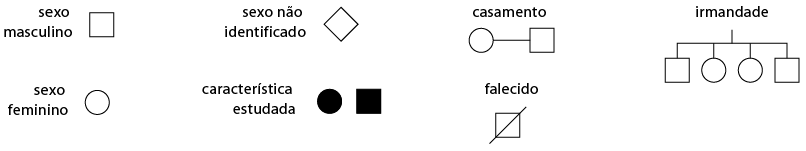
Agora, vamos estudar um exemplo.
ATIVIDADES RESOLVIDAS
R2. A polidactilia é uma condição autossômica dominante que se manifesta como dedos extras. O heredograma a seguir está relacionado a essa característica.
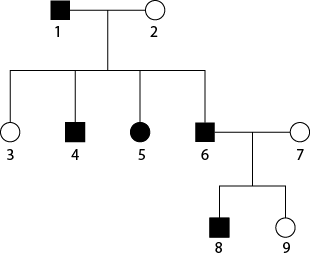
Analisando o heredograma, é possível conhecer algumas informações.
- Os genótipos possíveis são: P maiúsculo P maiúsculo, P maiúsculo p minúsculo e p minúsculo p minúsculo.
- Os fenótipos possíveis são: com polidactilia (P maiúsculo P maiúsculo e P maiúsculo p minúsculo) e sem polidactilia (p minúsculo p minúsculo).
- Os indivíduos com polidactilia são: 1, 4, 5, 6 e 8.
- Os indivíduos sem polidactilia são: 2, 3, 7 e 9.
- Os indivíduos com genótipo P maiúsculo p minúsculo, em razão de um dos pais ser homozigoto recessivo, ou seja, não ter polidactilia (indivíduos 2 e 7), são: 4, 5, 6 e 8.
Ao analisar o fenótipo dos filhos de 1 e 2, podemos identificar o genótipo do indivíduo 1.
Se o genótipo de 1 fosse P maiúsculo p minúsculo, o resultado seria:
| 1/2 | p minúsculo | p minúsculo |
|---|---|---|
|
P maiúsculo |
P maiúsculo p minúsculo |
P maiúsculo p minúsculo |
|
p minúsculo |
p minúsculo p minúsculo |
p maiúsculo p maiúsculo |
Se o genótipo de 1 fosse P maiúsculo P maiúsculo, o resultado seria:
| 1 / 2 | p minúsculo | p minúsculo |
|---|---|---|
|
P maiúsculo |
P maiúsculo p minúsculo |
P maiúsculo p minúsculo |
|
P maiúsculo |
P maiúsculo p minúsculo |
P maiúsculo p minúsculo |
O casal (1 e 2) tem dois filhos com polidactilia (4 e 6), uma filha com polidactilia (5) e uma filha sem polidactilia (3). Assim, 1 e 2 têm genótipo P maiúsculo p minúsculo e p minúsculo p minúsculo, respectivamente. Já os filhos 4 e 6 e a filha 5 têm genótipo P maiúsculo p minúsculo, enquanto a filha 3 tem genótipo p minúsculo p minúsculo.
É possível, então, calcular a probabilidade de o casal 6 e 7 ter outro(a) filho(a) com polidactilia?
- O indivíduo 6 tem polidactilia abre parênteses P maiúsculo p minúsculo fecha parênteses.
- O indivíduo 7 não tem polidactilia abre parênteses p minúsculo p minúsculo fecha parênteses.
Como cada gravidez é um evento único e não sofre influência de gestações anteriores, a probabilidade de esse casal ter outro(a) filho(a) com polidactilia é de 50%.
| 6 / 7 | p minúsculo | p minúsculo |
|---|---|---|
|
P maiúsculo |
P maiúsculo p minúsculo |
P maiúsculo p minúsculo |
|
p minúsculo |
p minúsculo p minúsculo |
p minúsculo p minúsculo |
Página 256
Segunda lei de Mendel
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
Ao longo de seus estudos, Mendel passou a analisar duas características simultaneamente. Quanto à cor, as sementes poderiam ser amarelas (característica dominante) ou verdes (característica recessiva); quanto à textura, poderiam ser lisas (característica dominante) ou rugosas (característica recessiva). Como ele estudou as duas características ao mesmo tempo, o cruzamento é chamado di-híbrido.
Em um de seus experimentos, Mendel cruzou plantas puras dominantes com puras recessivas para as duas características.
O gene para cor de sementes tem um alelo dominante V maiúsculo (cor amarela) e um alelo recessivo v minúsculo (cor verde). Os genótipos V maiúsculo V maiúsculo e V maiúsculo v minúsculo conferem a coloração amarela às sementes, e o genótipo v minúsculo v minúsculo é responsável pela coloração verde.
Em relação à textura da semente, considere o alelo dominante R maiúsculo (textura lisa) e o seu alelo recessivo r minúsculo (textura rugosa). Assim, os genótipos R maiúsculo R maiúsculo e R maiúsculo r minúsculo são de sementes lisas, e r minúsculo r minúsculo, de sementes rugosas.
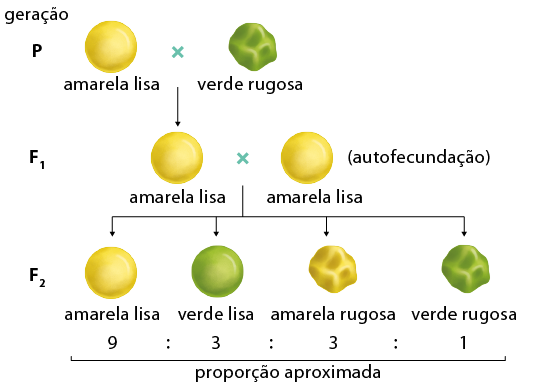
Imagem elaborada com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 183.
3. Considere que a prole F subscrito 2 desse cruzamento é 512 indivíduos. Qual é a quantidade de plantas dessa prole com sementes amarelas lisas, verdes lisas, amarelas rugosas e verdes rugosas, respectivamente?
Resposta nas Orientações para o professor.
A geração F subscrito 1 é heterozigota para as características amarela e lisa. Com a autofecundação entre as plantas da F subscrito 1, obtém-se a geração F subscrito 2, em uma proporção aproximada de 9 dividido por 3 dividido por 3 dividido por 1. Afinal, qual seria a explicação para essa proporção? Acompanhe a seguir.
As plantas parentais puras para semente amarela e lisa (genótipo V maiúsculo V maiúsculo R maiúsculo R) produzem gametas V maiúsculo R maiúsculo, e as parentais puras para semente verde e rugosa (genótipo v minúsculo v minúsculo r minúsculo r minúsculo) produzem gametas v minúsculo r minúsculo. A geração F subscrito 1 resulta em sementes amarelas lisas (genótipo V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo).
Utilizando o quadro de Punnett com as combinações entre os alelos dos gametas, são obtidos os genótipos na F subscrito 1, conforme o quadro a seguir.
| Amarelas lisas / Verdes rugosas | V maiúsculo R maiúsculo | V maiúsculo R maiúsculo |
|---|---|---|
|
v minúsculo r minúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
|
v minúsculo r minúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
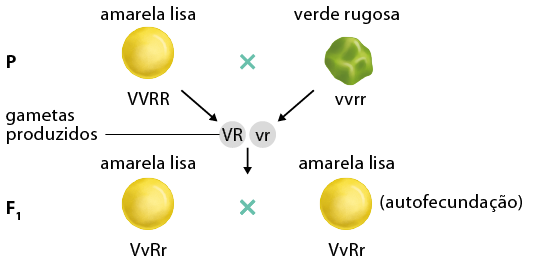
Imagem elaborada com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 183.
Página 257
As plantas heterozigotas para semente amarela e lisa abre parênteses F subscrito 1 fecha parênteses, com genótipo V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo, produzem gametas V maiúsculo R maiúsculo, V maiúsculo r minúsculo, v minúsculo R maiúsculo e v minúsculo r minúsculo. Utilizando o quadro de Punnett com as combinações entre os alelos dos gametas, obtêm-se os genótipos na F subscrito 2. Confira o quadro a seguir.
| Gametas | V maiúsculo R maiúsculo | V maiúsculo r minúsculo | v minúsculo R maiúsculo | v minúsculo r minúsculo |
|---|---|---|---|---|
| V maiúsculo R maiúsculo |
V maiúsculo V maiúsculo R maiúsculo R maiúsculo |
V maiúsculo V maiúsculo R maiúsculo r minúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo R maiúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
| V maiúsculo r minúsculo |
V maiúsculo V maiúsculo R maiúsculo r minúsculo |
V maiúsculo V maiúsculo r minúsculo r minúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
V maiúsculo v minúsculo r minúsculo r minúsculo |
| v minúsculo R maiúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo R maiúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
v minúsculo v minúsculo R maiúsculo R maiúsculo |
v minúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
| v minúsculo r minúsculo |
V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
V maiúsculo 'v minúsculo r minúsculo r minúsculo |
v minúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo |
v minúsculo v minúsculo r minúsculo r minúsculo |
Do cruzamento entre heterozigotos para duas características, a proporção genotípica formada é de 1 dividido por 2 dividido por 2 dividido por 4 dividido por 1 dividido por 2 dividido por 1 dividido por 2 dividido por 1, ou seja, 1 V maiúsculo V maiúsculo R maiúsculo R dividido por 2 V maiúsculo V maiúsculo R maiúsculo r minúsculo dividido por 2 V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo maiúsculo R dividido por 4 V maiúsculo v minúsculo R maiúsculo r minúsculo dividido por 1 V maiúsculo V maiúsculo r minúsculo r minúsculo dividido por 2 V maiúsculo v minúsculo r minúsculo r minúsculo dividido por 1 v minúsculo v minúsculo R R dividido por 2 v minúsculo v minúsculo R r minúsculo dividido por 1 v minúsculo v minúsculo r minúsculo r. A proporção fenotípica é 9 amarelas lisas: 3 amarelas rugosas: 3 verdes lisas: 1 verde rugosa.
Os estudos de Mendel possibilitam concluir que determinada característica é condicionada por um gene e que seus alelos são responsáveis pela variação dessa característica. Com base nos resultados do estudo simultâneo de duas características, constatamos que os alelos de genes diferentes se distribuem de maneira independente e aleatória durante a formação dos gametas, produzindo todas as combinações possíveis. Esse é o princípio da segunda lei de Mendel.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
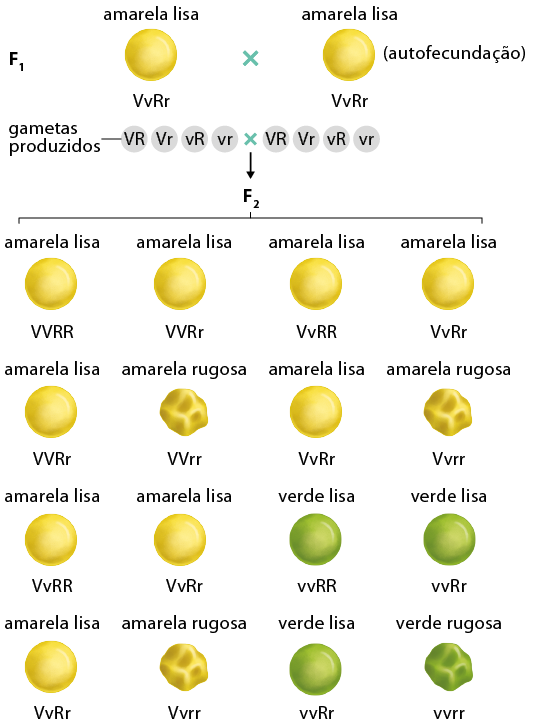
Imagem elaborada com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 183.
Página 258
Confira a seguir como ocorre a formação dos gametas durante a meiose, analisando a cor e a textura da semente de ervilha-de-jardim.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
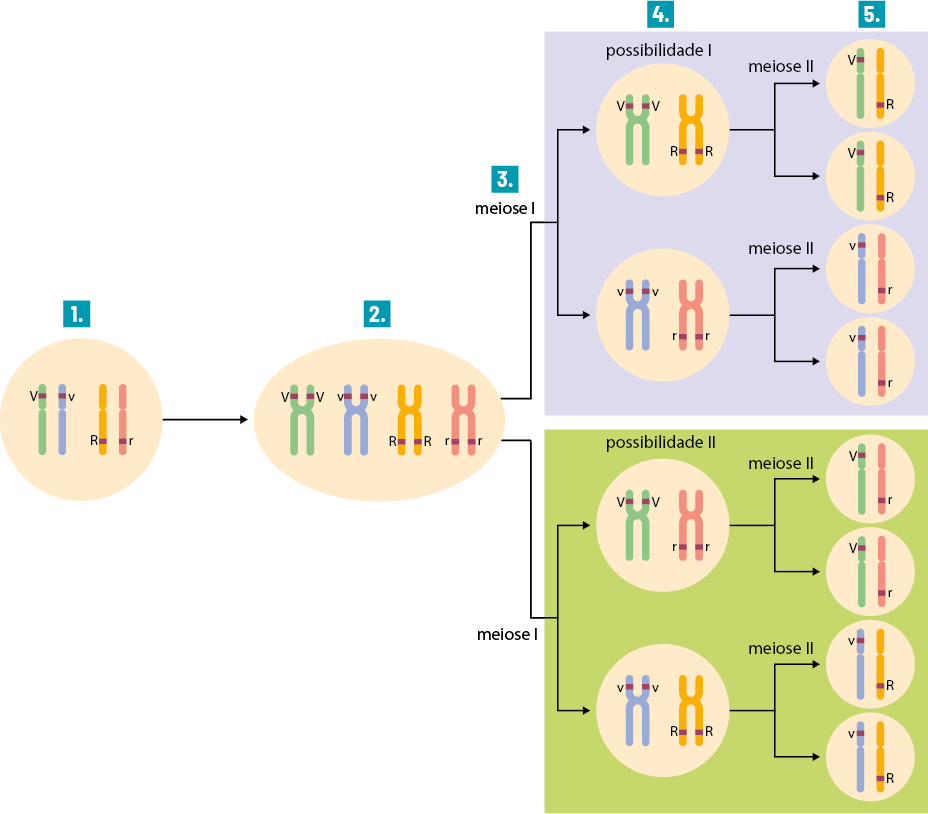
Imagem elaborada com base em: SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 96.
1. Célula diploide com dois pares de cromossomos homólogos.
2. Duplicação das cromátides dos cromossomos homólogos.
3. Durante a anáfase I da meiose I, cada par de cromossomos homólogos se separa de forma independente, gerando diferentes combinações. Para dois pares de cromossomos, duas combinações são possíveis.
4. Combinações possíveis dos dois cromossomos homólogos. Na possibilidade I ocorre a combinação dos alelos V maiúsculo e R maiúsculo e dos alelos v minúsculo e r minúsculo. Já a possibilidade II resulta na combinação dos alelos V maiúsculo e r minúsculo e dos alelos v minúsculo e R maiúsculo.
5. Gametas formados após separação das cromátides-irmãs e possíveis combinações dos alelos nos gametas.
Ao analisar a representação do processo de formação de gametas nas ervilhas-de-jardim, é possível reconhecer que os diferentes genes e seus alelos se distribuem de modo independente e aleatório, confirmando a segunda lei de Mendel.
Agora, considere uma ervilha amarela rugosa. Nesse caso, seu genótipo poderia ser V maiúsculo V maiúsculo ou V maiúsculo v minúsculo, para a característica amarela, e r minúsculo r minúsculo, por ser rugosa. Uma maneira de descobrir se o genótipo dessa semente para a cor é homozigoto abre parênteses V maiúsculo V maiúsculo fecha parênteses ou heterozigoto abre parênteses V maiúsculo v minúsculo fecha parênteses é pelo cruzamento teste.
O cruzamento teste identifica se um indivíduo com fenótipo dominante é homozigoto ou heterozigoto. Para isso, é necessário cruzar esse indivíduo com outro homozigoto recessivo. Se toda a descendência expressar o fenótipo dominante, o genótipo é homozigoto; caso metade da prole expresse o fenótipo dominante e o restante expresse o fenótipo recessivo, é provável que o genótipo do indivíduo testado seja heterozigoto.
Página 259
Bioinformática
O termo bioinformática é usado para nomear a área de estudos e pesquisas interdisciplinar que associa a Biologia, a Matemática e a Informática. O profissional dessa área é chamado de bioinformata e atua, basicamente, organizando, armazenando e analisando dados biológicos por meio do computador. Estes dados podem ser, por exemplo, epidemiológicos e genéticos.
Diversos trabalhos científicos importantes envolvem o uso da bioinformática. Um dos mais conhecidos é o projeto que possibilitou decifrar o genoma humano, envolvendo a leitura e análise de milhões de pares de bases nitrogenadas do DNA. Todos os anos, dezenas de espécies têm seu genoma decifrado, utilizando técnicas de análise cada vez mais aprimoradas. A área de estudos que analisa a composição do material genético dos seres vivos chama-se genômica.
Analise o mapa circular criado usando o software Circos, que possibilita fazer comparações genéticas complexas entre espécies diferentes ou dentro da mesma espécie.
As linhas coloridas conectam genes que são ortólogos entre si, ou seja, que tiveram a mesma origem evolutiva.
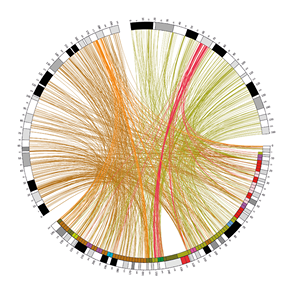
As análises realizadas com técnicas de bioinformática também foram muito importantes durante a pandemia de covid-19. Os dados coletados sobre o genoma do vírus e as pessoas afetadas foram fundamentais para o rápido desenvolvimento de uma vacina, que foi disponibilizada cerca de um ano depois do início da pandemia. Assim como no caso da covid-19, outras doenças são estudadas utilizando recursos de bioinformática.
Atualmente, há vários bancos de dados que armazenam informações sobre as moléculas celulares, como o DNA, para que elas possam ser acessadas e interpretadas por cientistas ao redor do mundo todo. Confira um exemplo do uso dessa informação no trecho do texto a seguir.
O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), por meio do Núcleo de Vigilância de Vírus Emergentes, Reemergentes ou Negligenciados, em parceria com diversas instituições, realizou a caracterização genômica e epidemiológica do surto do vírus oropouche (Orov) que vem acontecendo desde 2022. O Orov é endêmico da Região Amazônica e vem registrando surtos no Brasil desde a década de 70. A infecção pelo Orov causa sintomas semelhantes aos da dengue, podendo também causar encefalite. De acordo com o virologista e pesquisador da Fiocruz, Felipe Naveca, coordenador do Núcleo, foram analisadas 75 amostras coletadas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2024, para as quais foi realizado o sequenciamento completo do genoma do vírus.
"O Laboratório Central de Roraima deu o primeiro alerta para esse surto de Oropouche, em seguida foram detectados casos confirmados pelo exame de RT-PCR no Amazonas, Rondônia e Acre. No início de 2023, tivemos um pico de casos nesses estados e, no final de novembro, um forte aumento no Amazonas e no Acre. Por isso, desenvolvemos o protocolo para o sequenciamento viral e, até o momento, sequenciamos 75 amostras de 18 cidades desses quatro estados. Com a análise genômica, mostramos que esse vírus é descendente de um Orov que circulou em 2015 em Tefé e surgiu depois de eventos sucessivos de rearranjo viral. [...]", salienta Naveca.
FIOCRUZ coordena estudo para caracterização genômica dos casos de oropouche na Amazônia. Agência Fiocruz de Notícias, 1 fev. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/72aokn. Acesso em: 20 jul. 2024.
a ) Converse com os colegas sobre a importância da tecnologia e dos bancos de dados universais para a Ciência.
Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir como a tecnologia e os bancos de dados universais auxiliam os pesquisadores. Espera-se que eles mencionem que ambos possibilitam o armazenamento, a organização e a análise de uma grande quantidade de dados, bem como o acesso a essas informações. Além disso, eles podem citar que a tecnologia e os bancos de dados podem ser importantes no desenvolvimento de diagnósticos e tratamentos de doenças, por exemplo.
Página 260
ATIVIDADES
1. A que conclusão Mendel chegou após seus primeiros resultados com a pesquisa do cruzamento de ervilhas-de-jardim?
Resposta: Ele concluiu, com o que ficou conhecido como primeira lei de Mendel, que as características são transmitidas para os descendentes por meio dos alelos. Esses alelos, presentes nos pares dos cromossomos dos indivíduos, segregam-se de forma independente no momento da meiose (formação dos gametas). Dessa maneira, os gametas recebem apenas um alelo.
2. Leia a tirinha a seguir e responda às questões propostas.

WATTERSON, Bill. O ataque dos perturbados monstros de neve: mutantes e assassinos. São Paulo: Conrad, 2010. p. 8.
a ) A tirinha menciona o termo genes para indicar a condição recessiva. Que termo seria mais correto nessa situação? Por quê?
b ) Explique o que o pai de Calvin quis dizer no último quadrinho.
c ) Qual seria o genótipo de Calvin se seu pai usasse óculos em razão de uma herança recessiva determinada pelo gene b e sua mãe fosse homozigota dominante para essa característica?
Resposta nas Orientações para o professor.
3. Com base no texto a seguir e no heredograma, responda às questões propostas.
[...]
A galactosemia, por exemplo, é uma doença hereditária rara, caracterizada pela deficiência em enzimas que processam a galactose. Nos portadores, esse carboidrato, normalmente convertido em glicose, é acumulado na forma de galactose-fosfato, o que leva a retardo mental severo e, com frequência, à morte. Recém-nascidos e crianças com galactosemia não podem ingerir substâncias com galactose, em particular o leite [...].
POMIN, Vitor Hugo; MOURÃO, Paulo Antônio de Souza. Carboidratos: de adoçantes a medicamento. Ciência Hoje, v. 39, n. 233, dez. 2006. p. 28.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
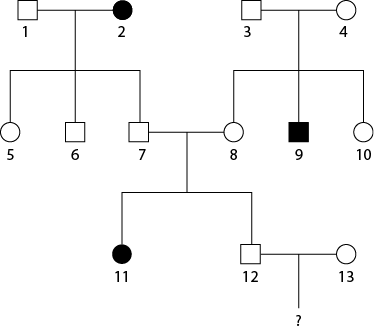
a ) Quantos indivíduos do sexo feminino têm galactosemia?
Resposta: Dois indivíduos do sexo feminino (2 e 11).
b ) Quantos indivíduos do sexo masculino estão representados no heredograma?
Resposta: No heredograma, estão representados seis indivíduos do sexo masculino (1, 3, 6, 7, 9 e 12).
c ) Sabendo-se que a galactosemia é uma característica autossômica recessiva (g minúsculo g minúsculo), qual é o genótipo dos indivíduos 3, 4, 5, 6 e 7?
Resposta: São todos heterozigotos para a galactosemia e apresentam genótipo G maiúsculo g minúsculo para essa característica.
d ) Sabendo-se que os indivíduos 12 e 13, que formam um casal, são heterozigotos para a galactosemia, qual é a probabilidade de terem uma menina portadora do alelo para galactosemia ou um menino com galactosemia?
Resposta nas Orientações para o professor.
Página 261
4. Sabendo que a resistência a pragas é determinada pelo gene dominante S maiúsculo e a suscetibilidade é determinada pelo alelo recessivo s minúsculo e que a cor roxa do grão de milho é uma condição determinada pelo alelo dominante R maiúsculo, enquanto a cor amarela é determinada pelo alelo recessivo r minúsculo, considere esta situação: um produtor rural cruzou duas linhagens de milho e obteve 484 plantas resistentes com grãos de milho roxos, 161 plantas resistentes com grãos de milho amarelos, 161 plantas suscetíveis com grãos de milho roxos e 54 plantas suscetíveis com grãos de milho amarelos. Agora, com base nessas informações, responda às questões propostas.

a ) Quais são os genótipos das linhagens parentais? Justifique sua resposta.
b ) Qual é a proporção genotípica esperada desse cruzamento?
5. Suponha que a cor preta da pelagem do carneiro seja dominante sobre a cor branca e que a espessura fina da lã seja dominante sobre a espessura grossa. Considere que os alelos que determinam a coloração da pelagem do carneiro sejam abre parênteses A maiúsculo barra a minúsculo fecha parênteses e que os alelos responsáveis pela espessura da lã sejam abre parênteses B maiúsculo barra b minúsculo fecha parênteses. Quais são os fenótipos e genótipos resultantes do cruzamento de um macho com o genótipo A maiúsculo A maiúsculo B maiúsculo b minúsculo com uma fêmea A maiúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo? Identifique a alternativa correta.
a ) São esperados 50% de animais com pelagem branca e lã fina e 50% de animais com pelagem branca e lã grossa. Os genótipos resultantes do cruzamento são A maiúsculo A maiúsculo B maiúsculo b minúsculo, A maiúsculo a minúsculo B maiúsculo b minúsculo, A maiúsculo A maiúsculo b minúsculo b minúsculo e A maiúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo.
b ) São esperados 25% de animais com pelagem branca e lã grossa e 75% de animais com pelagem preta e lã grossa. Os genótipos resultantes do cruzamento são A maiúsculo A maiúsculo B maiúsculo b minúsculo, A maiúsculo a minúsculo B maiúsculo b minúsculo, A maiúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo e a minúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo.
c ) São esperados 50% de animais com pelagem preta e lã fina e 50% de animais com pelagem preta e lã grossa. Os genótipos resultantes do cruzamento são A maiúsculo A maiúsculo B maiúsculo b minúsculo, A maiúsculo a minúsculo B maiúsculo b minúsculo, A maiúsculo A maiúsculo b minúsculo b minúsculo e A maiúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo.
d ) São esperados 25% de animais com pelagem preta e lã fina e 75% de animais com pelagem preta e lã grossa. Os genótipos resultantes do cruzamento são A maiúsculo A maiúsculo B maiúsculo B maiúsculo, A maiúsculo a minúsculo B maiúsculo b minúsculo, A maiúsculo A maiúsculo b minúsculo b minúsculo e A maiúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo.
e ) São esperados 50% de animais com pelagem branca e lã grossa e 50% de animais com pelagem branca e lã grossa. Os genótipos resultantes do cruzamento são a minúsculo a minúsculo B maiúsculo b minúsculo, aaBb, a minúsculo a minúsculo B maiúsculo B maiúsculo e a minúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo.
Resposta: Alternativa c. Comentários nas Orientações para o professor.
6. O quadro de Punnett a seguir apresenta o cruzamento de indivíduos capazes de enrolar a língua, uma característica autossômica dominante.
| Gametas | C maiúsculo | c minúsculo |
|---|---|---|
| C maiúsculo |
C maiúsculo C maiúsculo |
C maiúsculo c minúsculo |
| c minúsculo |
C maiúsculo c minúsculo |
c minúsculo c minúsculo |


a ) Qual é a proporção genotípica e fenotípica da prole?
b ) Qual é a proporção genotípica e fenotípica da prole de um casal formado por uma mulher heterozigota e um homem sem a capacidade de dobrar a língua em U?
Respostas das atividades 4 e 6 nas Orientações para o professor.
Página 262
CAPÍTULO15
Hereditariedade além das leis de Mendel
Dominância incompleta
Embora os estudos realizados por Mendel tenham sido fundamentais para o desenvolvimento dos conhecimentos sobre a hereditariedade, a transmissão de genes de várias características não segue essas leis. Quando estudamos os padrões de dominância não mendelianas, encontramos a dominância incompleta, a codominância, os alelos letais e os alelos múltiplos. Esses assuntos serão estudados a seguir.
Na dominância incompleta, um indivíduo heterozigoto para certa característica expressa um fenótipo diferente do que é manifestado pelo homozigoto dominante ou pelo homozigoto recessivo. Um exemplo dessa dominância ocorre na determinação das cores das flores de maravilha (Mirabilis jalapa). Quando plantas com flores vermelhas são cruzadas com outras que têm flores brancas, na geração F subscrito 1 são desenvolvidas plantas com flores cor-de-rosa.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

A coloração vermelha da flor de maravilha ocorre quando o alelo F elevado a V aparece duplamente abre parênteses F elevado a V F elevado a V fecha parênteses. A combinação do alelo F elevado a V com o alelo F elevado a B abre parênteses F elevado a V F elevado a B fecha parênteses determina a menor expressão da proteína funcional relacionada à pigmentação vermelha, por isso, o fenótipo observado é a coloração cor-de-rosa.
Nas plantas homozigotas recessivas abre parênteses F elevado a B F elevado a B fecha parênteses, o fenótipo obtido são plantas com flores brancas. Confira a seguir.
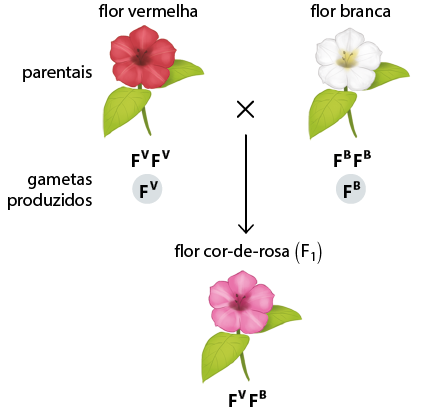
Geralmente, a relação de dominância incompleta está relacionada à presença de um alelo funcional e outro não funcional. A pigmentação vermelha da flor de maravilha somente é alcançada quando o alelo F elevado a V está duplamente presente, ou seja, seu produto é expresso em dobro nos homozigotos abre parênteses F elevado a V F elevado a V fecha parênteses. Um alelo F elevado a V presente na planta heterozigota abre parênteses F elevado a V F elevado a B fecha parênteses determina menor expressão da proteína funcional relacionada à cor vermelha e, portanto, o fenótipo observado é a coloração cor-de-rosa. Já nas plantas homozigotas recessivas abre parênteses F elevado a B F elevado a B fecha parênteses, em que o F elevado a V está ausente e sua expressão é nula, o fenótipo obtido é de plantas com flores brancas.
1. Qual é a proporção genotípica e a proporção fenotípica esperadas do cruzamento entre plantas com flores cor-de-rosa?
Resposta: F elevado a V F elevado a B vezes F elevado a V F elevado a B - Proporção genotípica: 1 quarto F elevado a V F elevado a V; 2 quartos ou 1 meio F elevado a V F elevado a B; 1 quarto F elevado a B F elevado a B. Proporção fenotípica: 1 quarto vermelha; 2 quartos ou 1 meio cor-de-rosa; 1 quarto branca.
Página 263
Codominância
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
Na codominância, o heterozigoto exibe um fenótipo que é a mistura do efeito dos fenótipos homozigotos. Nesse caso, ambos os alelos são expressos, produzindo dois tipos diferentes de proteína.
A codominância pode ser vista, por exemplo, na coloração da pelagem de bovinos da raça✚ shorthorn. O alelo P elevado a V produz proteínas para a coloração vermelha da pelagem e o alelo P elevado a B produz proteínas para a cor de pelagem branca. O genótipo heterozigoto P elevado a V P elevado a B, por sua vez, determina a pelagem malhada (vermelha e branca).



Ser vivo adulto
Boi (Bos taurus) da raça shorthorn: pode atingir aproximadamente 1 vírgula 6 metro de comprimento.

Imagens elaboradas com base em: ROSA, Antonio N.; MENEZES, Gilberto R. O.; EGITO, Andréa A. Recursos genéticos e estratégias de melhoramento. In: ROSA, Antonio N. et al. (ed.). Melhoramento genético aplicado em gado de corte. Brasília: Embrapa, 2013. p. 13.
Assim, na dominância incompleta, os fenótipos dos homozigotos não são identificáveis no heterozigoto, que apresenta um terceiro fenótipo, intermediário ao dos dois homozigotos. Já na codominância, o heterozigoto expressa simultaneamente os fenótipos de ambos os homozigotos.
Alelos letais
Algumas mutações que ocorrem na molécula de DNA podem interferir em vias essenciais do desenvolvimento dos seres vivos, causando a morte deles antes ou após o nascimento. Tais mutações são conferidas por alelos letais. Acompanhe o exemplo a seguir.
Em camundongos, a mutação amarelo-letal abre parênteses A elevado a Y fecha parênteses tem efeito em duas características: cor da pelagem e sobrevivência. A pelagem amarela, expressa pelo alelo A elevado a Y, é dominante em relação ao alelo A, que, em homozigose, confere a pelagem aguti abre parênteses A A fecha parênteses. Na heterozigose abre parênteses A elevado a Y A fecha parênteses, os camundongos têm pelagem amarela e se desenvolvem normalmente. No entanto, quando o alelo A elevado a Y ocorre em homozigose abre parênteses A elevado a Y A elevado a Y fecha parênteses, eles morrem antes de nascer.


- Raça:
- conceito que, usualmente, engloba características físicas dos animais, como a cor da pelagem.↰
Página 264
Considere o cruzamento entre dois camundongos com pelagem de coloração amarela.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
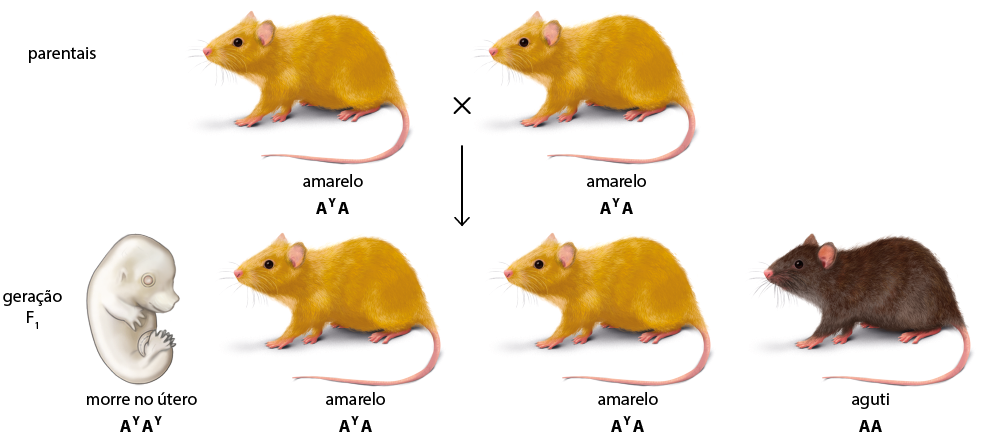
Imagens elaboradas com base em: SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 72.
Dica
O efeito na característica cor é dominante, pois uma única cópia do alelo A elevado a Y no heterozigoto produz cor amarela. Já o efeito na sobrevivência é recessivo, pois duas cópias do alelo são necessárias para letalidade.
Assim, a proporção genotípica do cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos amarelos seria de 1 quarto A elevado a Y A elevado a Y; 2 quartos ou 1 meio A elevado a Y A; 1 quarto A A. Já a proporção fenotípica seria de 1 quarto que morreria no útero materno, 2 quartos ou 1 meio amarelo e 1 quarto aguti. Desse modo, a proporção esperada de 1 dividido por 2 dividido por 1 é alterada para 2 dividido por 1 ao analisarmos somente os indivíduos que nasceram vivos abre parênteses 2 terços amarelo dividido por 1 terço aguti fecha parênteses.
Alelos múltiplos
Algumas características nos seres vivos são determinadas por genes que têm vários alelos no mesmo locus, o que recebe o nome de alelos múltiplos ou polialelia. Essa herança é percebida, por exemplo, na pelagem dos coelhos, cujo gene tem quatro alelos: C maiúsculo elevado a início expoente, c minúsculo h minúsculo, fim expoente (pelagem chinchila), C maiúsculo elevado a h minúsculo (pelagem himalaia), C maiúsculo sobrescrito mais (pelagem selvagem) e C maiúsculo (pelagem albina). Cada um desses alelos está relacionado a um padrão de cor característica.




Imagens elaboradas com base em: SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 69.
Há uma relação de dominância nesse tipo de herança: o tipo selvagem é dominante sobre os demais; chinchila domina himalaio e albino; himalaio domina albino. A relação de dominância pode ser expressa como: C maiúsculo sobrescrito mais é maior do que C maiúsculo elevado a início expoente, c minúsculo h minúsculo fim expoente é maior do que C maiúsculo elevado a h minúsculo é maior do que C maiúsculo.
Confira a seguir os diferentes genótipos possíveis para cada tipo de pelagem em coelhos.
- Selvagem: C maiúsculo sobrescrito mais C maiúsculo sobrescrito mais; C maiúsculo sobrescrito mais C maiúsculo elevado a início expoente, c minúsculo h minúsculo, fim expoente; C maiúsculo sobrescrito mais C maiúsculo elevado a h minúsculo; C maiúsculo sobrescrito mais C maiúsculo.
- Chinchila: C maiúsculo elevado a início expoente, c minúsculo h minúsculo, fim expoente, C maiúsculo elevado a início expoente, c minúsculo h minúsculo, fim expoente; C maiúsculo elevado a início expoente, c minúsculo h minúsculo, fim expoente, C maiúsculo elevado a h minúsculo; C maiúsculo elevado a início expoente, c minúsculo h minúsculo, fim expoente, C maiúsculo.
- Himalaio: C maiúsculo elevado a h minúsculo C maiúsculo elevado a h minúsculo; C maiúsculo elevado a h minúsculo C maiúsculo.
- Albino: C maiúsculo C maiúsculo.
Professor, professora: Relembre os estudantes de que Mendel, nos experimentos com ervilhas-de-jardim, estudou muitas características em loci diferentes. Nesses casos, em um único locus havia apenas dois alelos (verde/amarela ou rugosa/lisa, por exemplo). No caso de alelos múltiplos, são mais de dois alelos em um locus.
Página 265
Os alelos múltiplos também são encontrados em seres humanos, como no caso do sistema A B O, no qual existem quatro tipos sanguíneos: A, B, A B e O. Esses tipos estão relacionados, basicamente, à presença de aglutinogênios✚ A e B e aglutininas✚ anti-A e anti-B na membrana de certas hemácias.
A expressão dos aglutinogênios no sistema ABO está relacionada a três alelos: I maiúsculo elevado a A maiúsculo, I maiúsculo elevado a B maiúsculo e i minúsculo. O alelo I elevado a A maiúsculo expressa o antígeno A maiúsculo; o alelo I maiúsculo elevado a B maiúsculo, o antígeno B; e o alelo i minúsculo não produz esses antígenos. Os alelos I maiúsculo elevado a A maiúsculo e I maiúsculo elevado a B maiúsculo se expressam igualmente no heterozigoto, mas são dominantes sobre o alelo i minúsculo.
Confira o quadro a seguir.
| Fenótipo | Aglutinogênio | Aglutinina | Genótipo |
|---|---|---|---|
|
A maiúsculo |
aglutinogênio A maiúsculo |
aglutinina anti-B |
I maiúsculo elevado a A maiúsculo I maiúsculo elevado a A maiúsculo ou I maiúsculo elevado a A maiúsculo i minúsculo |
|
B maiúsculo |
aglutinogênio B maiúsculo |
aglutinina anti-A |
I maiúsculo elevado a B maiúsculo I maiúsculo elevado a B maiúsculo ou I maiúsculo elevado a B maiúsculo i minúsculo |
|
A B |
aglutinogênios A maiúsculoe B maiúsculo |
aglutinina ausente |
I maiúsculo elevado a A maiúsculo I maiúsculo elevado a B maiúsculo |
|
O |
aglutinogênios ausentes |
aglutinina anti-A e anti-B |
i minúsculo |
Compartilhe ideias
A doação de sangue pode ajudar a salvar vidas.
a ) Faça um levantamento entre amigos e familiares para saber quais deles são doadores de sangue. Pesquise quais são os requisitos para ser doador.
Resposta nas Orientações para o professor.

Interações gênicas
Em 1905, o biólogo inglês William Bateson (1861-1926), em parceria com o geneticista inglês Reginald Punnett (1875-1967), obteve as primeiras evidências de que uma característica era influenciada por mais de um gene, como ocorre nas galinhas domésticas. Essas aves podem ter quatro tipos de crista: rosa, ervilha, noz e simples.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
Galinha (Gallus gallus): pode atingir aproximadamente 70 centímetros de comprimento.




Bateson e Punnett descobriram que o tipo de crista é determinado pelos genes R maiúsculo e E maiúsculo, os quais têm dois alelos cada. O alelo dominante do gene R maiúsculo define a crista rosa somente se os dois alelos do gene E maiúsculo forem recessivos (R maiúsculo R maiúsculo e minúsculo e minúsculo ou R maiúsculo r minúsculo e minúsculo e minúsculo). A presença de apenas um alelo dominante do gene define a crista tipo ervilha quando os alelos do gene R maiúsculo são recessivos (r minúsculo r minúsculo E maiúsculo E maiúsculo ou r minúsculo r minúsculo E maiúsculo e minúsculo). A crista do tipo noz, por sua vez, precisa ter ao menos um alelo dominante de cada gene (R maiúsculo lacuna E maiúsculo lacuna). Para haver crista simples, todos os alelos devem ser recessivos.
Agora, confira o cruzamento apresentado.
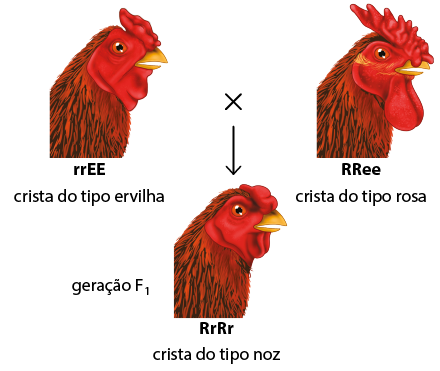
Imagens elaboradas com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. p. 210.
Página 266
Como foi possível perceber, se uma ave homozigota para crista rosa cruzar com uma ave homozigota para crista ervilha, na F subscrito 1 surgiriam somente descendentes de crista do tipo noz, que é diferente da que os parentais têm. Assim, percebe-se que o genótipo para noz precisa ter ao menos um alelo dominante de cada gene.
Já no cruzamento entre duas aves da geração F subscrito 1 (crista tipo noz, com genótipo R maiúsculo r minúsculo E maiúsculo e minúsculo), surgem quatro fenótipos relacionados ao tipo de crista. Confira o quadro a seguir.
Por meio da análise dele, é possível perceber que, apesar da interação entre os genes, a proporção fenotípica em F subscrito 2 foi mantida 9 dividido por 3 dividido por 3 dividido por 1, indicando que nenhum gene se sobrepôs ao outro. A não sobreposição dos genes determina uma interação não epistática.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
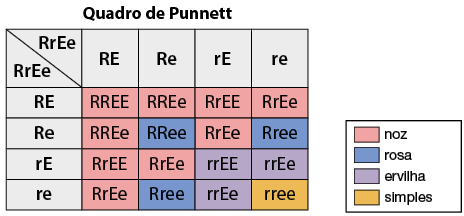
Agora, considere o exemplo a seguir.
A cor da pelagem dos camundongos pode ser aguti (ou selvagem), preta ou albina. Esse padrão de coloração é condicionado por dois genes, que segregam seus alelos independentemente. Um deles é responsável pela cor dos pelos: o alelo dominante A maiúsculo determina a presença da pelagem aguti e o alelo recessivo a minúsculo, quando em homozigose, define a pelagem preta. No outro gene, o alelo dominante P maiúsculo possibilita a manifestação da cor, enquanto o recessivo p, em homozigose (p minúsculo p minúsculo), a inibe (albino).



No cruzamento de um camundongo com pelagem preta, duplo homozigoto abre parênteses a minúsculo a minúsculo P maiúsculo P maiúsculo fecha parênteses, e um camundongo albino, também duplo homozigoto abre parênteses A maiúsculo A maiúsculo p minúsculo p minúsculo fecha parênteses, obtém-se uma geração F subscrito 1 heterozigota abre parênteses A maiúsculo a minúsculo P maiúsculo p minúsculo fecha parênteses. Após o cruzamento de indivíduos da F subscrito 1, é obtida a proporção fenotípica na geração F subscrito 2, apresentada no quadro a seguir.
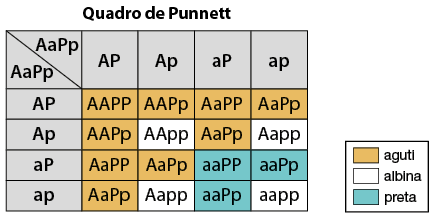
Verificando o quadro, é possível perceber que a proporção fenotípica obtida para a pelagem é de 9 agutis dividido por 3 pretas dividido por 4 albinas. Assim, a proporção clássica da segregação independente descrita por Mendel abre parênteses 9 dividido por 3 dividido por 3 dividido por 1 fecha parênteses não é observada.
Há situações, como a da pelagem dos camundongos, em que uma característica é influenciada por dois ou mais genes e um alelo se sobrepõe aos outros, estabelecendo relação de dominância. Esse alelo é chamado epistático, pois realiza a relação de epistasia.
Quando a ação epistática é de um alelo dominante, ocorre epistasia dominante. Já no caso de a ação epistática ser de um gene recessivo, temos a chamada epistasia recessiva. Nesta, é necessário que os alelos atuem juntos, ou seja, que dois alelos recessivos sejam epistáticos sobre os outros, como ocorre na característica pelagem dos camundongos.
Em se tratando de hereditariedade, há também casos em que um gene é responsável pela expressão de mais de uma característica, a chamada pleiotropia. Isso pode ser percebido, por exemplo, em cebolas.
Página 267
O gene que condiciona a cor da casca da cebola é o mesmo que determina a resistência desse vegetal a fungos. O alelo dominante V maiúsculo condiciona a casca de cor branca (V maiúsculo V maiúsculo e V maiúsculo v minúsculo) e seu alelo recessivo v minúsculo, a cor vermelha abre parênteses v minúsculo v minúsculo fecha parênteses. O alelo v minúsculo, em duplicidade, também estabelece resistência aos fungos e seu alelo V maiúsculo confere a falta dessa característica.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.


Assim, V maiúsculo V maiúsculo e V maiúsculo v minúsculo são genótipos de cebolas de casca branca e que não apresentam resistência a fungos. O genótipo v minúsculo v minúsculo, por sua vez, condiciona a casca vermelha em cebolas e a resistência delas aos fungos.
Ligações gênicas
As pesquisas de Mendel visavam a estudos de genes que se segregam independentemente. Entretanto, há casos em que dois genes estão presentes no mesmo cromossomo e definem características distintas.
A cor dos olhos e o formato da asa da mosca Drosophila melanogaster, por exemplo, são características determinadas por genes ligados, que estão no mesmo cromossomo. A cor avermelhada é condicionada pelo alelo dominante P maiúsculo, enquanto o alelo recessivo p minúsculo se refere à cor de olho púrpura. A asa normal é condicionada pelo gene dominante V maiúsculo e a asa vestigial, pelo alelo recessivo v minúsculo.
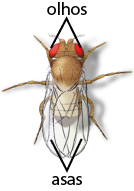
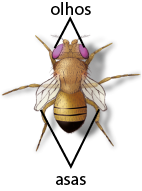
Imagens elaboradas com base em: STORER, Tracy Irwin et al. Zoologia geral. 6. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2000. p. 178, 192.
O cruzamento entre parentais homozigotos para essas características origina uma F subscrito 1 heterozigota. Se nos baseássemos na segunda lei de Mendel, a F subscrito 2 seria formada na proporção de 9 dividido por 3 dividido por 3 dividido por 1. No entanto, para genes ligados, a proporção é diferente. Acompanhe a seguir a formação dos gametas ligados referentes a essas duas características.
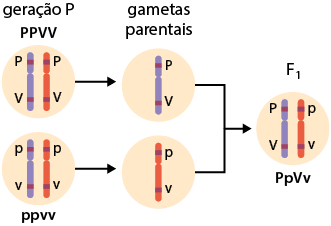
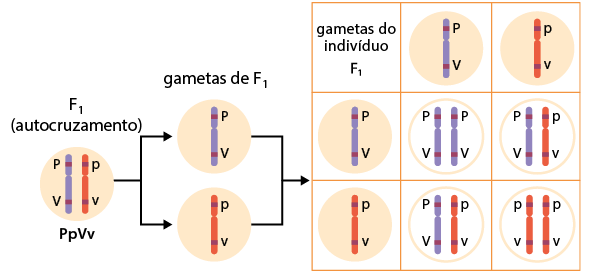
Imagens elaboradas com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. p. 107.
Página 268
Analisando o cruzamento apresentado anteriormente, é possível identificar que a proporção fenotípica para duas características é de 3 dividido por 1 (3 olhos avermelhados e asas normais dividido por 1 olho púrpura e asas vestigiais).
Outras características, no entanto, não puderam ser explicadas nem pelas leis de Mendel nem pelos genes ligados no mesmo cromossomo. Contudo, é possível compreendê-las por meio de um evento que ocorre na meiose: a permutação, também chamada recombinação gênica ou crossing-over. Acompanhe a seguir.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
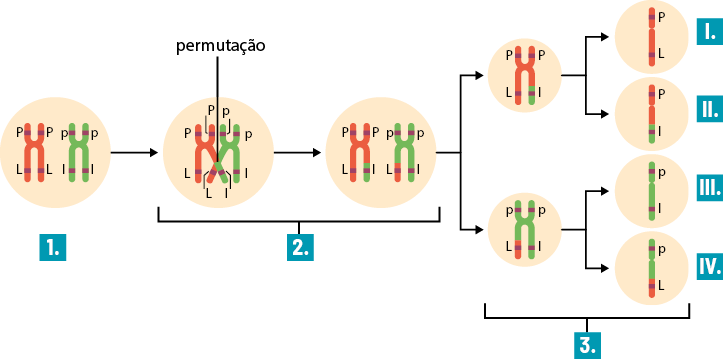
Imagem elaborada com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. p. 108.
1. Na fase de zigóteno da prófase I da meiose I, os cromossomos homólogos se pareiam.
2. Na fase de paquíteno, ocorre a permutação entre as cromátides dos cromossomos homólogos.
3. São formados gametas parentais I e III e gametas recombinantes II e IV.
Herança quantitativa
O estudo da herança quantitativa está relacionado a características que variam gradualmente, ou seja, apresentam variações sutis entre si. Por exemplo, a coloração de algumas sementes, a quantidade de leite produzido por uma vaca, a cor da pele, a altura, a massa e a cor dos olhos dos seres humanos. Tais características que variam gradualmente são chamadas características quantitativas.
Essa variação está condicionada ao resultado da ação cumulativa de muitos genes sobre determinada característica. Assim, cada alelo de cada um dos genes que determinam certa característica contribui um pouco para a expressão de seu fenótipo. Além disso, na herança quantitativa, pode existir o efeito do ambiente na expressão dos fenótipos, o que fortalece ainda mais essa variação.
Um exemplo desse tipo de herança está relacionado à tonalidade da pele do ser humano. Durante muito tempo, acreditava-se que essa característica era condicionada por um par de genes cujos alelos dominantes condicionavam maior produção de melanina, enquanto os alelos recessivos expressavam uma quantidade baixa desse pigmento. Contudo, não existem alelos que não produzem melanina, pois a ausência da produção desse pigmento determina a condição de albinismo.
Dessa maneira, o genótipo A maiúsculo A maiúsculo B maiúsculo B maiúsculo produziria o máximo de melanina, e a pele seria considerada preta; já indivíduos com genótipo a minúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo teriam a mínima produção de melanina, e seu fenótipo seria de pele branca. Com base nesse raciocínio, existiriam somente cinco diferentes fenótipos para a cor da pele humana, como mostra o quadro a seguir.
| Genótipo | Fenótipo |
|---|---|
|
A maiúsculo A maiúsculo B maiúsculo B maiúsculo |
Cor preta |
|
A maiúsculo a minúsculo B maiúsculo B maiúsculo, A maiúsculo A maiúsculo B maiúsculo b minúsculo |
Cor pardo escura |
|
A maiúsculo a minúsculo B maiúsculo b minúsculo, A maiúsculo A maiúsculo b minúsculo b minúsculo, a minúsculo a minúsculo B maiúsculo B maiúsculo |
Cor pardo média |
|
A maiúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo, a minúsculo a minúsculo B maiúsculo b minúsculo |
Cor pardo clara |
|
a minúsculo a minúsculo b minúsculo b minúsculo |
Cor branca |
Atualmente, estudos apontam que a cor da pele dos seres humanos é condicionada por mais de dois genes. Esse fato ajuda a explicar a grande variedade de tons de pele, que é maior do que cinco fenótipos. Além disso, fatores ambientais, como a exposição ao sol, influenciam essa variação.
Página 269
CONEXÕES com ... SOCIOLOGIA
Qual é seu tom de pele?
O tom da pele deveria ser apenas uma entre tantas outras características variáveis atribuídas a uma pessoa, como a cor dos olhos ou dos cabelos. No entanto, ao longo da história da humanidade, essa especificidade foi utilizada como justificativa para subjugar e discriminar pessoas e atribuir suposta superioridade de determinados povos em relação a outros.
O racismo envolve qualquer ação discriminatória, preconceituosa ou segregacionista relacionada à raça ou à etnia✚ de um povo ou indivíduo.

Embora seja um tema discutido atualmente, as raízes do racismo perpassam a história, de maneira que já afetaram e afetam diferentes grupos sociais. Um deles é o dos africanos e afrodescendentes, que por séculos foram vulnerabilizados pelo sistema colonial. O racismo contra negros sustentou o período escravocrata e práticas como sequestro, tráfico e até mesmo morte da população negra ao redor do mundo.
Em 1888, a Lei Áurea declarou o fim da escravização dos negros no Brasil, mas os efeitos do racismo são percebidos ainda hoje, nos mais diversos setores. Séculos de escravização afetaram profundamente a sociedade brasileira, dificultando ou mesmo impossibilitando a inclusão social, econômica e política adequada e efetiva da população negra. Consequentemente, isso gera profundas desigualdades de oportunidades, em especial quando relacionadas a renda, trabalho, educação e saúde. Essas raízes profundas na estrutura social, somadas aos aspectos culturais excludentes que elas ajudaram a construir ao longo do tempo, dão forma ao que hoje chamamos de racismo estrutural.
Por ter sido um país colonizado e escravocrata, com ampla miscigenação entre europeus, africanos escravizados e indígenas, o Brasil ainda apresenta uma camada a mais de complexidade no que diz respeito ao racismo. O projeto de branqueamento ocorrido no início do século XX, com a chegada dos imigrantes europeus e sua miscigenação com a população preta, fez os pardos passarem a ser parte significativa da população brasileira. Pela ascendência e marginalização histórica dessa categoria, atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera negros no país os autodeclarados pretos e pardos. Esse entendimento tem levado a debates sobre colorismo.
O conceito de colorismo está relacionado às diferenças de tratamento a que as pessoas negras estão submetidas na sociedade de acordo com a tonalidade de sua pele. De forma geral, em uma sociedade racista, pessoas cuja pele é mais clara têm aceitação mais facilitada do que aquelas com tonalidades mais retintas.
O racismo precisa ser combatido por todos. Para isso, é necessário reconhecer a sua existência histórica e atual. A conscientização sobre o tema contribui para que seja mais debatido, o que possibilita que medidas importantes sejam tomadas, incluindo a construção de programas e leis de equidade racial e reparação histórica.
a ) Como você percebe o racismo na sociedade contemporânea? Procure uma notícia atual que embase sua resposta.
b ) Você já tinha ouvido falar de colorismo? Discuta com os colegas esse conceito e pensem na maneira como ele pode ser percebido, por exemplo, nos padrões de beleza.
c ) Ao longo da história, o racismo dificultou ou mesmo impediu o acesso de pessoas negras, sobretudo mulheres, aos estudos e às ciências. Pesquise dois exemplos de cientistas negros brasileiros, sendo pelo menos um deles mulher, e registre as áreas de estudo e seus feitos.
Respostas nas Orientações para o professor.
- Etnia:
- conceito que compreende fatores culturais das pessoas, como religião, idioma e nacionalidade.↰
Página 270
ATIVIDADES
1. Qual é a principal diferença entre a interação gênica epistática e a pleiotrópica?
2. Em certa espécie de peixe, o alelo E elevado a A, quando em homozigose, confere coloração azul às escamas. Já quando o alelo E elevado a B aparece duplamente, a espécie apresenta coloração amarela. No entanto, em indivíduos de genótipo heterozigoto, é observada uma terceira coloração de escamas: o verde.
a ) Qual é o padrão de dominância observado na coloração das escamas dessa espécie de peixe?
Resposta: O padrão de dominância observado na espécie de peixe citada se refere à dominância incompleta.
b ) Indique os genótipos observados na espécie e seus respectivos fenótipos.
Resposta: E elevado a A E elevado a A confere coloração azul; E elevado a B E elevado a B confere coloração amarela; E elevado a A E elevado a B confere coloração verde.
c ) Em um cruzamento entre indivíduos de coloração verde, qual é a probabilidade de ocorrência de indivíduos com escamas azuis?
Resposta: A proporção genotípica do cruzamento E elevado a A E elevado a B X E elevado a A E elevado a B é de 1 quarto de indivíduos com escamas azuis abre parênteses E elevado a A E elevado a A fecha parênteses, ou seja, 25% de probabilidade.
3. O locus M N codifica um dos diversos tipos de antígenos presentes nas hemácias humanas. Leia o texto a seguir, que aborda os alelos envolvidos na determinação do tipo sanguíneo M N.
[...]
A capacidade de produzir os antígenos M e N é determinada por um gene com dois alelos. Um alelo permite que o antígeno M seja produzido; o outro permite que o antígeno N seja produzido. Os homozigotos para o alelo M [L elevado a M L elevado a M] produzem apenas o antígeno M, e os homozigotos para o alelo N [L elevado a N L elevado a N] produzem apenas o antígeno N. Entretanto, os heterozigotos para estes dois alelos produzem ambos os tipos de antígenos. [...]
SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 68.
Considerando que os dois alelos contribuam de modo independente para o fenótipo dos heterozigotos, a que padrão de dominância se refere o texto?
a ) Dominância incompleta.
b ) Dominância completa.
c ) Alelos letais.
d ) Codominância.
Resposta: Alternativa d.
4. A cor de certo fruto é definida por dois genes, A maiúsculo e C maiúsculo. O alelo A maiúsculo é responsável por determinar a cor alaranjada e o alelo a minúsculo, a cor verde (quando em homozigose). O alelo C maiúsculo, cuja presença condiciona a cor amarela, é epistático em relação aos alelos A maiúsculo e a minúsculo, e o alelo c minúsculo não interfere na expressão dos alelos A maiúsculo e a minúsculo. Com base nessas informações, responda às questões a seguir.
a ) O que é um alelo epistático?
Resposta: É o alelo que se sobrepõe a outro alelo integrante de outro gene e modifica o efeito dele, em um contexto em que dois ou mais genes influenciam uma característica.
b ) Se um agricultor cruzar duas plantas com o genótipo A maiúsculo a minúsculo C maiúsculo c minúsculo e o cruzamento resultar em 400 indivíduos, quantas plantas terão fruto alaranjado, quantas terão fruto amarelo e quantas terão fruto verde? Justifique sua resposta.
Resposta: De todas as plantas, 300 terão frutos amarelos, 75 terão frutos alaranjados e 25 terão frutos verdes, porque a proporção fenotípica observada será de 12 dividido por 3 dividido por 1. Comentários nas Orientações para o professor.
5. Em certa raça de cachorro, a cor do pelo é determinada por dois genes, e as interações entre eles podem resultar em pelagens nas cores preta, amarela e marrom. Sabendo que o alelo A maiúsculo é responsável pela cor preta; o alelo a minúsculo, pela cor marrom; e o alelo b minúsculo, pela cor amarela, sendo este epistático sobre os alelos A maiúsculo e a minúsculo quando em homozigose, responda às questões.
a ) Qual é a proporção fenotípica esperada do cruzamento entre dois animais com o genótipo A maiúsculo a minúsculo B maiúsculo b minúsculo?
b ) Quais são os genótipos e os respectivos fenótipos desse cruzamento?
c ) Qual é o tipo de interação gênica observada nesse cruzamento?
6. Leia o trecho do texto a seguir e responda às questões propostas.
[...] Barbara [McClintock (1902-1992)] foi uma das principais cientistas de nosso tempo e seus trabalhos sobre genética vegetal revolucionaram nossa compreensão do genoma. [...].
[...] Barbara descreveu o primeiro mapa genético do milho e mostrou a importância para a divisão celular das porções terminais dos cromossomos, conhecidas como telômeros (termo cunhado por ela), e de regiões mais condensadas que mantêm as duas cópias duplicadas dos cromossomos unidas (os centrômeros). Além disso, Barbara foi a primeira pessoa – em 1931 – a descrever a ocorrência do mecanismo de recombinação genética ou crossing-over após analisar a meiose do milho.
[...]
BORGES, Jerry Carvalho. Uma mulher extraordinária. Ciência Hoje, Rio de Janeiro, 1o jun. 2007. Disponível em: https://s.livro.pro/duythm. Acesso em: 29 ago. 2024.
a ) Quais contribuições as descobertas da cientista estadunidense Barbara McClintock trouxeram para a humanidade?
b ) Converse com os colegas sobre o papel das mulheres na Ciência.
c ) O que é crossing-over e qual é a importância desse processo para os seres vivos?
Respostas das questões 1, 5 e 6 nas Orientações para o professor.
Página 271
Hereditariedade e cromossomos sexuais
Confira a fotografia a seguir e responda à questão proposta.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
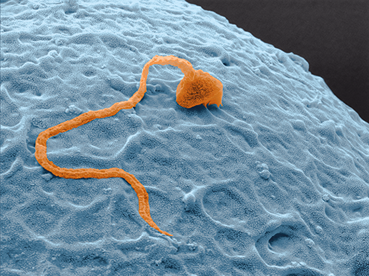
2. Por que as células dos gametas humanos apresentam somente 23 cromossomos, em vez de 46, como as demais células? Qual é a importância dessa diferença?
Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que essa diferença ocorre porque os gametas são formados pela meiose, um tipo de divisão celular reducional, que diminui a quantidade de cromossomos pela metade. Essa diferença é importante para que a quantidade de cromossomos seja mantida após a fecundação, evitando que ela aumente a cada fecundação.
Os cromossomos dos eucariontes são divididos em cromossomos autossomos e sexuais. Em geral, o conjunto de cromossomos nos gametas é haploide abre parênteses n fecha parênteses e nas células somáticas, diploide abre parênteses 2 n fecha parênteses. Com isso, os filhos herdam um cromossomo sexual do gameta feminino e outro do gameta masculino.
Nos seres humanos, existem dois cromossomos sexuais, X e Y. O sexo feminino é homogamético abre parênteses X X fecha parênteses e o sexo masculino, heterogamético abre parênteses X Y fecha parênteses. Durante a meiose, os indivíduos do sexo masculino produzem dois tipos de gameta: um com 22 cromossomos autossomos e o cromossomo sexual X e outro que tem 22 autossomos e o cromossomo sexual Y. Os indivíduos do sexo feminino produzem gametas com 22 autossomos e um cromossomo sexual X.
O genótipo masculino pode ser expresso por 44 mais X Y ou 44 A mais X Y (44 cromossomos autossômicos, um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y). O sexo feminino é expresso como 44 mais X X ou 44 A mais X X (44 cromossomos autossômicos e dois cromossomos sexuais X).
Morfologicamente, os cromossomos sexuais X e Y são diferentes. Confira a seguir.
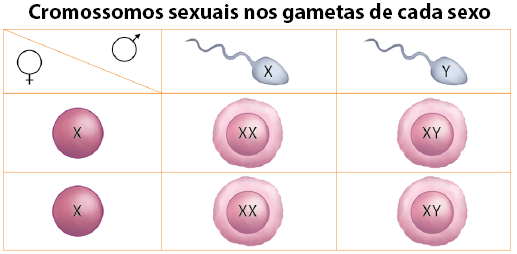
Imagem elaborada com base em: SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 103.
O cromossomo X é maior e o centrômero se localiza mais ao centro dele. Já o cromossomo Y é menor e o centrômero se localiza próximo à extremidade. Parte do material genético dos cromossomos X e Y é homóloga e se situa nas proximidades das regiões terminais, garantindo o emparelhamento durante a divisão celular. As outras partes não são homólogas (região diferencial), sendo responsáveis por diferentes características do ser humano, presentes exclusivamente ou no cromossomo X ou no Y.
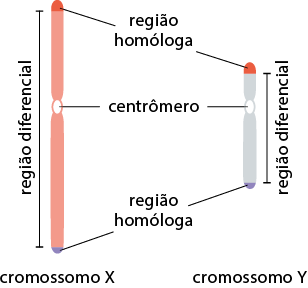
Imagem elaborada com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 52.
Existem centenas de genes presentes nas regiões diferenciais, que, além da definição do sexo, relacionam-se a diversas outras características do ser humano.
Existem características genéticas relacionadas aos cromossomos sexuais, como a herança ligada ao sexo, a herança influenciada pelo sexo e a herança limitada ao sexo. Vamos estudar esse assunto a seguir.
Página 272
Herança ligada ao sexo
Confira as imagens a seguir.
A.
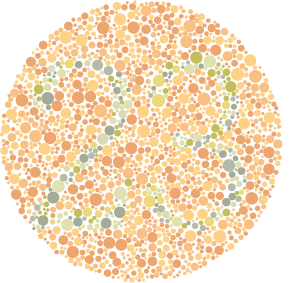
B.
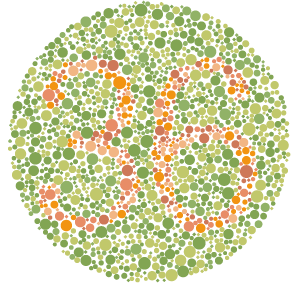
C.
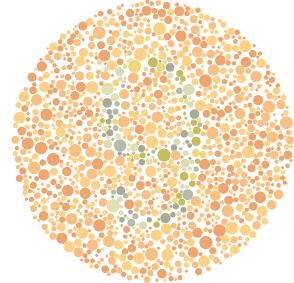
3. Qual número você consegue observar em cada uma das imagens apresentadas (A, B e C)?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes não daltônicos identifiquem, respectivamente, os números 23, 36 e 9 nas imagens A, B e C.
Essas imagens são semelhantes às apresentadas no chamado teste de Ishihara, desenvolvido pelo oftalmologista japonês Shinobu Ishihara (1879-1963). Ele consiste na apresentação de cartões coloridos nos quais há círculos de tamanhos e cores ligeiramente diferentes entre si. Tais círculos formam números, os quais somente podem ser identificados com clareza por pessoas sem daltonismo.
O daltonismo e a hemofilia são exemplos de herança ligada ao sexo. Os genes envolvidos no daltonismo estão presentes no cromossomo X. A pessoa daltônica apresenta alteração em alguma das proteínas presentes nos cones✚, as quais absorvem comprimentos de onda para o azul, o verde e o vermelho dessas proteínas. Assim, esse indivíduo não consegue distinguir algumas cores.
O tipo mais comum de daltonismo é a não distinção entre o verde e o vermelho, o qual é condicionado pelo alelo recessivo d minúsculo, ligado ao sexo, enquanto seu alelo dominante D maiúsculo determina a visão sem daltonismo. Analise o quadro a seguir.
| Sexo | Masculino | Feminino | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Genótipo |
X maiúsculo elevado a D maiúsculo Y maiúsculo |
X maiúsculo elevado a minúsculo d Y maiúsculo |
X maiúsculo elevado a D maiúsculo X elevado a D maiúsculo |
X maiúsculo elevado a D maiúsculo X maiúsculo elevado a d minúsculo |
X maiúsculo elevado a d minúsculo X maiúsculo elevado a d minúsculo |
| Fenótipo |
Sem daltonismo |
Com daltonismo |
Sem daltonismo |
Portadora sem daltonismo |
Com daltonismo |

A hemofilia é outra condição genética ligada ao cromossomo X. Casos dessa doença eram recorrentes em famílias reais europeias, tais como a da rainha Vitória, da Inglaterra, no século XIX.
Segundo estudos, uma mutação espontânea surgiu no gene da rainha, a qual foi transmitida para vários descendentes.
- Cones:
- células presentes na retina responsáveis pela identificação de cores.↰
Página 273
Pessoas com hemofilia podem ter dificuldades na coagulação do sangue, o que resulta em pequenos sangramentos, tanto na pele quanto em órgãos internos, que demoram a cessar. Essa condição é condicionada pelo alelo recessivo h minúsculo, enquanto o alelo dominante H maiúsculo condiciona a coagulação normal.
Tal condição genética segue o mesmo padrão de herança do daltonismo, ou seja, está ligada ao cromossomo sexual X. Analise o quadro a seguir.
| Sexo | Masculino | Feminino | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Genótipo |
X maiúsculo elevado a H maiúsculo Y maiúsculo |
X maiúsculo elevado a h minúsculo Y maiúsculo |
X maiúsculo elevado a H maiúsculo X maiúsculo elevado a H maiúsculo |
X maiúsculo elevado a H maiúsculo X maiúsculo elevado a h minúsculo |
X maiúsculo elevado a h minúsculo X maiúsculo elevado a h minúsculo |
| Fenótipo |
Sem hemofilia |
Com hemofilia |
Sem hemofilia |
Portadora sem hemofilia |
Com hemofilia |
Em casos de herança ligada ao cromossomo X, geralmente os homens têm mais probabilidade de herdar o fenótipo alterado. A explicação para esse fato é que a mulher herdará dois cromossomos X e o homem, somente um. Assim, mesmo condições recessivas, como a hemofilia e o daltonismo, requerem apenas uma cópia do alelo para serem expressas no homem, enquanto nas mulheres são necessárias duas cópias.
Herança influenciada pelo sexo
Algumas condições não são ligadas ao sexo, mas são influenciadas por ele. Entre os exemplos de herança influenciada pelo sexo está um dos genes associados à calvície que se encontra em cromossomo autossomo. Nesse caso, algumas características hormonais e fisiológicas do sexo influenciam essa condição.
Dica
Quando um gene é considerado dominante em um sexo, mas recessivo em outro, diz-se que ele é influenciado pelo sexo.
Se a pessoa tiver alelos homozigotos dominantes, tanto os homens quanto as mulheres serão calvos. Já no caso de os alelos estarem em homozigose recessiva, tanto os homens quanto as mulheres não serão calvos. No entanto, quando esses genes se encontram em heterozigose, os homens serão calvos e as mulheres não.
| Genótipo | Fenótipo do homem | Fenótipo da mulher |
|---|---|---|
|
C maiúsculo C maiúsculo |
Com calvície |
Com calvície |
|
C maiúsculo c |
Com calvície |
Sem calvície |
|
c minúsculo c minúsculo |
Sem calvície |
Sem calvície |
Verificando os dados do quadro, é possível concluir que o mesmo genótipo age de maneira distinta em sexos diferentes, indicando algum tipo de influência causada pelo sexo masculino.
Professor, professora: A calvície é uma condição que pode ser influenciada por mais de um gene, muitos ainda em estudo. Outro gene associado a essa condição, por exemplo, fica localizado no cromossomo X .
Herança limitada pelo sexo
Na herança limitada pelo sexo, um gene está presente nos cromossomos autossômicos, mas a expressão de seu fenótipo é influenciada pela presença ou não de um dos hormônios sexuais. As células responsáveis pela produção do leite, por exemplo, estão presentes em homens e mulheres, mas somente realizam esse papel nas mulheres, influenciadas pela ação dos hormônios femininos.
A herança holândrica ou herança ligada ao Y permite a transmissão do gene S R Y, responsável por grande parte da determinação do sexo masculino. Os alelos dos genes presentes na região diferencial do cromossomo Y são transmitidos diretamente do pai para seus filhos do sexo masculino.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 52.
Página 274
Alterações genéticas
Como estudamos anteriormente, diversos agentes, como as radiações ionizantes, podem causar alterações no material genético e, consequentemente, nos cromossomos. Algumas dessas transformações prejudicam a estrutura dos cromossomos, enquanto outras modificam a quantidade deles nas células.
As alterações cromossômicas numéricas podem ser de dois tipos principais: as poliploidias e as aneuploidias.
Professor, professora: Se considerar pertinente, ao abordar as alterações genéticas, relembre com os estudantes as alterações estruturais cromossômicas, estudadas anteriormente.
Poliploidia e aneuploidia
A poliploidia se refere à presença de conjuntos extras de cromossomos (genomas inteiros). Esse tipo de alteração é muito comum em plantas e em outras espécies que apresentam reprodução assexuada. Em animais, casos de poliploidia são raros.
Muitas das plantas cultivadas são poliploides, como o morangueiro. Existem várias espécies do gênero Fragaria, as quais podem ser diploides abre parênteses 2 n fecha parênteses, tetraploides abre parênteses 4 n fecha parênteses, octoploides abre parênteses 8 n fecha parênteses e decaploides abre parênteses 10 n fecha parênteses.
Morangueiro (Fragaria sp.): aproximadamente 30 centímetros de altura.

A aneuploidia se refere à alteração na quantidade de cromossomos no cariótipo de um indivíduo. Isso pode se referir à perda de um cromossomo ou à presença de um cromossomo a mais no genoma. A seguir, vamos conhecer alguns exemplos de aneuploidias humanas.
- A síndrome de Turner abre parênteses 45 vírgula X fecha parênteses é uma monossomia, condição na qual ocorre a falta de um cromossomo no genoma. As pessoas com essa síndrome não têm um cromossomo X e o fenótipo é feminino, porém são estéreis, já que os ovários são atrofiados. Em geral, pessoas com essa síndrome apresentam estatura baixa, pescoço alado, deficiências auditivas e anomalias no sistema circulatório.
- Na síndrome de Klinefelter abre parênteses 47 vírgula X X Y fecha parênteses, ocorre a presença de um cromossomo sexual X a mais no genótipo masculino. A pessoa com essa síndrome é um indivíduo do sexo masculino, geralmente estéril, de estatura elevada, com testículos pouco desenvolvidos, pelos reduzidos na região pubiana e na face, desenvolvimento das mamas, entre outras características.
- A síndrome do triplo X abre parênteses 47 vírgula X X X fecha parênteses se caracteriza pela presença de um cromossomo X a mais no genótipo feminino. Nela, dois dos três cromossomos X presentes nas células são inativados. Geralmente, mulheres com essa síndrome não apresentam alterações em seus fenótipos, mas podem ter casos de comprometimento mental discreto ou de fertilidade reduzida.
- A síndrome do duplo Y abre parênteses 47 vírgula X Y Y fecha parênteses é provavelmente resultado de um evento na meiose II da espermatogênese, no qual um dos espermatozoides formados tem genótipo Y Y. Homens com essa síndrome geralmente são férteis. Além disso, não existem estudos que comprovem a maior incidência dela em seus descendentes, pois o Y a mais não se pareia com outro cromossomo na meiose e, por isso, não é transmitido aos gametas.
- A síndrome de Down abre parênteses 47 vírgula mais 21 fecha parênteses se caracteriza pela presença de um cromossomo autossômico 21 a mais. Por isso, é também conhecida como trissomia do 21. Durante a meiose, ocorre uma não disjunção cromossômica, isto é, não há separação adequada dos cromossomos. Essa alteração pode ocorrer durante a meiose da espermatogênese ou da ovogênese.
Professor, professora: Se julgar pertinente, comente com os estudantes que na espécie humana o sexo é determinado pela presença ou pela ausência do cromossomo Y .
Compartilhe ideias
O preconceito e o desconhecimento sobre a síndrome de Down são fatores que, muitas vezes, dificultam o desenvolvimento social de pessoas com essas características.
a ) Faça uma pesquisa a respeito do Estatuto das Pessoas com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Em seguida, organize com os colegas uma roda de conversa sobre esse documento.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a analisar documentos oficiais sobre assuntos de importância social, como a inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho.
Página 275
Confira a seguir as possíveis não disjunções (1 e 2) que podem originar a síndrome de Down.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
1.
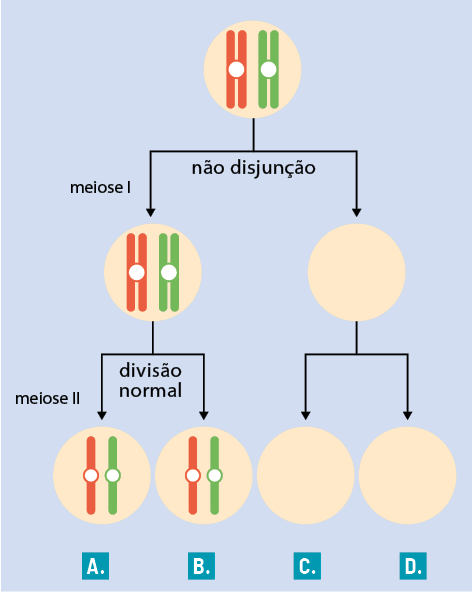
Nessa possibilidade de formação de aneuploidia (1), a não disjunção ocorre durante a meiose I. Dos quatro gametas formados, A e B contêm dois cromossomos 21, enquanto os gametas C e D não os apresentam.
2.
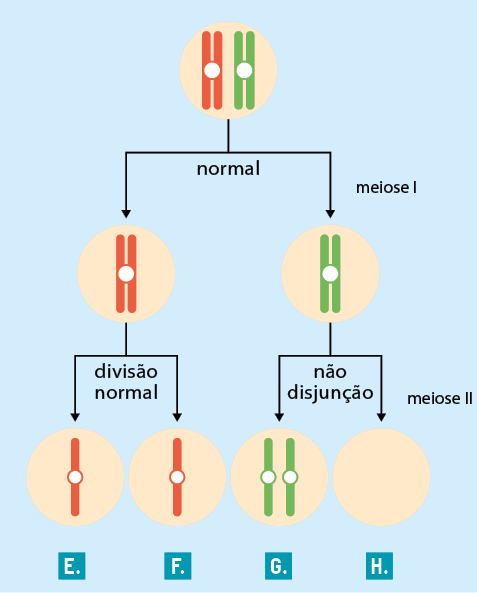
Na possibilidade 2, a não disjunção ocorre na meiose II e são formados dois gametas sem alterações (E e F) e dois gametas alterados. Nesse caso, o gameta G, contendo duas cópias do cromossomo 21, e o gameta H, sem cromossomos.
Imagens elaboradas com base em: SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 120.
Na união dos gametas A, B e G com outros sem alterações, pode ser formado um zigoto com trissomia do 21, dependendo da combinação.
As pessoas com síndrome de Down apresentam algumas características específicas, como estatura baixa, face alargada, língua espessa e mãos pequenas e com apenas um vinco nas palmas.
Em muitos casos, essas pessoas têm o desenvolvimento e a aprendizagem mais lentos, mas isso não significa que sejam incapazes de aprender. Muitas delas estão inseridas com sucesso no mercado de trabalho.


Página 276
CONEXÕES com ... SOCIOLOGIA
Capacitismo
Confira a tirinha a seguir.

BECK, Alexandre. Armandinho Quatro. Florianópolis: Alexandre Beck, 2015. p. 73.
a ) Você imaginava que o motivo de Armandinho não querer jogar com o colega era o que se revela ao final da tirinha? Explique.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a interpretar a tirinha. Espera-se que eles percebam que Armandinho não quer brincar com o colega por ele jogar muito bem.
Se você é ou conhece uma pessoa com deficiência, provavelmente já ouviu alguma situação na qual as habilidades dela para determinadas tarefas foram subestimadas. Nem sempre essa atitude é intencional por parte de quem a pratica, mas os padrões construídos sobre quem desempenha certas atividades estão tão cristalizados na sociedade que, infelizmente, não é incomum alguém não acreditar que um menino em cadeira de rodas possa ser um bom jogador de basquete, como consta na tirinha.
Essa postura faz parte do que chamamos de capacitismo, que é a discriminação contra pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) determina que discriminar uma pessoa em função da sua deficiência é crime. No entanto, tal discriminação pode estar relacionada a fatores que vão além de uma atitude individual discriminatória.
O capacitismo se relaciona às formas de tratamento e comunicação ou às barreiras estruturais que impedem o pleno exercício da cidadania, presumindo que uma pessoa seja incapaz de algo por ter uma deficiência física ou intelectual.
A surpresa diante de fatos como uma pessoa sem braços vencer uma prova de natação, alguém com síndrome de Down pintar belos quadros ou um surdo reger uma orquestra diz mais sobre as limitações de quem se surpreende do que sobre a superação dos envolvidos.
É preciso reconhecer que pessoas com deficiência são diversas e podem ter habilidades e dificuldades em determinadas áreas como qualquer um. No entanto, isso não significa que não devemos cobrar de autoridades e instituições que ofereçam condições de acessibilidade e inclusão para que essas pessoas tenham a chance de desenvolver seus potenciais em plenitude. Embora a lei mencionada anteriormente e muitas outras garantam direitos importantes a essa população, como cotas em concursos públicos e diretrizes de acessibilidade para construções, transportes e produtos de comunicação, ainda há muito a ser feito para que esses direitos sejam garantidos. É possível afirmar, por exemplo, que pessoas com deficiência têm menos oportunidades de trabalho e mais dificuldades de acessar ou concluir níveis de escolaridade do que pessoas sem deficiência. Se pensarmos em pessoas negras, indígenas ou de condições socioeconômicas precárias, essas barreiras são ainda mais difíceis de transpor.
Uma postura anticapacitista envolve não somente um olhar mais cuidadoso para atitudes individuais, mas busca o rompimento de estereótipos e padrões físicos e intelectuais socialmente construídos e luta por espaços que garantam a acessibilidade e a inclusão social de todas as pessoas.
b ) Você é ou conhece uma pessoa com deficiência? Converse com os colegas sobre as potencialidades dessa pessoa.
Resposta pessoal. O objetivo é fazer os estudantes perceberem que, apesar de alguma limitação física ou intelectual, pessoas com deficiência podem desenvolver inúmeras e diferentes habilidades. Caso eles não conheçam pessoalmente, peça-lhes que mencionem alguma personalidade famosa ou algum personagem de filme ou série.
c ) Você conhece alguma pessoa famosa com deficiência ou que se destacou publicamente pelo seu trabalho? Faça uma pesquisa e indique a área em que elas atuaram.
Resposta pessoal. É possível que os estudantes mencionem personalidades como o maestro Beethoven, o físico Stephen Hawking, o nadador Gabrielzinho, a pintora Frida Kahlo, os músicos Ray Charles e Stevie Wonder, o apresentador Fernando Fernandes, os atores Breno Viola e Joana Mocarzel, entre outras.
Página 277
ATIVIDADES
1. Por que homens apresentam maior probabilidade de apresentarem o fenótipo alterado quando a característica está ligada ao cromossomo X?
2. O heredograma A representa uma família em que há ocorrência de daltonismo, um tipo de herança ligada ao sexo e condicionada pelo alelo recessivo d minúsculo.
Sabe-se que a progenitora apresenta alteração na percepção das cores, enquanto o seu cônjuge não tem daltonismo. Sendo assim, identifique a afirmativa correta.
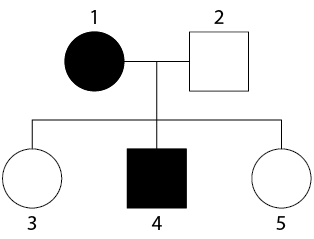
a ) O indivíduo 1 apresenta genótipo X maiúsculo elevado a D maiúsculo X maiúsculo elevado a d minúsculo, conferindo a condição de daltonismo com apenas um alelo para a característica.
b ) O indivíduo 2 apresenta, obrigatoriamente, o genótipo X maiúsculo elevado a d minúsculo Y maiúsculo, não manifestando a condição, mas sendo portador do alelo.
c ) Não é possível afirmar se as duas filhas do casal, representadas pelos indivíduos 3 e 5, têm daltonismo ou não.
d ) Todos os filhos do sexo masculino deste casal terão, obrigatoriamente, genótipo X maiúsculo elevado a D maiúsculo Y maiúsculo, não tendo daltonismo.
e ) Todas as filhas do casal terão, obrigatoriamente, genótipo heterozigoto para a condição genética, ou seja, X maiúsculo elevado a D maiúsculo X maiúsculo elevado a d minúsculo.
Resposta: Alternativa e.
3. Sobre aneuploidias, responda às questões.
a ) O que são?
b ) Como são formadas?
c ) Cite um exemplo.
Respostas das questões 1 e 3 nas Orientações para o professor.
4. A calvície é uma característica fenotípica que pode estar relacionada a um tipo de herança influenciada pelo sexo. Nesse caso, o gene se localiza em cromossomo autossomo e se expressa de maneiras diferentes no sexo masculino e no sexo feminino.
Considerando essas informações e os filhos gerados por um homem sem calvície e uma mulher com calvície, responda às questões a seguir.
a ) É possível determinar o genótipo desses dois genitores considerando suas características fenotípicas? Justifique sua resposta.
Resposta: Sim, é possível determinar ambos os genótipos. Homens sem calvície apresentam genótipo homozigoto recessivo c minúsculo c minúsculo; mulheres com calvície apresentam genótipo homozigoto dominante C maiúsculo C maiúsculo.
b ) Qual é a probabilidade de os indivíduos do sexo masculino gerados por esse casal não apresentarem fenótipo de calvície?
Resposta: Por meio do cruzamento c minúsculo c minúsculo vezes C maiúsculo C maiúsculo, todos os indivíduos gerados serão heterozigotos abre parênteses C maiúsculo c minúsculo fecha parênteses. Sendo assim, a probabilidade de indivíduos do sexo masculino gerados por esse casal não apresentar calvície é de 0%, já que homens com genótipo C maiúsculo c minúsculo apresentam calvície.
5. Sobre a síndrome de Down, escreva no caderno a alternativa correta.
a ) A síndrome de Down é originada pela não disjunção que ocorre somente na meiose I.
b ) A síndrome de Down também é conhecida como trissomia do cromossomo 13.
c ) A síndrome de Down é um tipo de poliploidia.
d ) A síndrome de Down pode ser originada pela não disjunção na meiose II, em que serão formados dois gametas sem alteração e dois alterados.
e ) A síndrome de Down pode ser originada pela não disjunção na meiose I, em que será formado um gameta contendo duas cópias do cromossomo 21.
Resposta: Alternativa d.
6. Avalie as afirmativas a seguir como corretas ou incorretas.
I ) A hemofilia é uma condição genética influenciada pelo sexo.
II ) Por ser uma condição genética recessiva e ligada ao cromossomo X, a hemofilia é mais comum entre os homens do que entre as mulheres.
III ) Todos os descendentes de um casal cuja mãe tenha hemofilia e o pai não apresente essa condição terão hemofilia.
IV ) A hemofilia é uma condição genética que leva à ausência de uma proteína necessária à coagulação sanguínea.
Identifique a alternativa que contém as afirmações corretas.
a ) I e IV.
b ) I e III.
c ) II e IV.
d ) II, III e IV.
e ) II e III.
Resposta: Alternativa c.
Página 278
7. As imagens a seguir apresentam os cariótipos de duas pessoas, com seus cromossomos sexuais e autossomos. Analise-as cuidadosamente e responda às perguntas.
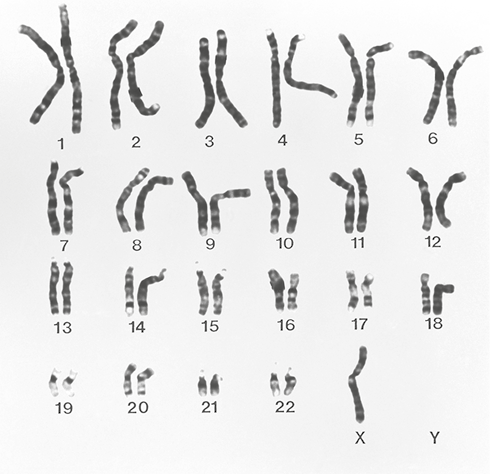
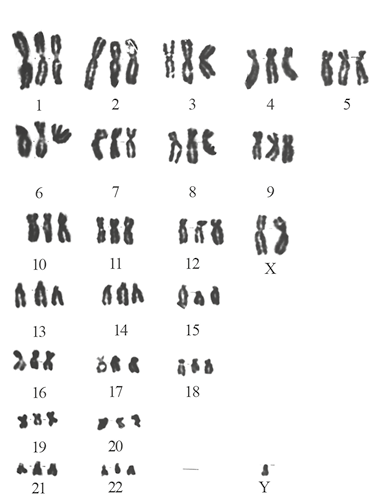
a ) O cariótipo A evidencia um caso de poliploidia ou de aneuploidia? Justifique sua resposta.
Resposta: O cariótipo A representa um caso de aneuploidia, já que há perda de um cromossomo sexual.
b ) Qual é o nome da síndrome evidenciada pelo cariótipo A e quais características essa alteração cromossômica confere?
Resposta: O cariótipo A representa um caso de síndrome de Turner abre parênteses 45 vírgula X fecha parênteses. Pessoas com essa alteração cromossômica apresentam ovários atrofiados, estatura baixa, deficiências auditivas e disfunções no sistema cardiovascular.
c ) Explique como pode ocorrer a alteração cromossômica apresentada no cariótipo A.
Resposta: As aneuploidias estão relacionadas a casos de não disjunções dos cromossomos durante a gametogênese, podendo ocorrer tanto na meiose I quanto na meiose II. Como resultado, são formados gametas sem determinados cromossomos ou com cromossomos duplicados.
d ) Com relação ao cariótipo B, podemos afirmar que se trata de um caso de poliploidia ou de aneuploidia? Justifique sua resposta.
Resposta: O cariótipo B representa um caso raro de poliploidia em que é possível verificar que todos os cromossomos do indivíduo estão triplicados (total de 69 cromossomos). Trata-se de um caso de triploidia abre parênteses 3 n fecha parênteses.
RETOME O QUE ESTUDOU
Refletindo sobre o que estudou nesta unidade, responda às questões a seguir.
1. Elabore um texto sobre os impactos positivos e negativos da construção de usinas elétricas, considerando as questões econômicas, sociais, ambientais e culturais.
2. Organizem a sala de aula em dois grupos. Um deles deverá citar os benefícios da aplicação da radiação ionizante e o outro, os malefícios relacionados a esse tipo de radiação.
3. No período de um minuto, escreva em um pedaço de papel o que é transcrição e tradução. Compare suas definições com as de um colega e, depois, se julgar necessário, complemente-as.
4. Analise a afirmação a seguir e elabore um esquema explicativo, justificando-a com base no que foi estudado: "Uma característica determinada geneticamente se manifesta no fenótipo por intermédio unicamente da molécula de DNA".
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
4. Analise a afirmação a seguir e explique-a oralmente aos colegas com base no que foi estudado: "Uma característica determinada geneticamente se manifesta no fenótipo por intermédio unicamente da molécula de DNA".
Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir sobre a tradução da informação genética, presente na molécula de DNA, em proteínas. Espera-se que reconheçam que essa manifestação depende também da participação do RNA, que atua na transcrição do DNA e auxilia em sua tradução. É esperado que os estudantes incluam em seus esquemas informações a respeito da transcrição e da tradução do DNA, envolvendo os diferentes tipos de RNA (RNAm, RNAt e RNAr). Aproveite o momento para avaliar a aprendizagem deles sobre o assunto.
5. Em uma folha de papel, elabore um heredograma relativo a alguma doença determinada geneticamente, inserindo apenas alguns dos genótipos dos membros da família e informando se a característica é do tipo autossômica dominante ou recessiva. Elabore também uma questão sobre um cruzamento envolvendo membros desse heredograma.
Professor, professora: Solicite aos estudantes que, após realizarem a questão 5, troquem a folha com a de um colega, a fim de descobrir o genótipo dos demais membros da família e resolver a questão do cruzamento teste.
Respostas nas Orientações para o professor.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
5. Em uma folha de papel, descreva um heredograma relativo a alguma doença determinada geneticamente, identificando alguns dos genótipos dos membros da família e informando se a característica é do tipo autossômica dominante ou recessiva. Elabore também uma questão sobre um cruzamento envolvendo membros desse heredograma.
Resposta pessoal. A resposta depende do heredograma e da questão elaborada pelos estudantes. Auxilie-os caso tenham dificuldade para resolver os problemas propostos e avalie a aprendizagem deles sobre o conteúdo, retomando-o, se necessário.
Orientação para acessibilidade
Professor, professora: Oriente o estudante não vidente a descrever detalhadamente cada uma das linhas do heredograma proposto por ele. O estudante deve descrever, por exemplo, os símbolos utilizados e os genótipos de cada um deles, citar as linhas que partem de cada um desses símbolos e quais são os provenientes deles (prole), com as devidas especificações genotípicas.
Página 279
MAIS QUESTÕES
1. (UFGD-MS) [...] a matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar os carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica [...]. A matriz energética do Brasil é muito diferente da mundial. Por aqui, apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que o de renováveis, usamos mais fontes renováveis que no resto do mundo [...].
Disponível em: https://s.livro.pro/HuVw2W. Acesso em: 19 out. 2022 (fragmento).
Acerca das diversas matrizes disponíveis para produção de energia elétrica, é correto afirmar que
a ) as usinas hidrelétricas são consideradas fontes energéticas limpas, pois sua construção e operação não causam impactos socioambientais.
b ) as usinas nucleares operam a partir da queima de carvão vegetal, por isso são altamente poluentes.
c ) a construção de usinas hidrelétricas pode causar impactos socioambientais como a destruição de vegetação natural, o assoreamento do leito dos rios, a desterritorialização de povos tradicionais e a extinção de espécies de peixes.
d ) as usinas termelétricas funcionam a partir da queima de combustíveis, produzindo assim a energia mais limpa atualmente disponível. Tendo isso em vista, a legislação ambiental brasileira incentiva a construção desse tipo de usina.
e ) a energia solar é considerada uma matriz energética limpa, porém, por razões climáticas, o potencial energético solar brasileiro é considerado baixo, tornando a utilização desse tipo de energia muito ineficiente no país.
Resposta: Alternativa c.
2. (Fuvest-SP) "O Quim disse-me também que as feridas do Cão Tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica [...] O Quim disse-me isso de o Cão Tinhoso ser muito velho quando um dia o vimos a bocejar sem dentes na boca. Foi nesse dia que me contou a história da bomba atômica com os japoneses pequeninos a morrer todos que era uma beleza e o Cão Tinhoso a fugir depois de ela rebentar e a correr uma distância monstra para não morrer."
Luís Bernardo Honwana. Nós matamos o Cão Tinhoso!.
A radiação ionizante, resultante da explosão da bomba atômica, é capaz de provocar feridas na pele iguais às do Cão Tinhoso, que são consequências de
a ) mutações no DNA das células epiteliais, o que pode alterar seu ciclo celular.
b ) alterações no DNA mitocondrial que levam à redução do metabolismo celular.
c ) ativação dos processos de reparo do DNA e bloqueio da diferenciação celular.
d ) aumento da divisão meiótica decorrente do processo de crossing-over.
e ) processos de evolução desencadeados por mutações aleatórias.
Resposta: Alternativa a.
3. (UEPG-PR) Os ácidos nucleicos são essenciais para o funcionamento da célula e, portanto, essenciais para a vida. Sobre essas moléculas, assinale o que for correto.
01 ) A sequência das bases nitrogenadas da região codificadora do DNA determina a sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica.
02 ) O RNAt transporta aminoácidos até o local da síntese de proteínas.
04 ) A sequência de bases do RNAr é transcrita a partir do código do RNAm.
08 ) Tanto o DNA como o RNA são formados por nucleotídeos.
Resposta: Soma: 01 mais 0 2 mais 0 8 é igual a 11
4. (Uece) Considerando as leis de Mendel e alguns conceitos básicos de genética, analise as seguintes proposições:
I ) A lei da segregação dos fatores determina que uma característica se segrega durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta contenha apenas um fator, por isso, os gametas são puros em relação a cada um dos fatores.
II ) Dois indivíduos que tenham o mesmo genótipo podem apresentar diferenças fenotípicas.
III ) Denominam-se homozigoto dominante quando os dois alelos são dominantes, homozigoto recessivo quando os dois alelos são recessivos e heterozigoto quando um alelo é dominante e o outro é recessivo.
IV ) A cor da ervilha é um exemplo de dominância completa onde o alelo V determina a cor amarela e v a cor verde. Assim, a probabilidade de indivíduos heterozigotos originarem sementes amarelas é de 25%.
É correto o que se afirma em
a ) I, II e IV apenas.
b ) III e IV apenas.
c ) I, II e III apenas.
d ) I, II, III e IV.
Resposta: Alternativa c.
Página 280
5. (Enem/MEC) Os raios X utilizados para diagnósticos médicos são uma radiação ionizante. O efeito das radiações ionizantes em um indivíduo depende basicamente da dose absorvida, do tempo de exposição e da forma da exposição, conforme relacionados no quadro.
| Forma | Dose absorvida | Sintomatologia |
|---|---|---|
|
Infraclínica |
Menor que 1 joule por quilograma |
Ausência de sintomas |
|
Reações gerais leves |
de 1 a 2 joules por quilograma |
Astenia, náuseas e vômito, de 3 horas a 6 horas após a exposição |
|
D L subscrito 50 |
de 4 a 4 vírgula 5 joules por quilograma |
Morte de 50% dos indivíduos irradiados |
|
Pulmonar |
de 8 a 9 joules por quilograma |
Insuficiência respiratória aguda, coma e morte, de 14 horas a 36 horas |
|
Cerebral |
Maior que 10 joules por quilograma |
Morte em poucas horas |
Disponível em: https://s.livro.pro/lop7mm. Acesso em: 3 set. 2012 (adaptado).
Para um técnico radiologista de 90 quilogramas que ficou exposto, por descuido, durante 5 horas a uma fonte de raios X, cuja potência é de 10 milijoules por segundo, a forma do sintoma apresentado, considerando que toda radiação incidente foi absorvida, é
a ) D L subscrito 50.
b ) cerebral.
c ) pulmonar.
d ) infraclínica.
e ) reações gerais leves.
Resposta: Alternativa e. Resolução e comentários nas Orientações para o professor.
6. (Unicentro-PR) A função primordial das moléculas de RNA é participar da síntese de proteínas, por via dos RNA mensageiro, transportador e ribossômico.
Com base nos conhecimentos sobre os tipos de RNA, considere as afirmativas a seguir.
I ) Uma forte evidência do parentesco evolutivo entre as diversas espécies biológicas é a de que o código genético é universal.
II ) A síntese de um polipeptídio inicia-se com a associação entre um ribossomo, um RNAm e o RNAt,
que transporta o aminoácido metionina.
III ) A codificação para a proteína está originalmente determinada na sequência de anticódons do DNA,
que transcreve a instrução para o RNA ribossômico.
IV ) O RNA ribossômico é o portador da instrução para a sequência de proteínas que caracterizam o aminoácido, também chamada de cadeia polipeptídica.
Assinale a alternativa correta.
a ) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b ) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c ) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Resposta: Alternativa a.
7. (UEM-PR) Considere cruzamentos genéticos em que estejam envolvidos dois caracteres (genes) com segregação independente, de acordo com a Segunda Lei de Mendel, e assinale o que for correto.
01 ) Do cruzamento entre parentais duplo homozigoto dominantes com duplo homozigoto recessivos esperam-se 100% de descendentes com fenótipo igual ao parental dominante.
02 ) Do cruzamento entre parentais duplo homozigoto dominantes e duplo homozigoto recessivos esperam-se 50% de descendentes com o genótipo igual ao parental dominante.
04 ) Do cruzamento entre parentais duplo heterozigoto esperam-se na descendência quatro fenótipos diferentes.
08 ) Do cruzamento entre parentais duplo heterozigoto esperam-se na descendência dezesseis genótipos diferentes.
16 ) Um parental duplo heterozigoto formará oito tipos de gametas geneticamente diferentes.
Resposta: Soma: 01 mais 0 4 é igual a 0 5
Página 281
8. (Unicamp-SP) A doença de Huntington, que é progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, compromete significativamente a capacidade motora e cognitiva.
O heredograma a seguir representa o padrão de herança entre os indivíduos, sendo os indivíduos doentes representados em preto, e os indivíduos não doentes, em branco. Homens são representados pelos quadrados e mulheres, pelos círculos.
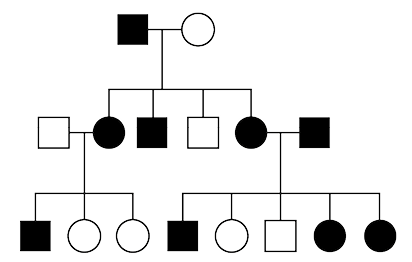
Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a doença de Huntington
a ) é herdada de forma autossômica dominante.
b ) é herdada de forma autossômica recessiva.
c ) apresenta herança ligada ao cromossomo X.
d ) apresenta herança ligada ao cromossomo Y.
Resposta: Alternativa a.
9. (Enem/MEC)
Pais com síndrome de Down
A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21, ou seja, o indivíduo possui três cromossomos 21 e não um par, como é normal. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de dois cromossomos 21. Embora, normalmente, as mulheres com a síndrome sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz uma menina sem a síndrome de Down.
MORENO, T. Três anos após dar à luz, mãe portadora de síndrome de Down revela detalhes de seu dia a dia. Disponível em: https://s.livro.pro/l4tzfy. Acesso em: 31 out. 2013 (adaptado).
Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, procura um médico especialista para aconselhamento genético porque querem ter um bebê.
O médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão
a ) todos normais.
b ) todos tetrassômicos.
c ) apenas normais ou tetrassômicos.
d ) apenas trissômicos ou tetrassômicos.
e ) normais, trissômicos ou tetrassômicos.
Resposta: Alternativa e.
10. (Unesp) Os alelos responsáveis pela determinação genética dos antígenos do sistema sanguíneo A B O estão localizados em um lócus do cromossomo 9. Já o gene para um tipo de daltonismo está localizado em uma região específica do cromossomo sexual X. A imagem a seguir ilustra os dois pares de cromossomos de uma mulher que estão relacionados aos referidos genes.
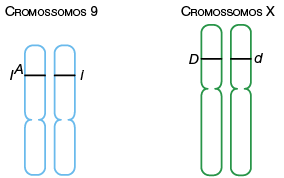
Caso essa mulher se case com um homem do grupo sanguíneo O e não daltônico, a probabilidade de gerarem
a ) um menino daltônico e do grupo sanguíneo O é 75%.
b ) uma criança daltônica é 25%.
c ) uma menina do grupo sanguíneo A é 50%.
d ) uma criança do grupo sanguíneo O é zero.
e ) uma menina daltônica e do grupo sanguíneo A é 25%.
Resposta: Alternativa b. Resolução nas Orientações para o professor.
11. (UEM-PR) Assinale o que for correto.
01 ) Em um caso de herança ligada ao sexo, a probabilidade de formação de descendentes homozigotos é de 25%.
02 ) Em um caso de dois genes com interação gênica e segregação independente, a probabilidade de formação de descendentes duplo homozigotos a partir de parentais duplo heterozigotos é de 25%.
04 ) Em um caso de dois genes com segregação independente, a probabilidade de formação de descendentes duplo homozigotos a partir de parentais duplo heterozigotos é de 25%.
08 ) Em um caso de dominância incompleta para uma única característica, a probabilidade de formação de descendentes homozigotos a partir de parentais heterozigotos é de 50%.
16 ) Em um caso de dominância completa para uma única característica, a probabilidade de formação de descendentes homozigotos a partir de parentais heterozigotos é de 50%.
Resposta: Soma: 02 mais 0 4 mais 0 8 mais 16 é igual a 30. Resolução nas Orientações para o professor.