Página 144
UNIDADE 3
VIDA: FLUXO DE MATÉRIA E ENERGIA
As luzes azuis na água podem até parecer efeitos especiais, mas são, na verdade, um fenômeno natural resultante da proliferação de organismos dinoflagelados com capacidade bioluminescente, isto é, de gerar e emitir luz. Tal fenômeno ocorre predominantemente em ambientes marinhos e pode ser observado em diferentes seres vivos, como os que compõem o plâncton, algumas bactérias, certos invertebrados e alguns órgãos específicos de certos vertebrados.
A bioluminescência resulta de uma reação química que envolve a transformação da substância luciferina pela enzima luciferase. Nessa reação, os organismos transformam energia química em energia luminosa.
a ) Os dinoflagelados Noctiluca scintillans não realizam fotossíntese. Como eles obtêm a energia de que necessitam para a bioluminescência? Explique.
b ) Podemos afirmar que os seres vivos com capacidade bioluminescente interagem energeticamente com o ambiente? Explique.
c ) A quantidade de energia no sistema biológico Noctiluca scintillans é a mesma antes e após a reação de bioluminescência? Justifique sua resposta.
Respostas nas Orientações para o professor.
Nesta unidade, vamos estudar...
- fotossíntese;
- respiração celular;
- fermentação;
- cadeia alimentar;
- teia alimentar;
- fluxo de energia nos sistemas ecológicos;
- pirâmides ecológicas;
- ciclos biogeoquímicos;
- o ser humano e os ciclos biogeoquímicos.
Página 145

Página 146
CAPÍTULO8
Energia e sistemas ecológicos
Sol
Desde a revolução agrícola, iniciada há cerca de 12 mil anos, muitas culturas passaram a acompanhar o ciclo solar e sua influência na Terra e nas plantações. Construções foram elaboradas para demarcar com precisão, por exemplo, a posição aparente do Sol no céu e a mudança de estações. Por exemplo, no município de Calçoene, estado do Amapá, há um monumento de rochas, construído por indígenas que habitavam a região. Há mais de mil anos essa estrutura favorecia a observação do solstício de inverno, fenômeno que marca o início dessa estação e das chuvas na região.

Professor, professora: Ao citar o solstício de inverno, se considerar pertinente, explique aos estudantes do que se trata esse fenômeno. Mais informações nas Orientações para o professor.
Conforme estudado anteriormente, o Sol é essencial para a vida na Terra, mas não é o único fator importante para as formas de vida. A seguir, estudaremos como os seres vivos podem utilizar a energia solar para atividades celulares, crescimento e desenvolvimento e sua atuação como sistemas biológicos transformadores de energia.
Seres vivos como transformadores de energia
Para iniciarmos o estudo dos seres vivos como transformadores de energia, responda às questões a seguir.
1. Cite duas formas de energia presentes em seu dia a dia.
Resposta pessoal. Os estudantes podem citar energias térmica, mecânica, química, luminosa, cinética, entre outras.
2. O que você entende por transformação de energia? Exemplifique.
Resposta pessoal. Os estudantes podem responder que a transformação de energia ocorre quando um tipo de energia é convertido em outro, como o movimento da água gerando energia elétrica.
Em nosso dia a dia, usamos o termo energia para nos referir a diferentes situações. Provavelmente, você o associa à eletricidade ou à lâmpada elétrica, que ilumina artificialmente os ambientes. Isso está correto, mas a energia está presente em diversas outras situações, inclusive nas que envolvem os seres vivos.
Para um ser vivo crescer, desenvolver-se, reproduzir-se e executar diferentes movimentos, como caminhar, correr, voar e nadar, é necessário que haja energia e suas transformações.
Existem diferentes tipos de energia, como a luminosa, a química, a cinética, a mecânica e a térmica. Tais energias são constantemente transformadas no ambiente e nos seres vivos, não podendo ser criadas nem destruídas.
Página 147
3. Analise as situações a seguir e converse com um colega sobre os tipos de energia e as transformações energéticas que podem ser relacionadas com as situações representadas nas imagens.
Resposta: Na situação A, é possível perceber a fotossíntese, que transforma energia luminosa em energia química; na situação B, a prática de atividade física (jogar vôlei) envolve a transformação de energia química em energias mecânica e térmica, por exemplo.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
A.

B.

Na situação A, a energia luminosa proveniente do Sol é captada pela clorofila existente na planta e utilizada na fotossíntese. Nesse processo, a energia luminosa é transformada em energia química, presente nas ligações químicas das moléculas orgânicas formadas, como a glicose abre parênteses C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 fecha parênteses e o amido abre parênteses C subscrito 6 H subscrito 10 O subscrito 5 fecha parênteses subscrito n. Parte do carboidrato abre parênteses C H subscrito 2 O fecha parênteses subscrito n produzido pela fotossíntese é incorporado aos tecidos vegetais, como os frutos. Ao se alimentar dos frutos, a pessoa ingere esses carboidratos, que após a digestão são convertidos, na presença de gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses, em outro tipo de energia química utilizável pela célula.
Já na situação B, durante a atividade física a energia química resultante da transformação do carboidrato é convertida em energia mecânica, possibilitando a execução de diversos movimentos, como jogar bola. Parte da energia mecânica que move os músculos é convertida em energia térmica (calor), que é dissipada no ambiente.
As transformações de energia que ocorrem nos seres vivos envolvem diferentes processos energéticos. A seguir, estudaremos esse assunto.
Processos energéticos nos seres vivos
A respiração celular é um dos processos de transformação energética que ocorre nas células dos seres vivos, como animais e plantas, na presença de gás oxigênio. Esse processo resulta na transferência da energia contida nas ligações químicas das moléculas orgânicas para ligações químicas de moléculas de adenosina trifosfato (ATP). Essa transferência de energia também ocorre em alguns fungos e bactérias, sem necessidade de gás oxigênio, em um processo chamado fermentação.
As transformações de energia que ocorrem nos seres vivos compõem o metabolismo, que pode ser dividido em anabolismo e catabolismo. De modo geral, no primeiro, as reações químicas produzem moléculas complexas com base em moléculas simples, absorvendo energia. Já no segundo, as reações químicas decompõem moléculas mais complexas em moléculas mais simples, liberando energia.
A transferência de energia que ocorre nas reações metabólicas é altamente organizada e regulada pelas células. Esse controle é exercido principalmente por enzimas e coenzimas✚, que determinam a quantidade necessária de energia a ser utilizada em cada processo. A energia química liberada na degradação de moléculas da glicose, por exemplo, é armazenada temporariamente em moléculas carreadoras, as quais apresentam ligações químicas ricas em energia e podem ser transportadas rapidamente pela célula, transferindo sua energia para as reações químicas.
Entre as moléculas que participam dos processos energéticos nos seres vivos, podemos citar: ATP (adenosina trifosfato), ADP (adenosina difosfato), FAD (flavina-adenina-dinucleotídeo) e NAD (nicotinamida-adenina-dinucleotídeo).
- Coenzimas:
- moléculas que se unem às enzimas para atuar nas reações químicas.↰
Página 148
A ATP é uma das principais moléculas carreadoras das células. Sua estrutura contém uma base nitrogenada (adenina) ligada a um monossacarídeo (ribose), que se une a três grupos fosfato.
Quando ocorre o rompimento da ligação de um dos grupos fosfato do ATP, há a liberação de energia, formando ADP e um íon dihidrogenofosfato abre parênteses H subscrito 2 P O subscrito 4 elevado a início expoente, 2 menos, fim expoente fecha parênteses ou fosfato inorgânico abre parênteses P i fecha parênteses.
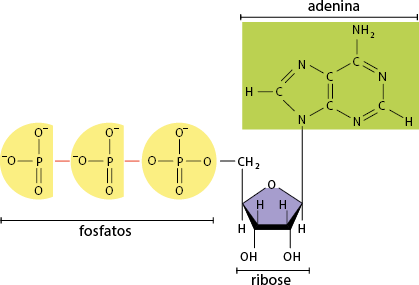
Já na formação de ATP, um grupo fosfato se liga ao grupo fosfato da molécula de ADP, por meio de reações químicas que envolvem absorção de energia. Acompanhe a seguir.
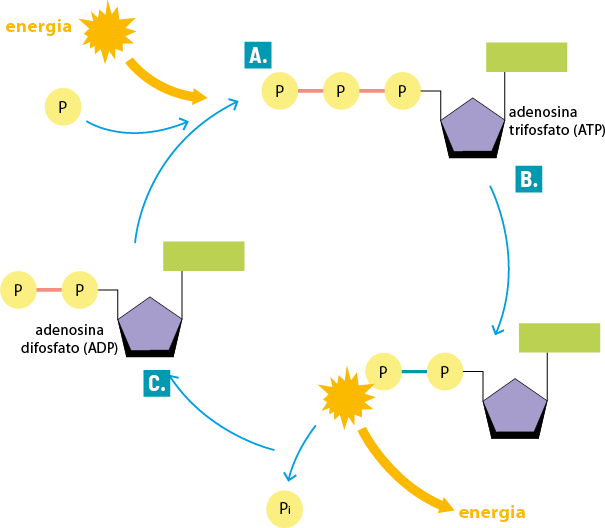
Imagens elaboradas com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 103-104.
Professor, professora: Ao abordar a transformação de ATP em ADP, e vice-versa, explique aos estudantes que Pi é a abreviatura para a representação do íon fosfato inorgânico e P é a representação do grupo fosfato.
Outra maneira de obter energia no organismo é por meio do transporte de elétron. Em algumas reações químicas, as substâncias podem perder ou ganhar elétrons.
Quando há ganho de elétrons, ocorre redução; quando há perda, oxidação. Essas reações, chamadas oxirredução, acontecem simultaneamente.
Quando uma molécula perde um átomo de hidrogênio abre parênteses H fecha parênteses, sofre oxidação, pois também está perdendo um elétron. Já quando recebe um átomo de hidrogênio, sofre redução, porque também está ganhando um elétron.
Moléculas como a glicose, ricas em energia, são metabolizadas por meio de uma série de reações químicas de oxidação. As moléculas intermediárias dessas reações químicas doam elétrons para coenzimas específicas. Entre as coenzimas mais importantes estão N A D sobrescrito mais, N A D P sobrescrito mais (fosfato-de-nicotinamida-adenina-dinucleotídeo) e F A D.
Enquanto N A D e F A D estão, geralmente, envolvidos em reações de catabolismo, como a fermentação e a respiração, o N A D P participa de reações de anabolismo, como fotossíntese e quimiossíntese.
Quando uma molécula de hidrogênio é acoplada ao N A D, F A D ou N A D P, essas coenzimas deixam sua forma natural oxidada e passam a se apresentar na forma reduzida: N A D H, F A D H subscrito 2 e N A D P H. Confira o quadro "Oxirredução" que apresenta as formas reduzidas e oxidadas de algumas moléculas.
| Forma oxidada | Forma reduzida |
|---|---|
|
N A D sobrescrito mais |
N A D H |
|
N A D P sobrescrito mais |
N A D P H |
|
F A D sobrescrito mais |
F A D H subscrito 2 |
Página 149
Fotossíntese
4. Qual é a importância da fotossíntese para os seres vivos heterotróficos?
Resposta: A fotossíntese possibilita aos seres vivos heterotróficos a fixação e a transferência da energia solar por meio da alimentação. Dessa maneira, é um dos processos que mantêm a base das pirâmides alimentares.
A fotossíntese é o processo biológico que possibilita o aproveitamento direto ou indireto da energia da luz solar pelos seres vivos. Além disso, ela interfere na composição da atmosfera terrestre e foi essencial para o surgimento dos organismos aeróbios há bilhões de anos.
Esse processo é realizado por seres vivos fotoautotróficos, como algumas bactérias, algas e a maioria das plantas. Eles utilizam a energia da luz solar e de moléculas inorgânicas, como água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses e gás carbônico abre parênteses CO subscrito 2 fecha parênteses, para produzir moléculas orgânicas – os açúcares, em sua maioria trioses, ou seja, carboidratos de três carbonos. Apesar disso, essas trioses podem ser utilizadas para produzir a glicose abre parênteses C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 fecha parênteses, que, normalmente, é um produto da reação de fotossíntese.
Confira a seguir a equação química simplificada da fotossíntese.
6 C O subscrito 2 mais 6 H subscrito 2 O expressão com detalhe acima, início da expressão, seta para a direita, fim da expressão, início do detalhe acima, energia luminosa, fim do detalhe acima C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 mais 6 O subscrito 2

Na fotossíntese, a molécula de água perde dois átomos de hidrogênio e dois elétrons, oxidando-se e formando uma molécula de gás oxigênio. Os átomos de hidrogênio são incorporados à molécula de gás carbônico por meio de uma reação de redução, transformando-se em um carboidrato.
Em uma reação química, os reagentes combinam-se entre si para formar os produtos. A reação química pode ser expressa por uma equação. No caso da equação química simplificada da fotossíntese, CO subscrito 2 e H subscrito 2 O são os reagentes, enquanto C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 e O subscrito 2 são os produtos.
Nessa equação, além da fixação do carbono, que resulta na produção da glicose (açúcar), há liberação de gás oxigênio. Por isso, a fotossíntese não só possibilita a formação de moléculas orgânicas, utilizadas principalmente como fonte de energia pelos seres vivos, mas também interfere na composição atmosférica, disponibilizando o gás necessário à respiração dos seres vivos aeróbios e removendo parte do gás carbônico, que, em alta concentração, pode ser tóxico para diversos seres vivos.
Nos organismos eucarióticos, como plantas e algas, a fotossíntese ocorre no interior de organelas chamadas cloroplastos, que apresentam dupla membrana externa e um sistema interno de membranas. Em seu interior, há estruturas com formato de discos, os tilacoides, dispostas em pilhas, cada uma delas chamada de granum. A região que circunda os tilacoides, limitada pela membrana interna, é chamada estroma, onde ocorre parte do processo fotossintético e estão DNA, RNA, ribossomos e enzimas. Confira a seguir.
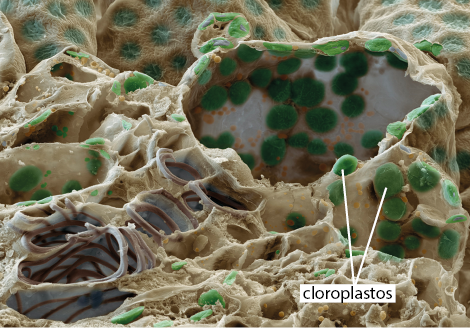
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
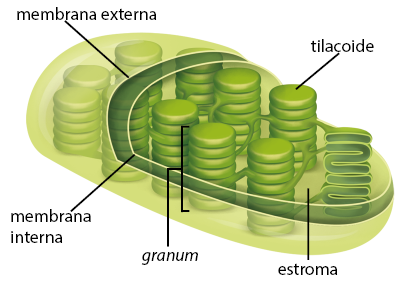
Imagem elaborada com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 132.
A clorofila se localiza no sistema interno de membranas dos cloroplastos com pigmentos acessórios, como carotenoides e ficobilinas, que auxiliam a clorofila na captação da energia da luz solar.
Página 150
Etapas da fotossíntese
A fotossíntese envolve duas etapas: fotoquímica e química, que estudaremos a seguir.
A etapa fotoquímica é também chamada de fase clara, pois as reações químicas dependem diretamente da luz e ocorrem nas membranas dos tilacoides, com a participação de pigmentos fotossintéticos e enzimas. Além disso, há a conversão da energia luminosa em energia química, com a consequente formação de ATP e de um transportador de elétrons reduzido (N A D P H). Essa etapa depende de dois processos: a fotólise da água e a fotofosforilação.
Inicialmente, a energia luminosa é transferida para a molécula de clorofila e, ao mesmo tempo, ocorre a fotólise da água, ou seja, a quebra dessa molécula por ação da luz. Essa reação química promove a liberação de gás oxigênio, átomos de hidrogênio e elétrons abre parênteses e menos fecha parênteses.
2 H subscrito 2 O seta para a direita 4 e sobrescrito menos mais 4 H sobrescrito mais, mais O subscrito 2
Os elétrons liberados na fotólise são capturados por moléculas de N A D P sobrescrito mais, produzindo N A D P H. Já os átomos de hidrogênio e a energia captada da luz solar propiciam condições para que a enzima ATP-sintase realize a fosforilação, na qual uma molécula de ADP se liga a um grupamento fosfato, formando ATP. Assim, na etapa fotoquímica, ocorre a formação de ATP e N A D P H.
A etapa química é também conhecida como fase escura, pois não depende diretamente da luz. Acontece no estroma do cloroplasto, onde ocorre a fixação de carbono e a consequente formação de carboidrato. Para isso, ATP e NADPH, formados na etapa fotoquímica, são utilizados para fixar e reduzir o carbono presente no gás carbônico, bem como para sintetizar carboidratos, como sacarose abre parênteses C subscrito 12 H subscrito 22 O subscrito 11 fecha parênteses e amido.
A sequência de reações químicas que ocorre nessa etapa recebe o nome de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, em homenagem aos bioquímicos estadunidenses Melvin Calvin (1911-1997) e Andrew Benson (1917-2015), pesquisadores que elucidaram tais reações químicas.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
A.
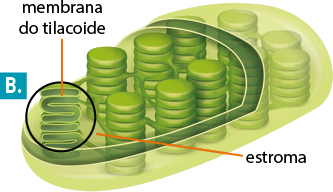
B.
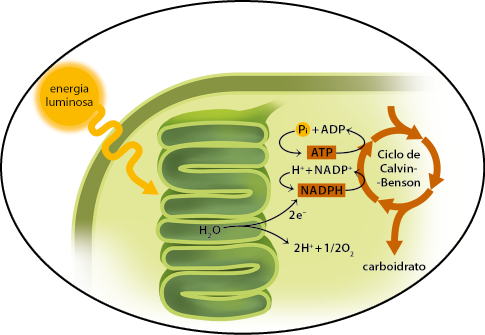
Imagens elaboradas com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 132.
Luz e clorofila
Para iniciarmos nosso estudo sobre a relação entre luz e clorofila, responda à questão a seguir.
5. Em sua opinião, por que observamos a maioria dos vegetais na cor verde?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes citem que isso ocorre porque eles refletem a cor verde.
A luz branca (visível) é um tipo de radiação eletromagnética composta de diversos comprimentos de onda, que, quando decompostos, originam as cores do arco-íris. Isso ocorre porque toda cor tem um comprimento de onda específico e se desloca de maneira diferente no meio causando a decomposição da luz.
Para o ser humano, a luz visível tem comprimento de onda entre 750 e 380 nanômetros.
Página 151
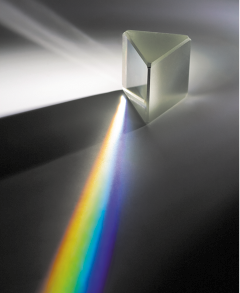

Imagem elaborada com base em: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: óptica e física moderna. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v. 4. p. 2.
Agora, confira o gráfico a seguir.
Espectro de absorção da clorofila
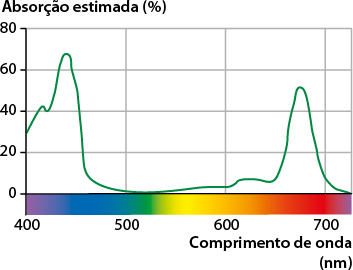
6. O que você pode dizer em relação à absorção dos diferentes comprimentos de onda pela clorofila?
Resposta: A clorofila absorve, principalmente, os comprimentos de onda referentes ao azul/violeta e ao vermelho.
A clorofila é capaz de absorver comprimentos de onda, principalmente na faixa do azul/violeta e do vermelho. Os comprimentos de onda que se referem, principalmente, à cor verde são refletidos pela clorofila, por isso enxergamos essa cor. Geralmente, a clorofila se concentra nas folhas ou em partes mais jovens da planta, motivo pelo qual identificamos a cor verde principalmente nessas partes.
Fonte de pesquisa: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 129.
Agora, vamos analisar outro gráfico que envolve intensidade luminosa e fotossíntese.
Variação da taxa fotossintética em função da intensidade luminosa
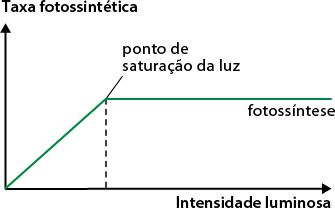
7. O que podemos dizer a respeito da influência da intensidade luminosa na fotossíntese?
Resposta: A taxa fotossintética aumenta conforme o aumento da intensidade luminosa. Isso ocorre até certo ponto, quando essa taxa se torna relativamente constante.
Como é possível reconhecer no gráfico, a intensidade luminosa interfere na taxa fotossintética. Além desse fator, a quantidade de gás carbônico e a temperatura também influenciam na fotossíntese.
Fonte de pesquisa: PAULILO, Maria Terezinha; VIANA, Ana Maria; RANDI, Áurea Maria. Fisiologia vegetal. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. p. 93.
Quanto maior a intensidade luminosa, maior a taxa fotossintética. No entanto, esse aumento progressivo ocorre até certo limite, o chamado ponto de saturação da luz, que representa a intensidade luminosa em que a fotossíntese é máxima e na qual o aumento na intensidade de luz solar não implica aumento da taxa fotossintética. Em relação ao gás carbônico, a interferência é semelhante.
O ponto de saturação da luz varia entre as diferentes espécies de plantas, sendo mais baixo naquelas que vivem em ambientes sombreados (plantas de sombra) do que nas de ambientes ensolarados (plantas de sol). Já o aumento da temperatura eleva progressivamente a fotossíntese até determinado limite, acima do qual as taxas fotossintéticas voltam a decrescer.
Página 152
Respiração celular
Para iniciarmos o estudo da respiração celular, responda às questões a seguir.
8. Qual é a importância do sistema respiratório para a respiração celular?
Resposta: O sistema respiratório possibilita ao organismo obter o gás oxigênio, utilizado nas células para obter energia via respiração celular, bem como eliminar o gás carbônico resultante desse processo.
9. Nos seres humanos, qual é o sistema e o processo responsáveis pela quebra do amido em glicose?
Resposta: Essa quebra é realizada pelo sistema digestório durante o processo de digestão, que se inicia na boca.
A energia da luz solar, absorvida durante a fotossíntese, é armazenada nas células vegetais na forma de amido. Para que essa energia seja liberada, o carboidrato deve passar por uma série de transformações, que se iniciam pelo rompimento das ligações químicas do amido, resultando na liberação de moléculas de glicose.
As moléculas de glicose atravessam a membrana plasmática das células, onde serão transformadas por meio da respiração celular, resultando na liberação de energia. Esse processo ocorre na presença de gás oxigênio, sendo, portanto, uma reação química aeróbia.
A respiração celular pode ser resumida na equação química representada a seguir.
C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 mais O subscrito 2 seta para a direita 6 C O subscrito 2 mais 6 H subscrito 2 O mais energia
Na respiração celular, uma molécula de glicose é oxidada, resultando em seis moléculas de gás carbônico, seis moléculas de água e energia.
A respiração celular é dividida em três etapas: glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória. Cada uma ocorre em porções diferentes da célula. A glicólise ocorre no citosol da célula; o ciclo do ácido cítrico, na matriz mitocondrial; e a cadeia respiratória, nas cristas mitocondriais.
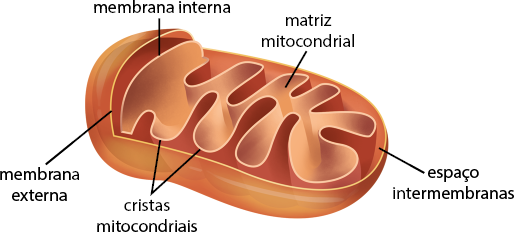
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
Glicólise
A glicólise é caracterizada pela quebra da molécula de glicose. Trata-se de uma etapa anaeróbia da respiração celular, isto é, o gás oxigênio não é utilizado. Essa etapa também ocorre na fermentação.
No citosol, a glicose sofre uma sequência de reações químicas, nas quais uma molécula de glicose forma duas moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico abre parênteses C subscrito 3 H subscrito 4 O subscrito 3 fecha parênteses. Ao longo da glicólise, duas moléculas de ATP são consumidas, enquanto quatro são produzidas. Além disso, duas moléculas de N A D sobrescrito maissão reduzidas à NADH e há liberação de duas moléculas de água e dois íons hidrogênio.
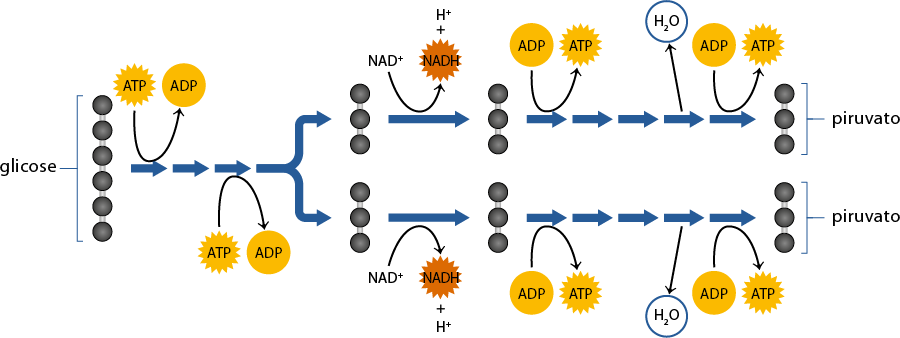
Imagens elaboradas com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 110-111.
Página 153
O ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, é a via final de oxidação dos carboidratos, quando são convertidos em gás carbônico. Essa reação química fornece energia para a produção da maior parte de ATP.
O piruvato, proveniente da glicólise, atravessa as membranas da mitocôndria, atingindo sua matriz. Nessa porção da mitocôndria, o piruvato é oxidado a acetil-CoA (acetil coenzima A), uma molécula de dois carbonos que será incorporada ao intermediário oxaloacetato para ingressar efetivamente no ciclo de Krebs. Ao longo desse ciclo, a acetil-CoA é oxidada a uma molécula de oxaloacetato regenerada, possibilitando sua reutilização e caracterizando um ciclo. Elétrons de alta energia são transportados por moléculas carreadoras, como N A D H e F A D H subscrito 2.
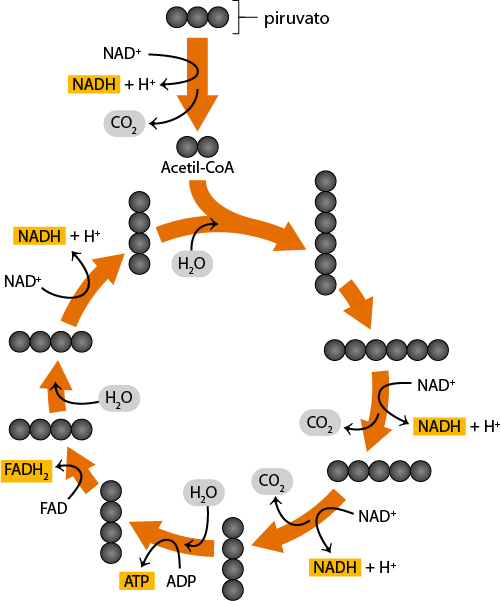
Imagens elaboradas com base em: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 110, 112, 118.
Durante a glicólise e o ciclo do ácido cítrico, parte da energia proveniente da quebra da glicose é utilizada na formação de moléculas de ATP, enquanto a outra encontra-se nos elétrons retirados dos átomos de carbono, acoplados nos carreadores N A D H e F A D H subscrito 2.
Na etapa da cadeia respiratória, também conhecida como fosforilação oxidativa, esses elétrons são transferidos para o oxigênio molecular por uma série de transportadores presentes nas membranas das cristas mitocondriais. Ao final do processo, tais elétrons se combinam a íons hidrogênio, formando água. Além disso, a passagem dos elétrons pelo complexo transportador gera as condições necessárias para a formação de moléculas de ATP.
Esse processo trata-se de uma via aeróbia, pois o gás oxigênio é o aceptor final dos elétrons.
A. Moléculas de N A D H e F A D H subscrito 2 transferem os elétrons para um complexo transportador, presente na crista mitocondrial.
Os elétrons são transferidos entre complexos e moléculas transportadoras, gerando íons H sobrescrito mais,que são bombeados da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas.
B. O acúmulo de íons H sobrescrito mais causa um desequilíbrio entre esse espaço e a matriz mitocondrial. Isso leva os íons a retornar à matriz mitocondrial por meio de um complexo de proteínas formadoras de ATP, chamado ATP-sintase. Durante sua passagem, os íons H sobrescrito mais fornecem energia ao complexo para a síntese de ATP, na chamada fosforilação oxidativa.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
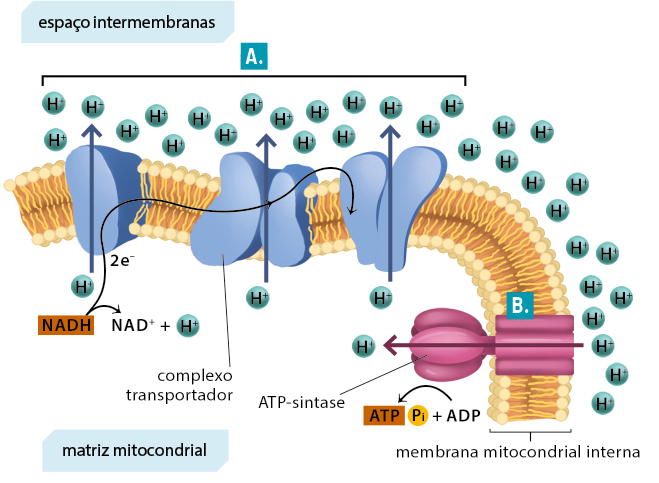
Professor, professora: Na cadeia transportadora de elétrons há também outra estrutura proteica complexa presente na membrana interna da mitocôndria e que contém FAD. No entanto, ela não está representada nesta imagem, pois não faz parte da transferência de elétrons do N A D H para O subscrito 2.
Página 154
Ao longo da respiração celular, moléculas de ATP são produzidas e, em alguns seres vivos, consumidas. A seguir, é apresentado o balanço energético desse processo.
Glicólise
Nessa etapa, são produzidas quatro moléculas de ATP e duas moléculas de NADH. Como são utilizadas duas moléculas de ATP para oxidar a glicose em piruvato, o saldo final da glicólise é de duas moléculas de ATP.
Ciclo de Krebs
Duas moléculas de NADH são produzidas durante a oxidação das duas moléculas de piruvato a acetil-CoA. Ao final do ciclo de Krebs, são formadas duas moléculas de ATP, seis moléculas de NADH e duas moléculas de F A D H subscrito 2.
Cadeia respiratória
Todos os cofatores produzidos durante a glicólise e o ciclo de Krebs abre parênteses N A D H e F A D H subscrito 2 fecha parênteses são utilizados na cadeia respiratória para a produção de ATP. Como cada molécula de NADH tem energia para sintetizar três moléculas de ATP e cada molécula de F A D H subscrito 2 tem energia para sintetizar duas moléculas de ATP, o saldo total da cadeia respiratória é de 34 A T P.
Total
Dessa maneira, uma única molécula de glicose resulta na formação de 38 moléculas de ATP.
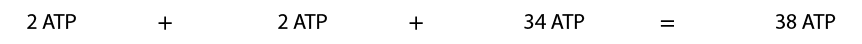
O saldo energético da respiração celular nas células eucarióticas é de 36 moléculas de ATP, pois duas moléculas de ATP são utilizadas para transportar as duas moléculas de NADH, produzidas no citosol da mitocôndria durante a glicólise, para o interior da mitocôndria. Como nas células procarióticas não há mitocôndrias, não ocorre o gasto de duas moléculas de ATP, portanto o saldo da respiração celular é de 38 moléculas de ATP.
Kamala Sohonie e a descoberta do citocromo c
Citocromos são proteínas associadas às membranas plasmáticas e que apresentam átomos de ferro com capacidade de doar e receber elétrons. Um tipo específico de citocromo, chamado citocromo c, está presente na membrana mitocondrial interna e desempenha um importante papel na etapa da cadeia respiratória, auxiliando no transporte de elétrons na cadeia respiratória.
O citocromo c foi descoberto por volta de 1937 pela bioquímica indiana Kamala Sohonie (1911-1998), durante sua pesquisa de doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ela foi a primeira cientista indiana a obter o título de doutora em uma disciplina científica, abrindo caminho para que outras mulheres pudessem ingressar na área.

Kamala também desenvolveu importantes estudos sobre a nutrição de crianças, além de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora no Royal Institute of Science, em Bombaim, Índia.
Fermentação
O gás oxigênio não está presente em todos os ambientes, tampouco é utilizado por todos os seres vivos, que obtêm a energia de que necessitam por meio da fermentação. Esse processo é realizado por seres vivos anaeróbios e pode ser uma alternativa para obtenção de energia pelos organismos aeróbios ou por alguns de seus tecidos em condições específicas, como na ausência ou baixa concentração de gás oxigênio.
Página 155
A fermentação se inicia com a glicólise, resultando em piruvato e N A D H, que não entram na mitocôndria. Na ausência de O subscrito 2, o N A D H se torna o aceptor final, sendo reoxidado para N A D sobrescrito mais. Quando isso ocorre, o piruvato é reduzido a ácido láctico ou lactato abre parênteses C subscrito 3 H subscrito 6 O subscrito 3 fecha parênteses, na chamada fermentação lática.
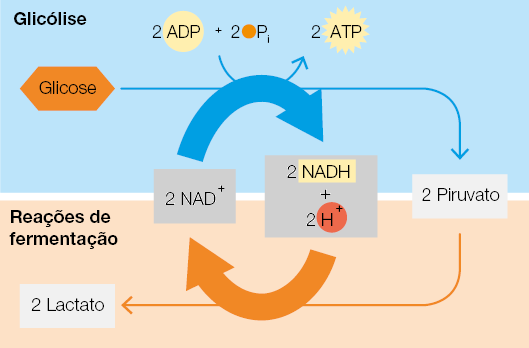
Queijos, iogurtes e outros derivados, como coalhadas, são exemplos de alimentos consumidos no nosso dia a dia que passam pelo processo de fermentação lática, por meio da ação de determinados fungos (leveduras) e bactérias. Com a liberação do ácido láctico, ocorre a desnaturação e a precipitação das proteínas do leite, formando o coalho, de consistência gelatinosa e característico desse tipo de alimento.
A fermentação lática também pode ocorrer em seres humanos, em condições específicas, como em atividades físicas exaustivas. A prática de atividades físicas é importante para a saúde do corpo humano e demanda alto consumo de energia, gerada durante a respiração celular. No entanto, se uma atividade física for muito exaustiva, o gás oxigênio pode ser insuficiente para a respiração celular. Com isso, as células passam a obter energia pela fermentação lática. Esse processo gera um acúmulo de ácido láctico nas células musculares, que, em excesso, provoca dores e incômodo.
Em leveduras e algumas células vegetais, há enzimas que removem CO subscrito 2 do piruvato, reduzindo-o a acetaldeído abre parênteses C subscrito 2 H subscrito 4 O fecha parênteses. Este é reduzido pelo N A D H, produzindo N A D sobrescrito mais e etanol abre parênteses C subscrito 2 H subscrito 5 O H fecha parênteses, na chamada fermentação alcoólica.
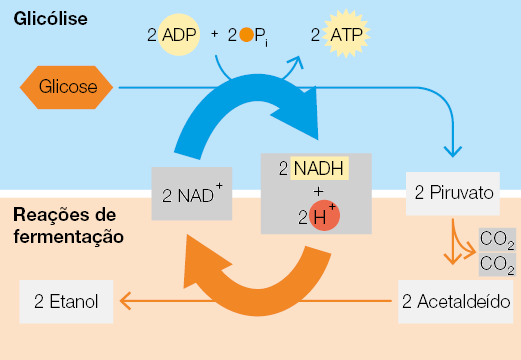
Imagens elaboradas com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 129-130.
A produção de pães, bebidas alcoólicas e até mesmo do combustível etanol envolve o processo de fermentação alcoólica, também realizado por leveduras e bactérias.
Durante o preparo dos pães, por exemplo, os açúcares presentes na massa são utilizados pelas leveduras na fermentação alcoólica. Nesse processo, é liberado CO subscrito 2, que faz a massa se encher de bolhas de ar e crescer. Quando a massa é assada, o etanol gerado evapora sem deixar sabor.
O saldo energético da fermentação é de dois ATP, tendo em vista que nesse processo a molécula de glicose não sofre oxidação total, apenas parcial.
10. Qual é a importância da fermentação para a sociedade? Exemplifique.
Resposta: Por meio da fermentação, são feitos produtos utilizados na alimentação humana, como o iogurte, bem como utilizados como fonte de energia na movimentação de máquinas, como certos combustíveis.
11. Por que o álcool resultante da ação de leveduras presentes no fermento biológico geralmente não se mantém no pão assado, como ocorre nas bebidas alcoólicas?
Resposta: Porque ao assar o pão, o álcool evapora com o calor.
Página 156
PRÁTICA CIENTÍFICA
Luz e fotossíntese
Por dentro do contexto
Hortas indoor são cultivos de plantas realizados em ambientes fechados e com o uso de luzes artificiais. Elas têm como objetivo produzir alimentos nos centros urbanos, por exemplo, oferecendo uma alternativa mais sustentável à agricultura tradicional.
Esses tipos de cultivo utilizam LEDs cor-de-rosa, que combinam luzes vermelhas e azuis, ideais para o crescimento das plantas.

a ) Em sua opinião, por que o uso de LEDs coloridos, especialmente na faixa do espectro vermelho e azul, são a opção utilizada em hortas indoor em comparação a outros tipos de iluminação?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a levantar hipóteses sobre o tipo de luz utilizada nas hortas indoor.
b ) A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas, usando a luz como fonte de energia, produzem carboidratos e oxigênio com base em gás carbônico e água. Como esse processo acontece e quais são os principais fatores que o influenciam?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito da fotossíntese e dos fatores que a influenciam, como luminosidade, disponibilidade de água, temperatura e concentração de gás carbônico.
Materiais
- 2 béqueres (de plástico ou de vidro) de 150 mililitros
- 2 funis de vidro
- 2 tubos de ensaio
- plantas de Elodea sp.
- solução de bicarbonato de sódio abre parênteses N a H C O subscrito 3 fecha parênteses
- caneta hidrocor
- água
- 6 caixas de sapato sem tampa
- papel celofane nas cores amarelo, vermelho, verde, azul e preto
- suporte com lâmpada elétrica (luz branca)
Como proceder
A. Com a caneta hidrocor, marque um dos béqueres com o número 1 e o outro com o 2.
B. Coloque um ramo de Elodea sp. dentro do béquer 1 e outro ramo no béquer 2. Em seguida, cubra os ramos dos dois béqueres com o funil emborcado (de cabeça para baixo), tomando cuidado para não deixar nenhuma folha para fora.
C. No béquer 1, adicione água de modo a cobrir o ramo de Elodea sp. e a haste do funil, sem formar bolhas.
D. No béquer 2, adicione a solução de bicarbonato de sódio, cobrindo o ramo de Elodea sp. e a haste do funil, sem formar bolhas.
E. Preencha um tubo de ensaio com a água e outro com a solução de bicarbonato de sódio.
Página 157
F. Tampando a boca dos tubos de ensaio com o dedo indicador, coloque-os dentro dos béqueres 1 e 2 e encaixe-os à haste do funil, tomando cuidado para evitar a formação de bolhas dentro dos tubos.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
Cuidado
Manuseie cuidadosamente os materiais feitos de vidro para que não quebrem e causem ferimentos.
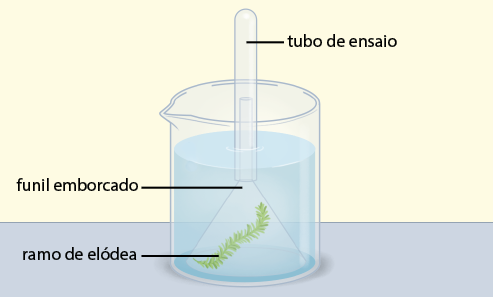
G. Coloque os béqueres 1 e 2 dentro de uma caixa de sapato e cubra-a com papel celofane vermelho.
H. Acenda a lâmpada elétrica, direcionando a luz branca para os béqueres no interior da caixa de sapatos. Aguarde aproximadamente 20 minutos, confira e anote os resultados.
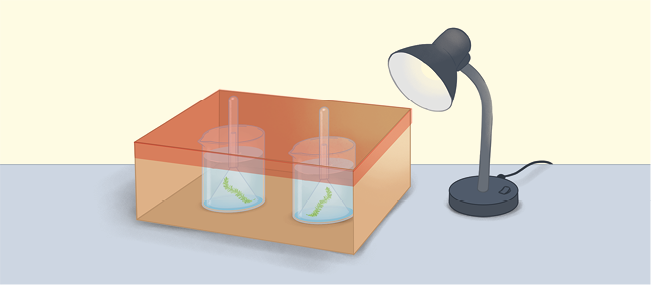
I. Repita as etapas G e H com as outras cores de celofane (amarelo, verde, azul e preto).
Repita as etapas G e H, mas sem cobrir a caixa com papel celofane, para que as montagens no interior dela recebem luz branca.
Análise e divulgação
1. Compare os resultados observados nos béqueres 1 e 2 em relação às diferentes cores de filtro de celofane utilizadas e justifique-os.
2. Considerando os resultados observados, qual seria a justificativa para ser usada uma planta aquática na atividade experimental?
3. O que você verificou nos béqueres 1 e 2 submetidos à luz branca? Justifique sua resposta.
4. Qual é a importância da fonte de luz na atividade experimental?
5. Quais resultados observados na atividade experimental evidenciam a ocorrência da fotossíntese? Justifique sua resposta.
6. Considere que na etapa G fosse incluído um papel celofane de cor verde. Nesse caso, espera-se que a taxa de fotossíntese da planta seja maior ou menor do que a dos experimentos com as outras cores de papel celofane? Justifique sua resposta.
7. Sob orientação do professor, organizem uma exposição na escola para apresentar o experimento e os resultados obtidos à comunidade escolar.
Respostas nas Orientações para o professor.
Página 158
ATIVIDADES
1. A respeito dos processos energéticos nos seres vivos, julgue as afirmativas. Em seguida, identifique a alternativa correta e, em seu caderno, justifique as incorretas, corrigindo-as.
I ) O produto final da respiração celular é energia (ATP), água e glicose.
II ) A fórmula química simplificada da fotossíntese é 6 C O subscrito 2 mais 6 H subscrito 2 O seta para a direita 6 O subscrito 2 mais C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6.
III ) A fermentação é o processo de transformação de energia que ocorre sem a necessidade de gás oxigênio.
IV ) A cadeia respiratória é uma etapa da respiração celular e ocorre na matriz mitocondrial.
V ) A etapa fotoquímica ou fase clara da fotossíntese ocorre no estroma do cloroplasto.
VI ) NAD, NADP e FAD são coenzimas transportadoras de elétrons.
VII ) A clorofila é um pigmento fotossintetizante que absorve luz solar para a etapa fotoquímica da fotossíntese.
a ) As afirmativas III, V e VI estão corretas.
b ) As afirmativas I, III e VII estão corretas.
c ) As afirmativas II, IV e V estão corretas.
d ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
e ) As afirmativas II, III, VI e VII estão corretas.
Resposta: Alternativa e. I. O produto final da respiração celular é ATP, água e gás carbônico. IV. A cadeia respiratória é uma etapa da respiração celular e ocorre nas cristas da mitocôndria. V. A etapa fotoquímica ou fase clara da fotossíntese ocorre nas membranas dos tilacoides.
2. Os estômatos são estruturas encontradas na epiderme das plantas, principalmente nas folhas. Eles possibilitam a comunicação entre os tecidos vegetais internos e o ambiente e podem mudar sua conformação para aberta ou fechada.
A.
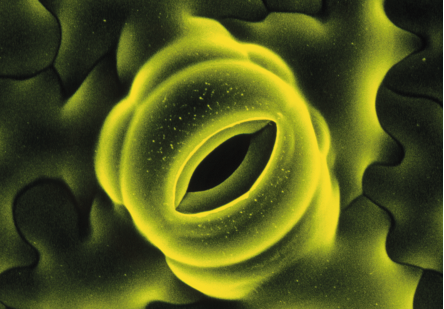
B.
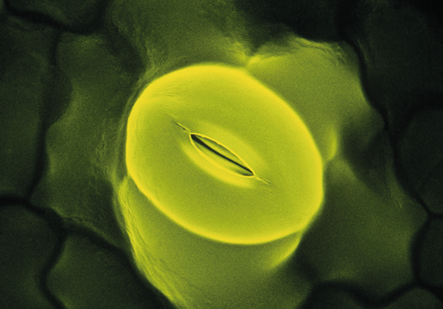
Faça uma pesquisa sobre os estômatos e responda às questões a seguir.
a ) Qual é a importância dessa estrutura para a fotossíntese e a respiração das plantas?
b ) Como as situações mostradas em A e B podem interferir na intensidade da fotossíntese e da respiração celular?
Respostas nas Orientações para o professor.
3. Em determinados momentos do dia, a taxa de consumo de oxigênio pelas plantas excede a de sua produção. Apesar disso, esse consumo é extremamente pequeno, se comparado ao do ser humano.
a ) Que processo realizado pelas plantas consome gás oxigênio em vez de produzi-lo?
Resposta: Respiração celular.
b ) Qual é a importância para a planta do processo que você citou no item a?
Resposta: Por meio da respiração celular, a planta obtém a energia necessária para seu crescimento e a manutenção das funções celulares.
c ) Algumas pessoas acreditam que não é recomendável dormir com plantas no quarto, alegando que isso causaria sufocamento e dores de cabeça por causa do consumo de gás oxigênio e da liberação de gás carbônico pelas plantas. Pesquise se esses argumentos têm fundamento científico, justificando sua resposta.
Resposta: O objetivo desta questão é incentivar os estudantes a analisar criticamente informações que são divulgadas. Espera-se que eles reconheçam que tal informação não tem fundamentação científica, considerando que o consumo de gás oxigênio pelo vegetal durante a respiração celular é significativamente menor do que a quantidade consumida pelo ser humano durante esse processo.
Página 159
4. O crescimento de plantas daninhas em plantações é considerado um problema para a agricultura, pois elas crescem e se reproduzem em condições semelhantes às das plantas cultivadas. Para solucionar esse problema, os agricultores utilizam herbicidas, um tipo de agrotóxico capaz de eliminar essas plantas indesejáveis. Alguns desses compostos químicos agem bloqueando a fosforilação oxidativa das plantas-alvo.

a ) Por que as plantas daninhas precisam ser retiradas?
b ) Explique qual é a consequência do bloqueio da fosforilação oxidativa para o vegetal.
c ) O bloqueio da fosforilação oxidativa pelo herbicida pode gerar consequências para as células animais? Justifique sua resposta.
5. Leia a manchete a seguir.
Pesquisa mostra presença de álcool em pães de forma
PESQUISA mostra presença de álcool em pães de forma. Jornal do Comércio, Recife, 12 jul. 2024. p. 28.
a ) Que processo de obtenção de energia pode estar relacionado à situação noticiada na manchete?
b ) Considerando o processo de fabricação de pães, qual etapa pode não ter sido realizada adequadamente?
Respostas das questões 4 e 5 nas Orientações para o professor.
6. A contração muscular envolve gasto energético, ou seja, consumo de ATP. Por isso, durante as atividades físicas o gasto de ATP aumenta, assim como o fluxo sanguíneo e a frequência respiratória, favorecendo a produção de ATP via respiração celular e sua distribuição. No entanto, quando há um esforço muscular intenso, o gás oxigênio disponível não é capaz de suprir as necessidades dos músculos, ocorrendo uma contração involuntária dolorida, a câimbra.
a ) Explique como a célula muscular gera ATP mesmo na ausência de gás oxigênio.
Resposta: Quando o organismo é submetido a uma atividade física intensa e o suprimento de gás oxigênio é insuficiente, a célula realiza a fermentação lática para produzir ATP, que não requer a participação de gás oxigênio.
b ) Como o processo descrito no item a pode causar câimbra? Se necessário, faça uma pesquisa.
Resposta: A fermentação lática resulta na produção de ácido lático, água e ATP. O ácido lático produzido é transportado do músculo esquelético para o fígado, onde é convertido, novamente, em glicose ou glicogênio. No entanto, uma parte do ácido lático pode acumular-se na musculatura e gerar sintomas, como a câimbra.
7. Reescreva as afirmativas a seguir em seu caderno, substituindo cada número romano pelo termo adequado do quadro.
- matriz mitocondrial
- glicólise
- ciclo de Calvin-Benson
- ciclo de Krebs
- estroma do cloroplasto
a ) O (I) ocorre no (II) e é responsável pela fixação do carbono e consequente formação de carboidratos.
Resposta: O ciclo Calvin-Benson ocorre no estroma do cloroplasto e é responsável pela fixação do gás carbônico e consequente formação de carboidratos.
b ) O (III) ocorre na (IV) e é responsável pela oxidação da acetil-CoA a gás carbônico.
Resposta: O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e é responsável pela oxidação da acetil-CoA a gás carbônico.
c ) O conjunto de reações químicas que ocorre no citosol da célula e consiste na conversão da glicose em piruvato recebe o nome de (V).
Resposta: O conjunto de reações químicas que ocorre no citosol da célula e consiste na conversão de glicose em piruvato recebe o nome de glicólise.
Página 160
CAPÍTULO9
Relações alimentares
Cadeia alimentar
Analise o cartum apresentado e responda às questões.
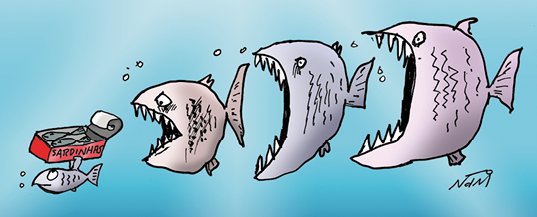
LUCAS, Ernani Diniz. Nani Humor, 6 out. 2015. Disponível em: https://s.livro.pro/nkiqtk. Acesso em: 26 ago. 2024.
1. Descreva o cartum apresentado.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é que os estudantes interpretem o cartum.
2. Que tipo de relação entre os seres vivos está retratado nesse cartum?
Relação alimentar, mais especificamente a predação.
3. Qual é a relação entre o cartum e a obtenção de energia pelos seres vivos?
Espera-se que os estudantes respondam que a alimentação é o modo como seres vivos heterotróficos obtêm sua energia. Para que ela seja utilizada pelos seres vivos, é necessário que os alimentos sejam, inicialmente, transformados em partes menores, que então originarão as moléculas de adenosina trifosfato (ATP), energia utilizável pelas células.
Os seres vivos se relacionam uns com os outros e com o ambiente de diferentes maneiras e com diversas finalidades, como reprodução, abrigo, alimentação, território e proteção. A relação alimentar possibilita a esses seres obter e transferir matéria e energia entre os componentes bióticos e abióticos do ambiente.
Como estudamos anteriormente, os seres vivos necessitam de energia para crescerem e se desenvolverem, bem como realizar diversas atividades. Alguns seres vivos autotróficos obtêm a energia de que necessitam da luz solar, por meio da fotossíntese, enquanto os heterotróficos obtêm essa energia por meio da alimentação.
Todos os organismos, vivos ou mortos, são potenciais fontes de alimento, consequentemente de matéria e energia, para outros seres vivos. Assim, quando um ser vivo se alimenta de outro, há transferência tanto de matéria quanto de energia entre eles. No cartum apresentado, por exemplo, é possível identificar uma relação alimentar entre os peixes representados, em que um pode servir de alimento para o outro, em uma sequência de indivíduos. Essa sequência possibilita determinar como a matéria e a energia são transferidas de um organismo para o outro, sendo conhecida como cadeia alimentar.
O Sol é a principal fonte de energia inicial nas cadeias alimentares e é fixada pelos seres vivos fotoautotróficos. Tal energia pode ser transferida aos demais seres vivos sob a forma de energia química, armazenada em moléculas orgânicas. Dessa maneira, nas cadeias alimentares essa transferência ocorre dos seres vivos autotróficos aos demais membros dessa relação alimentar. Acompanhe o exemplo a seguir.
As plantas lenhosas fixam parte da energia da luz solar nos tecidos da madeira na forma de lignina e celulose. Esses materiais podem ser digeridos apenas por microrganismos presentes em certos animais, como os cupins. O tamanduá-bandeira se alimenta basicamente de cupins e formigas.
Cupim (R. flavipes): pode atingir aproximadamente 6 milímetros de comprimento.

Tamanduá-bandeira (M. tridactyla): pode atingir aproximadamente 2 vírgula 2 metros de comprimento.

Página 161
Na cadeia alimentar, os seres vivos ocupam posições específicas que representam as etapas de transferência de matéria e energia. Essas posições são chamadas de níveis tróficos ou níveis alimentares. Dessa maneira, em uma cadeia alimentar, organismos de determinado nível trófico têm a mesma fonte principal de energia, nutrem-se de seres vivos do nível trófico anterior e são consumidos por organismos do nível trófico posterior.
4. Os seres vivos podem ocupar diferentes níveis tróficos em uma única cadeia alimentar?
Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que sim, pois alguns seres vivos podem se alimentar tanto de produtores quanto de outros consumidores, por exemplo.
As cadeias alimentares podem envolver quantidade variada de níveis tróficos e incluem, basicamente, três tipos de organismos: produtores, consumidores e decompositores.
Os produtores compõem o primeiro nível trófico das cadeias alimentares, pois atuam na produção da matéria orgânica. Nesse nível trófico estão incluídos os organismos autotróficos, como a maioria das plantas e o fitoplâncton, capazes de fixar energia luminosa na forma de energia química e transformar moléculas inorgânicas em orgânicas por meio da fotossíntese.
Em determinados ecossistemas, como nas fontes hidrotermais, as cadeias alimentares têm como base os organismos produtores quimiossintetizantes. Esses seres vivos utilizam determinadas moléculas inorgânicas como fonte inicial de energia. Riftia pachyptila, por exemplo, associa-se a bactérias sulfurosas capazes de produzir matéria orgânica pela oxidação do sulfeto de hidrogênio abre parênteses H subscrito 2 S fecha parênteses, liberado pelas chaminés das fontes termais.
Verme (R. pachyptila): pode atingir aproximadamente 3 metros de comprimento.

Os consumidores são seres vivos heterotróficos, por isso obtêm dos produtores a energia necessária por meio da ingestão de produtores, de outros consumidores ou de restos orgânicos. Uma cadeia alimentar pode ter um ou vários consumidores, que, dependendo da posição que ocupam em relação aos produtores, podem ser considerados primários, secundários, terciários, e assim sucessivamente.
Professor, professora: Caso existam consumidores em níveis tróficos posteriores, eles serão classificados como consumidores quaternários, quinquenários, e assim sucessivamente.
Os organismos que obtêm matéria e energia diretamente dos produtores são chamados de consumidores primários ou herbívoros, ocupando o segundo nível trófico da cadeia alimentar. O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), por exemplo, é herbívoro e alimenta-se de gramíneas, frutos e flores.
Veado-catingueiro (M. gouazoubira): pode atingir aproximadamente 1 metro de comprimento.

Os seres vivos que se alimentam dos herbívoros são carnívoros ou consumidores secundários, ocupando o terceiro nível trófico. O jacaretinga (Caiman crocodilus), por exemplo, é carnívoro e se alimenta basicamente de peixes. Em determinadas situações, pode consumir filhotes de veado-catingueiro.
Jacaretinga (C. crocodilus): pode atingir aproximadamente 3 metros de comprimento.

Página 162
Os consumidores secundários podem servir de fonte de matéria e energia a outros consumidores, conhecidos como terciários. A onça-pintada (Panthera onca), por exemplo, é um animal carnívoro e se alimenta de diversos outros animais, como veado-catingueiro e jacaretinga. Desse modo, ela pode atuar como consumidor secundário e terciário, respectivamente.
Onça-pintada (P. onca): pode atingir aproximadamente 1 vírgula 8 metro de comprimento.

O último nível trófico das cadeias alimentares é ocupado pelos decompositores. Esses seres vivos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, ou seja, por transformá-la em matéria inorgânica assimilável por outros seres vivos.
A decomposição é resultado da ação de determinados seres vivos, como algumas espécies de fungos, protistas heterotróficos e bactérias. Parte dos nutrientes liberada na decomposição da matéria orgânica permanece no organismo dos decompositores, enquanto o restante é disponibilizado no ambiente.
O tempo de decomposição depende das condições ambientais e da composição química da matéria orgânica. Gorduras, proteínas e açúcares, por exemplo, são prontamente decompostos, enquanto celulose, quitina, lignina e ossos são decompostos mais lentamente.
Os decompositores atuam em todos os níveis tróficos da cadeia alimentar, desempenhando papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas ao possibilitar a ciclagem da matéria. Dessa maneira, enquanto os organismos produtores fixam nutrientes, os decompositores os devolvem ao ambiente.
Imagem sem proporção.

A ação dos decompositores pode estragar os alimentos, pois esse processo altera as características da matéria orgânica. Alimentos em decomposição têm odor, coloração, formato, textura e sabor alterados, ficando impróprios para o consumo humano.
Você já refletiu sobre como seria o planeta Terra caso não existissem os organismos decompositores? O que aconteceria com a matéria orgânica morta? Possivelmente, a Terra seria um amontoado de matéria orgânica acumulada até que os elementos químicos não estivessem mais disponíveis aos seres vivos autotróficos para transformá-los em matéria orgânica. Ou seja, a vida não conseguiria se manter e entraria em colapso.
Assim, os seres vivos decompositores possibilitam a manutenção da disponibilidade dos nutrientes no ambiente para serem utilizados por outros seres vivos. Após serem fixados por determinados organismos, os elementos químicos podem ser transferidos ao longo das cadeias alimentares, reiniciando o ciclo da matéria no ambiente.
Compartilhe ideias
Diariamente, são produzidas toneladas de resíduos, entre eles resíduos orgânicos, que são descartados no ambiente.
a ) Junte-se a dois colegas e pesquisem medidas que ajudem a reduzir o descarte de resíduos orgânicos no ambiente.
Resposta: Espera-se que os estudantes proponham medidas aplicáveis no dia a dia que envolvam o aproveitamento de matéria orgânica, como o reaproveitamento em receitas de partes de vegetais que seriam descartadas ou a compostagem de certos resíduos orgânicos para a produção de adubos.
Página 163
Os detritívoros são um tipo específico de consumidor, muitas vezes confundidos com decompositores, por se alimentarem de matéria orgânica presente no ambiente. Diferentemente dos decompositores, esses seres vivos não liberam moléculas inorgânicas no ambiente, apenas transformam moléculas orgânicas complexas em moléculas orgânicas simples.
Durante a quebra da matéria orgânica, os detritívoros absorvem a energia e os nutrientes de que necessitam. As moléculas orgânicas liberadas por eles também sofrem a ação de organismos decompositores.
Minhoca (L. terrestris): pode atingir aproximadamente 25 centímetros de comprimento.

As minhocas, por exemplo, são animais detritívoros. Esses invertebrados se alimentam de matéria orgânica, como restos vegetais, dejetos e matéria animal, que são ingeridos com o solo.
O processamento da matéria orgânica pelas minhocas é importante para a fertilização do solo. Após a digestão, o material orgânico liberado por elas ainda contém muitos nutrientes, que são devolvidos ao solo por ação de microrganismos decompositores.
As relações alimentares entre os seres vivos da cadeia alimentar podem ser representadas por setas, do organismo consumido ao organismo que o consome ou o decompõe. Acompanhe a seguir.
Professor, professora: Explique aos estudantes que a cadeia alimentar representada envolve organismos da bacia do Rio Paraná, no Brasil. Nela, são representadas as seguintes espécies, do consumidor primário ao quaternário: lambari (Astyanax scabripinnis), dourado (Salminus maxillosus), lontra (Lontra longicaudis) e jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris).
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
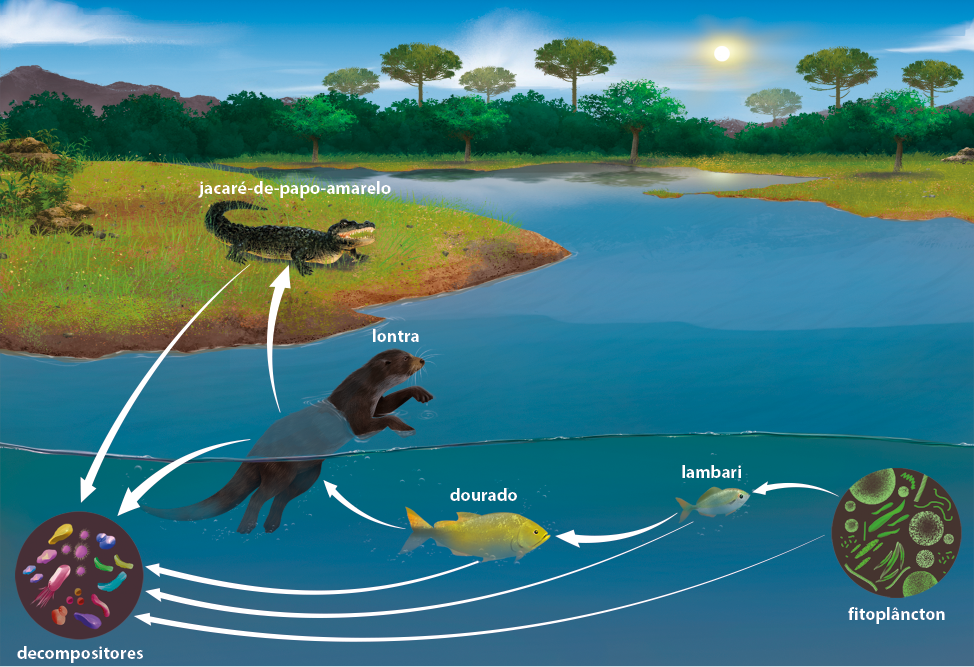
Imagem elaborada com base em: ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. p. 112, 425.
5. Que fator define os seres vivos que farão parte de determinada cadeia alimentar?
Resposta: Suas relações alimentares.
6. Identifique os consumidores da cadeia alimentar representada, classificando-os.
Resposta: Lambari: consumidor primário; dourado: consumidor secundário; lontra: consumidor terciário; jacaré-de-papo-amarelo: consumidor quaternário.
Página 164
Fluxo de energia nos sistemas ecológicos
Como você estudou anteriormente, a matéria é cíclica, podendo ser transferida ao longo da cadeia alimentar entre os seres vivos e, posteriormente, devolvida ao ambiente por meio da decomposição. E quanto à energia inicialmente fixada pelos organismos autotróficos, ela também flui de maneira cíclica nos sistemas biológicos?
Professor, professora: Incentive os estudantes a responder à questão proposta no primeiro parágrafo do tema "Fluxo de energia nos sistemas ecológicos".
O cientista austríaco Alfred James Lotka (1880-1949) foi o primeiro estudioso a considerar as populações e as comunidades dos ecossistemas como sistemas transformadores de energia e relacioná-las às leis da termodinâmica. Em 1942, o ecólogo estadunidense Raymond Lindeman (1915-1942) desenvolveu o conceito de ecossistemas como sistemas transformadores de energia.
A energia luminosa, armazenada como energia química pelos seres vivos autotróficos, é parcialmente disponibilizada aos consumidores. Isso ocorre porque, assim como os demais seres vivos, os produtores utilizam parte da energia armazenada na matéria orgânica para a manutenção, o funcionamento e o desenvolvimento do organismo, por meio da respiração celular.
Além disso, sempre há perdas associadas à conversão de energia, como ocorre durante a respiração, em que parte da energia é dissipada como calor. A energia química não utilizada pela planta fica disponível ao nível trófico posterior, isto é, aos consumidores primários, quando estes se alimentam dos produtores.
Nas gimnospermas e angiospermas, o embrião em desenvolvimento utiliza os nutrientes presentes na semente. Após germinar, surgem raízes e folhas e estas passam a realizar fotossíntese, produzindo matéria orgânica. No caso do feijoeiro, por exemplo, depois que os cotilédones✚ murcham e caem, a planta se torna um organismo autotrófico fotossintetizante.
Ao desenvolver a capacidade de realizar fotossíntese, as plantas podem armazenar certa quantidade de matéria orgânica em partes de seu corpo, como raízes, caules, frutos e sementes.
Imagem sem proporção.
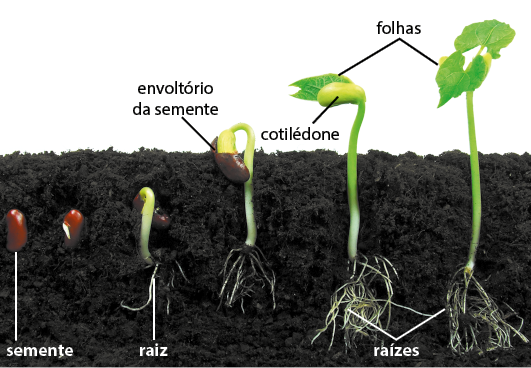
Parte da energia adquirida pelos consumidores primários é utilizada na respiração celular, eliminada na forma de fezes e urina e liberada por dissipação de calor, por exemplo. A energia restante é armazenada nos tecidos, constituindo uma fonte de energia para os consumidores secundários.
Ao longo da cadeia alimentar, cada nível trófico armazena parte da energia obtida na forma de biomassa, de modo que apenas essa porção de energia esteja disponível ao nível trófico seguinte. Assim, em todos os níveis tróficos, apenas parte da energia obtida por meio da alimentação é disponibilizada para o nível trófico seguinte.
A transferência de energia ao longo da cadeia alimentar de um ecossistema é chamada de fluxo de energia e pode ser representada por meio de setas, com espessuras variadas, direcionadas ao consumidor. Essa espessura é diretamente proporcional à quantidade de energia disponibilizada para o próximo nível trófico.
À medida que se distancia do produtor, a quantidade de energia disponibilizada ao consumidor diminui.
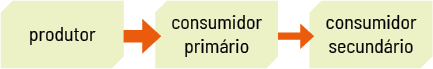
- Cotilédones:
- folhas embrionárias que contêm os nutrientes necessários para a germinação e o desenvolvimento inicial da planta.↰
Página 165
A energia disponibilizada em cada nível trófico varia entre os organismos e ecossistemas. De maneira geral, os produtores disponibilizam maior quantidade de energia na cadeia alimentar (mais de 50% do que assimilam pela fotossíntese).
Entre os consumidores, geralmente 10% da energia adquirida pela alimentação é disponibilizada ao próximo nível trófico. Essa porcentagem de transferência de energia de um nível trófico a outro é chamada de eficiência ecológica.
Acompanhe o exemplo apresentado.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
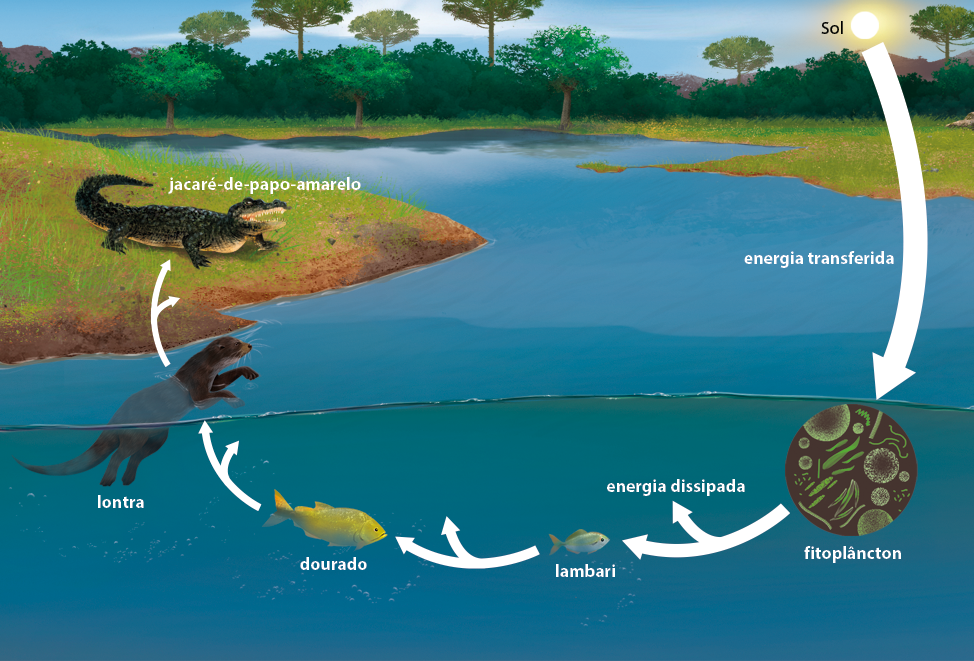
Imagem elaborada com base em: ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. p. 108, 123.
7. É possível afirmar que a onivoria pode favorecer a sobrevivência da espécie no ambiente? Justifique sua resposta.
Resposta: Sim, pois o onívoro pode atuar em diferentes níveis tróficos, tanto consumindo um produtor ou um herbívoro quanto consumidores de níveis tróficos superiores. Assim, o animal onívoro tem diversidade de fontes alimentares, reduzindo as chances de sofrer com a escassez de alimento, por exemplo.
8. Como você representaria graficamente o fluxo de energia entre os níveis tróficos?
Resposta pessoal. Incentive os estudantes a esboçar a representação no caderno, utilizando uma cadeia alimentar como exemplo.
Ao analisar o esquema anterior podemos perceber que, diferentemente da matéria, o fluxo de energia nas cadeias alimentares é unidirecional, dos produtores em direção aos consumidores.
As cadeias alimentares não são unidades isoladas no ambiente, mas estão ligadas umas às outras formando conjuntos denominados teias alimentares. Isso é possível porque os organismos têm certa versatilidade alimentar, ou seja, podem utilizar diferentes recursos alimentares e, portanto, participar de diversas cadeias alimentares, ocupando níveis tróficos distintos.
As relações tróficas estabelecidas entre os seres vivos em uma teia alimentar também podem ser representadas por setas, como nas cadeias alimentares, por meio das quais é possível identificar produtores, consumidores e decompositores em determinado ecossistema.
Página 166
Confira a seguir um exemplo de teia alimentar.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
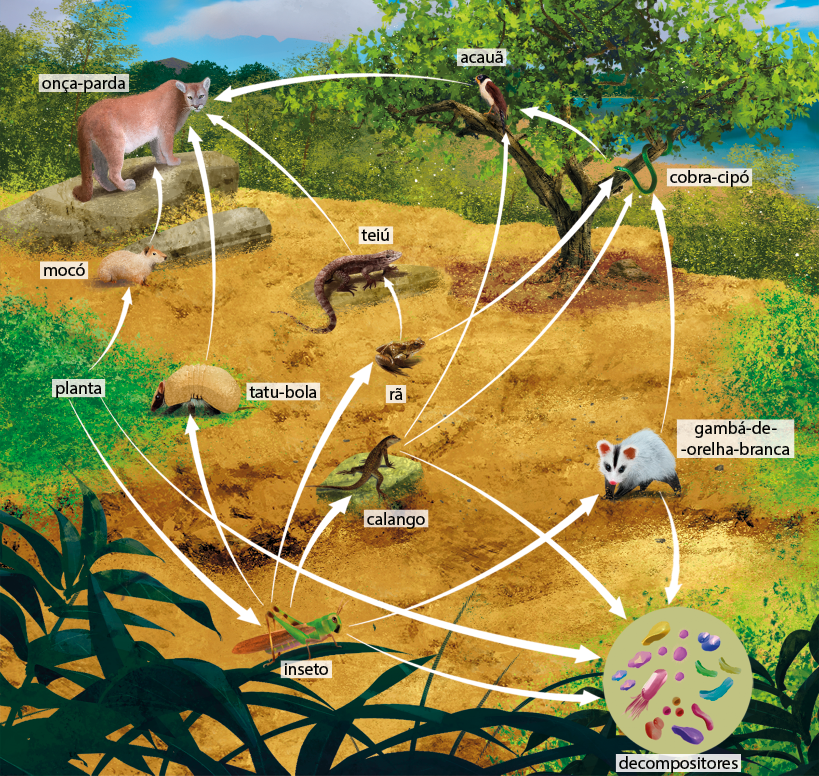
Imagem elaborada com base em: ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. p. 109.
SCARANO, Fabio Rubio (org.). Biomas brasileiros: retratos de um país plural. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. p. 104, 109, 115, 124.
Professor, professora: A teia alimentar representada é do bioma Caatinga, com as seguintes espécies: onça-parda (Puma concolor); mocó (Kerodon rupestris); tatu-bola (Tolypeutis tricinctus); calango (Tropidurus semitaeniatus); acauã (Herptotheres cachinnans); cobra-cipó (Philodryas aestivus); rã (Pseudopaludicola pocoto); gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris); teiú (Tupinambis merianae). Além destes, está representado um inseto (gafanhoto).
9. Identifique pelo menos uma cadeia alimentar na teia alimentar representada.
Resposta nas Orientações para o professor.
10. Se desconsiderarmos os decompositores, qual organismo não seria fonte de energia para outro ser vivo nessa teia alimentar? Justifique sua resposta.
Resposta: A onça-parda, por ser um predador que não é consumido por outras espécies.
Nos sistemas naturais, as relações entre os seres vivos são muito mais complexas. Inúmeras espécies podem estar envolvidas em uma única cadeia, que pode se intercruzar de diferentes maneiras com inúmeras outras por meio de variadas relações entre os seres vivos. Essa complexidade pode ser observada no modelo de teia alimentar de um ecossistema aquático. Esse modelo foi elaborado pelo ecólogo Neo Martinez (1958 -), no Laboratório de Ecologia Computacional e Ecoinformática do Pacífico, nos Estados Unidos.
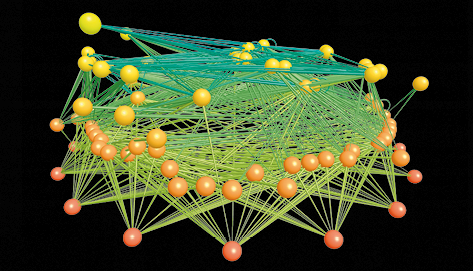
Página 167
ATIVIDADES
1. Defina os níveis tróficos a seguir.
a ) Produtores.
Resposta: Organismos que sintetizam matéria orgânica utilizando moléculas inorgânicas por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese.
b ) Consumidores.
Resposta: Organismos que obtêm matéria orgânica de outros seres vivos.
c ) Decompositores.
Resposta: Organismos que transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica.
2. Analise as alternativas a seguir e classifique-as como verdadeiras ou falsas. Em seguida, corrija as afirmativas consideradas falsas.
a ) A quantidade de energia nos sistemas biológicos aumenta à medida que se afasta do nível trófico dos produtores, pois os consumidores têm metabolismo mais acelerado e, consequentemente, geram mais energia com a quebra de moléculas orgânicas.
b ) Uma sequência na qual um organismo transfere matéria e energia para outro, por meio da alimentação, é chamada de cadeia alimentar.
c ) Os organismos decompositores podem exercer seu papel ecológico em todos os níveis tróficos e são essenciais para a ciclagem da matéria no ambiente.
d ) Em uma cadeia alimentar, todo ser vivo que se alimenta de um produtor é chamado de consumidor primário ou carnívoro.
e ) Não há perda de energia ao longo da cadeia alimentar, ou seja, toda a energia obtida é transferida de um nível trófico a outro.
3. Leia o trecho de reportagem apresentado e faça o que se pede.
Monocultura impacta cadeia alimentar
Estudo mostra que derrubada de florestas deixa ecossistemas aquáticos mais frágeis e empobrecidos
Pesquisa de Giovanna Collyer durante mestrado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) mostrou que riachos sem florestas ao redor, e cercados por plantações de cana-de-açúcar, possuem menos espécies de animais aquáticos enquanto riachos protegidos por florestas mantêm uma grande diversidade de organismos animais. [...]
Quais foram as suas descobertas nos riachos?
Observamos que os riachos impactados, isto é, aqueles cercados por áreas agrícolas, têm uma menor diversidade de espécies. Ou seja, as teias alimentares são mais simples, com menos opções para os organismos se alimentarem. Também observamos que nestes riachos há menos organismos maiores, que são os predadores.
Tudo isso aponta para uma possível instabilidade dos ecossistemas nos riachos com predominância de agricultura, principalmente a cana-de-açúcar. Isso porque, com menos diversidade, tem-se menos opções de alimentos para os organismos maiores, deixando a cadeia alimentar mais frágil e vulnerável a impactos. Então qualquer alteração a mais nesse ecossistema, como a perda de uma espécie por conta das alterações no meio ambiente, afeta toda cadeia alimentar.
MONOCULTURA impacta cadeia alimentar. Gov.br, 1 fev. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/o7c2g4. Acesso em: 26 ago. 2024.
a ) Elabore uma hipótese que explique por que uma menor opção de alimentos para organismos maiores fragiliza a cadeia alimentar.
b ) Considerando a resposta da cientista, proponha medidas que, em sua opinião, podem ajudar a atenuar os problemas apontados na pesquisa.
4. Elabore quatro cadeias alimentares utilizando os nomes dos seres vivos apresentados no quadro a seguir e setas para representar as relações alimentares. Em seguida, classifique cada ser vivo de acordo com o nível trófico ocupado.
- ave marinha
- zooplâncton
- decompositores
- tubarão
- ser humano
- peixe
- algas
Respostas das questões 2, 3 e 4 nas Orientações para o professor.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
4. Em dupla, elaborem quatro cadeias alimentares utilizando os nomes dos seres vivos apresentados no quadro a seguir e setas para representar as relações alimentares. Em seguida, classifiquem cada ser vivo de acordo com o nível trófico ocupado.
- ave marinha
- zooplâncton
- decompositores
- tubarão
- ser humano
- peixe
- algas
Resposta: Os estudantes podem montar as seguintes cadeias
alimentares:
I ) algas (produtor) seta para a direita peixes (consumidor primário)
II ) algas (produtor) seta para a direita peixes (consumidor primário) seta para a direita tubarão (consumidor secundário)
III ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário)
IV ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário) seta para a direita peixes (consumidor secundário)
V ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário) seta para a direita peixes (consumidor secundário) seta para a direita tubarão (consumidor terciário)
VI ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário) seta para a direita peixes (consumidor secundário) seta para a direita ser humano (consumidor terciário)
VII ) algas (produtor) seta para a direita zooplâncton (consumidor primário) seta para a direita peixes (consumidor secundário) seta para a direita ave marinha (consumidor terciário)
Orientação para acessibilidade
Professor, professora: Organize as duplas de modo que o estudante não vidente esteja acompanhado de um estudante vidente. Oriente-os a inicialmente conversar sobre as possíveis cadeias alimentares. Em seguida, solicite ao estudante não vidente que dite cada uma das cadeias alimentares para o estudante vidente, que deverá representá-las no caderno. Por fim, peça ao estudante vidente que leia as cadeias elaboradas para o não vidente e, juntos, classifiquem cada um dos seres vivos quanto ao nível trófico que ocupam. Você também pode orientar cada um deles a classificar os indivíduos de duas das cadeias alimentares propostas.
Página 168
5. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões.
As mudanças climáticas podem impactar a distribuição potencial de dois fungos decompositores de madeira (Auricularia brasiliana e Megasporoporia neosetulosa) no neotrópico, região que abrange o sul dos Estados Unidos e México, a América Central, o Caribe e a América do Sul. [...]
[...] "Foi observado que, mesmo para o cenário otimista, há uma redução de habitats climaticamente adequados para ocorrência de ambas espécies. [...]
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Clima interfere na distribuição de dois fungos decompositores de madeira. 6 nov. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/cudekn. Acesso em: 26 ago. 2024.
a ) Que efeitos ambientais a redução na quantidade de decompositores nos ecossistemas pode acarretar?
Resposta: Os estudantes podem citar que a redução na quantidade de decompositores pode prejudicar a disponibilidade de nutrientes inorgânicos para os produtores, afetando também os demais níveis das cadeias alimentares, além do acúmulo de restos de outros seres vivos, como animais e plantas no ambiente.
b ) Cite outra consequência das mudanças climáticas que, em sua opinião, poderá afetar a Terra e seus habitantes.
Resposta: Os estudantes podem citar o aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, furacões, secas e chuvas intensas e prolongadas.
6. Leia o texto a seguir.
De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o estado teve 6.587 incidentes com animais peçonhentos, incluindo o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus).
Alguns estudos indicam que a grande quantidade de casos envolvendo esse animal está relacionada ao aumento da incidência de escorpiões em áreas urbanas, em decorrência da destruição do hábitat natural deles.
Escorpião-amarelo (T. serrulatus): pode atingir aproximadamente 7 centímetros de comprimento.

Sobre essa situação, responda às questões a seguir.
a ) A barata é um dos alimentos dos escorpiões-amarelos. Com base nessa informação, cite um cuidado que as pessoas devem ter em suas residências, por exemplo, para reduzir a incidência desses escorpiões em áreas urbanas.
b ) Ações relacionadas à preservação de predadores naturais do escorpião-amarelo, tais como lagartos, sapos e aves de hábitos noturnos, como corujas, também contribuem para reduzir a incidência desses escorpiões nas áreas urbanas. De que forma isso ocorre?
c ) Pode-se afirmar que o texto apresentado no enunciado da questão trata de relações alimentares? Justifique sua resposta.
d ) Como o ser humano pode ser responsável pelo aumento da ocorrência de acidentes com escorpiões-amarelos?
e ) Elabore três possíveis cadeias alimentares com base nos animais citados nesta atividade. Considere que as baratas se alimentam de matéria orgânica de animais, fungos, madeira, flores, fezes de aves e mamíferos, além de açúcar.
Respostas nas Orientações para o professor.
7. Analise as fotografias a seguir, que mostram bem-te-vis se alimentando.
Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus): pode atingir aproximadamente 26 centímetros de comprimento.
A.

B.

a ) De acordo com as imagens, em quais níveis tróficos o bem-te-vi pode ser classificado?
Resposta: O bem-te-vi se alimentando do fruto atua como consumidor primário. Quando se alimenta da lagarta, provavelmente está atuando como consumidor secundário, pois as lagartas se alimentam principalmente de vegetais.
b ) Considerando os alimentos consumidos pelo bem-te-vi, em qual situação (A ou B) a transferência de energia será menor entre um nível trófico e o outro? Justifique sua resposta.
Resposta: Na situação em que o bem-te-vi se alimenta da lagarta, pois nesse caso o bem-te-vi atua como consumidor secundário; assim, quanto mais distante do produtor, menor a quantidade de energia disponibilizada ao consumidor.
Página 169
Pirâmides ecológicas
11. Explique aos colegas como você representaria graficamente a quantidade de matéria e de energia em uma cadeia alimentar.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a expor seus conhecimentos e opiniões aos colegas, além de possibilitar a eles que reconheçam que é possível representar dados e informações de maneiras distintas. Se considerar pertinente, oriente-os a fazer essa representação no caderno.
As pirâmides ecológicas são representações gráficas dos diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar pelos quais a matéria e a energia são transferidas. Essas representações são formadas por barras sobrepostas, que podem representar a quantidade de indivíduos, de biomassa ou de energia nos diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. A altura das barras geralmente é constante, enquanto o comprimento varia proporcionalmente conforme o valor representado por elas.
A base das pirâmides ecológicas representa o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, composta dos produtores. Já as camadas superiores correspondem aos níveis tróficos dos consumidores. Os decompositores não são representados nas pirâmides ecológicas. Com exceção da pirâmide de energia, as pirâmides ecológicas podem ser invertidas, dependendo da cadeia alimentar representada.
Pirâmide de energia
A pirâmide de energia foi idealizada por Raymond Lindeman e representa a quantidade de energia armazenada em cada nível trófico, na forma de matéria orgânica, por unidade de área abre parênteses m elevado ao quadrado fecha parênteses ou volume abre parênteses m elevado ao cubo fecha parênteses e em determinada unidade de tempo. Essa quantidade de energia é expressa em caloria abre parênteses caloria fecha parênteses, quilocaloria quilocaloria ou joule abre parênteses J fecha parênteses.
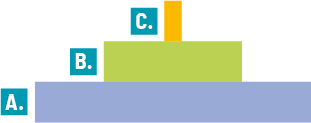
A base dessa pirâmide é larga (A). Já as camadas superiores (B e C) são sucessivamente menores. A transferência de energia é unidirecional entre os níveis tróficos e parte dela é dissipada para o ambiente ou utilizada pelo ser vivo. Dessa maneira, quanto mais afastada estiver da base, menor será a quantidade de energia disponível ao próximo nível trófico.
O comprimento da base de uma pirâmide de energia é determinado pela chamada produtividade primária líquida (PPL), ou seja, pela quantidade de energia, sob a forma de matéria orgânica, que está disponível para o nível trófico seguinte. A PPL é determinada com base em outras taxas, como as abordadas a seguir.
A taxa em que um produtor converte energia solar em energia química na forma de biomassa, isto é, a quantidade de matéria orgânica que ele é capaz de produzir, é chamada de produtividade primária bruta (PPB).
Parte da energia contida na matéria orgânica é utilizada pelo próprio ser vivo na respiração celular (R), para se manter vivo, crescer e se reproduzir. Essa taxa inclui também a quantidade de energia dissipada para o ambiente na forma de calor. Ou seja, essa parte da energia não está disponível aos consumidores.
Assim, a quantidade de energia disponibilizada aos consumidores pode ser calculada da seguinte forma:
P P L é igual a P P B menos R
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
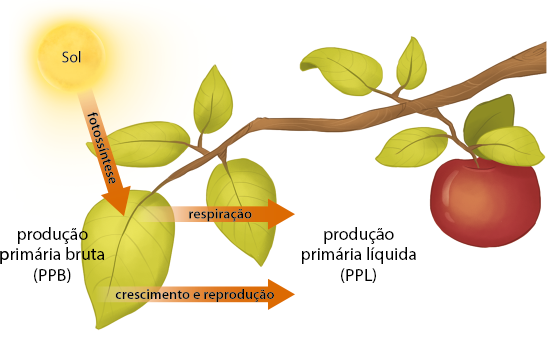
Página 170
A produção se refere tanto ao processo de formação de matéria orgânica pela fotossíntese, no caso dos autótrofos, quanto à incorporação da matéria orgânica, obtida pela alimentação, nos tecidos dos heterótrofos. O comprimento das barras dos consumidores pode ser determinado de modo semelhante:
P P L é igual a P P B menos R
em que:
- PPB representa a matéria orgânica fixada nos tecidos dos consumidores;
- R se refere à energia utilizada na respiração celular e dissipada no ambiente;
- PPL é a energia disponível ao próximo nível trófico.
Dica
Quando a produtividade se refere à formação de matéria orgânica por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese pelos produtores, ela é denominada produtividade primária. Quando se refere à quantidade de matéria orgânica formada por meio da energia obtida pela alimentação, no caso dos consumidores, é chamada de produtividade secundária.
12. Ao analisar uma pirâmide de energia, a que corresponde a diferença de comprimento entre suas barras?
Resposta: Corresponde à quantidade de energia que não foi transferida de um nível trófico a outro.
A relação entre produtividade bruta e produtividade líquida pode variar entre diferentes ecossistemas e depende das taxas de uso e assimilação da energia pelos organismos. Essas taxas interferem diretamente na produção, isto é, na quantidade de matéria orgânica armazenada em cada nível trófico e que se torna disponível ao nível trófico seguinte.
A tabela a seguir fornece dados aproximados da proporção de energia assimilada em cada nível trófico (produção) e a quantidade energética desviada para o uso do próprio organismo (respiração).
| Nível trófico | Produção (%) | Respiração (%) |
|---|---|---|
|
Produtores |
60-70 |
30-40 |
|
Consumidores primários |
40-50 |
50-60 |
|
Consumidores secundários |
5-10 |
90-95 |
Fonte de pesquisa: ODUM, Eugene P.; BARRET, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 110.
13. O que é possível afirmar a respeito da produção e da respiração em cada nível trófico?
Resposta: Quanto mais elevado for o nível trófico, maior será a proporção de energia utilizada pelo próprio organismo na respiração celular. Como consequência, a produção será menor, ou seja, a proporção de energia que é armazenada e disponibilizada ao próximo nível trófico.
14. Que nível trófico apresenta uma transferência de energia mais eficiente? Justifique sua resposta.
Resposta: O nível trófico dos produtores, pois eles utilizam menor proporção da energia na manutenção do próprio organismo, transferindo uma porcentagem maior aos demais níveis tróficos se comparados aos consumidores.
A eficiência ecológica mede a quantidade de energia transferida de um nível trófico a outro, sendo um fator limitante da quantidade de níveis tróficos na cadeia alimentar. A eficiência da transferência depende da produção líquida consumida pelos seres vivos do nível subsequente e de como a energia é usada para a produção e a manutenção das atividades metabólicas desses organismos.
Os mamíferos e as aves, por exemplo, apresentam baixa eficiência de produção, já que gastam grande parte da energia para manter a temperatura corporal. Animais carnívoros demonstram maior eficiência do que os herbívoros, pois a digestão de tecidos vegetais demanda mais energia do que a de tecidos animais. Porém, os herbívoros necessitam de menor produção primária do que os carnívoros para se manterem.
As baleias são mamíferos aquáticos e mantêm a temperatura corporal relativamente constante (aproximadamente 37 graus Celsius), embora a temperatura do mar possa atingir valores negativos em determinadas épocas do ano. Assim, uma grande quantidade de energia é necessária para gerar calor e manter a temperatura corporal relativamente constante.
Baleia-jubarte (M. novaeangliae): pode atingir aproximadamente 16 metros de comprimento.

Página 171
Pirâmides de biomassa e de números
A biomassa consiste na quantidade de matéria orgânica do corpo de um organismo, ou seja, sua massa corporal, em determinado nível trófico da cadeia alimentar, e é transferida ao longo dos diferentes níveis tróficos. Ela é expressa em peso seco, pois a água é uma molécula inorgânica e, portanto, não é utilizada como fonte de energia. Além disso, a biomassa é apresentada por unidade de área (grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado) ou volume abre parênteses grama por metro cúbico fecha parênteses em determinado momento ou por certo período.
A pirâmide de biomassa pode ser invertida, dependendo dos organismos envolvidos e das relações estabelecidas entre eles. No caso das cadeias alimentares aquáticas, por exemplo, o peso seco do fitoplâncton é menor do que o do zooplâncton. Contudo, como a reprodução desses produtores é muito rápida, eles conseguem sustentar a biomassa dos consumidores.

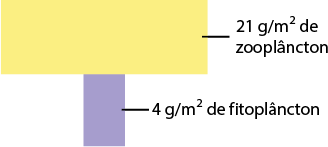
A pirâmide de números representa a quantidade de organismos existentes em cada nível trófico de uma cadeia alimentar e mostra a quantidade necessária de organismos para a dieta de cada um dos seres vivos envolvidos. Em muitas cadeias alimentares, quanto mais elevado for o nível trófico, maior será o tamanho corporal dos organismos envolvidos e, consequentemente, mais energia eles precisarão consumir.
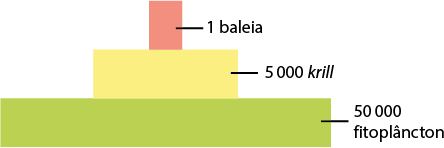
Assim, é necessário grande quantidade de organismos em um nível trófico mais basal para alimentar uma quantidade cada vez menor de organismos nos níveis tróficos superiores.
As pirâmides de números podem ter formatos variados, dependendo dos organismos que compõem a cadeia alimentar e das relações entre eles. Confira o exemplo apresentado.
Alguns herbívoros, como os búfalos, são maiores do que seus predadores, os leões, que muitas vezes caçam em bando. Por isso, um único búfalo pode servir de alimento para vários leões.

Imagens elaboradas com base em: ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary. W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. p. 103.
15. Represente uma pirâmide de números abre parênteses indivíduos barra m elevado ao quadrado fecha parênteses hipotética de uma relação alimentar entre 1 árvore frutífera, 10 macacos e 1.000 piolhos.
Resposta: A pirâmide deve ser invertida: base fina, representando a árvore, e as camadas superiores, representando os macacos e os piolhos, sucessivamente mais largas.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
15. Explique aos colegas como seria uma pirâmide de números abre parênteses indivíduos barra m elevado ao quadrado fecha parênteses hipotética de uma relação alimentar entre 1 árvore frutífera, 10 macacos e 1.000 piolhos.
Resposta: Espera-se que os estudantes reconheçam que a pirâmide deve ser invertida, com as seguintes características: base estreita, representando a árvore, e as camadas superiores, representando os macacos e os piolhos, sucessivamente mais largas.
16. Por que as pirâmides de biomassa e de números podem ser invertidas, mas a de energia não?
Resposta: Na pirâmide de energia, a quantidade de energia disponível para os níveis tróficos superiores na cadeia alimentar sempre é menor, por causa do uso e da perda de parte da energia, principalmente pela respiração. Ou seja, o fluxo é unidirecional.
Página 172
PRÁTICA CIENTÍFICA
Produção de carboidratos pelas plantas
Por dentro do contexto
Durante a fotossíntese, as plantas produzem carboidratos, como a glicose. Essas moléculas orgânicas são utilizadas para diversas atividades que demandam energia, como a reprodução, o desenvolvimento e o crescimento. Parte dessa glicose acaba, no entanto, não sendo consumida imediatamente, podendo ser armazenada sob a forma de amido.
O amido é um polissacarídeo formado por milhares de moléculas de glicose e armazenado em diversas partes da planta, como raízes, caules, frutos e folhas. Ao ser armazenado, pode ser utilizado pela planta como fonte de energia para suprir as demandas de seu metabolismo mesmo na ausência de luz, situação em que a produção de glicose é reduzida.

a ) Considerando essas informações, reflita: que fatores externos e internos à planta podem influenciar a quantidade armazenada de amido?
Resposta nas Orientações para o professor.
Materiais
- folhas variegadas✚ recém-coletadas de Coleus sp.
- folhas recém-coletadas de feijoeiro
- folhas recém-coletadas de feijoeiro mantido previamente no escuro por 72 horas
- fonte de aquecimento sem chama
- solução de lugol (2%)
- placa de Petri ou outro suporte raso de vidro
- recipiente de vidro transparente de 250 mililitros
- recipiente de vidro transparente de 500 mililitros
- água
- álcool etílico comercial (96%)
- pinça
- cronômetro
- lápis de cor
- caderno
Como proceder
A. Desenhe o aspecto das folhas de Coleus sp. e de feijoeiro. Identifique as folhas do feijoeiro diferenciando as que foram mantidas no claro das que ficaram no escuro por 72 horas. Atente para as áreas mais escuras e mais claras da folha variegada representando esse padrão o mais próximo possível do identificado.
Dica
Você pode diferenciar e identificar as folhas de feijoeiro fazendo pequenos cortes na extremidade de cada uma delas. O registro dos aspectos das folhas também pode ser feito por meio de fotografias, com o uso de um smartphone com câmera fotográfica.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.
- Variegadas:
- nesse contexto, referem-se a folhas que apresentam tonalidades variadas ao longo de sua superfície. ↰
Página 173
B. Peça a um adulto que mergulhe as folhas em água fervente, mantendo-as nessa condição por 30 segundos.
C. Com a pinça, peça ao adulto que transfira as folhas para o recipiente de vidro de 250 mililitros contendo álcool etílico em banho-maria (recipiente de vidro de 500 mililitros). Deixe-as no álcool até que liberem por completo os pigmentos.
Cuidado
Apenas um adulto deve manipular a água fervente.

D. Com a pinça, retire as folhas despigmentadas do álcool etílico e posicione-as sobre a placa de Petri.
E. Pingue algumas gotas da solução de lugol nas folhas, até que essa solução se espalhe por toda a superfície foliar. Deixe agir por cerca de 3 minutos.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
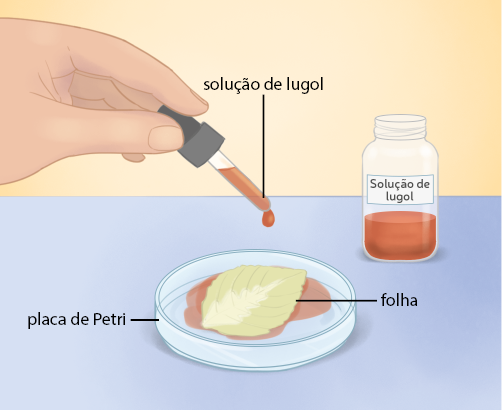
F. Lave a folha com água para retirar o excesso da solução de lugol.
G. Registre novamente o aspecto das folhas.
Dica
O iodo, presente na solução, reage com o amido, produzindo uma substância de coloração arroxeada.
Análise e divulgação
1. Compare o registro do resultado obtido para a folha variegada na etapa G com o registro inicial dessa folha. Quais diferenças você notou após o tratamento com a solução de lugol? Como você as explicaria?
2. Que diferenças você identificou entre as folhas do feijoeiro mantido no escuro por 72 horas e as que não sofreram a privação de luz solar?
3. Elabore uma hipótese para explicar as diferenças que você identificou entre as duas situações exploradas na questão anterior. Para isso, considere os fatores externos e internos à planta que, possivelmente, influenciam a produção e o armazenamento de amido.
4. De que modo os resultados desse experimento podem ser relacionados ao papel ecológico que as plantas exercem nas cadeias alimentares?
5. Elabore cartazes com a descrição da prática desenvolvida e dos resultados obtidos. Insira perguntas sobre o experimento deixando um espaço no cartaz para que alguns leitores respondam às questões. Alguns dias depois, afixe um segundo cartaz, ao lado do primeiro, contendo as respostas às perguntas presentes no primeiro cartaz.
Resposta nas Orientações para o professor.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
5. Em dupla, elaborem cartazes com a descrição da prática desenvolvida e dos resultados obtidos. Insiram perguntas sobre o experimento deixando um espaço no cartaz para que alguns leitores respondam às questões. Alguns dias depois, afixem um segundo cartaz, ao lado do primeiro, contendo as respostas às perguntas presentes no primeiro cartaz.
Resposta pessoal. O objetivo desta prática é promover a divulgação dos resultados obtidos e a troca de conhecimento entre os estudantes.
Orientação para acessibilidade
Professor, professora: Organize as duplas de modo que o estudante não vidente esteja acompanhado de um estudante vidente. Oriente-os a inicialmente conversar sobre as perguntas que serão apresentadas no cartaz, enfatizando que ambos devem participar da elaboração das questões. As perguntas selecionadas serão ditadas pelo estudante não vidente e escritas no cartaz pelo estudante vidente.
Página 174
CONEXÕES com ... FÍSICA
A energia dos alimentos
Os alimentos fornecem a energia química de que nosso corpo precisa para crescer, desenvolver-se e realizar as atividades do dia a dia. Nesse sentido, para fazermos escolhas mais adequadas ao bom funcionamento do organismo, é fundamental atentar às informações contidas nas embalagens dos alimentos.
a ) Você já reparou nas informações presentes nos rótulos dos alimentos? O que significa o valor energético que aparece nesses rótulos?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é verificar se os estudantes têm o costume de ler o rótulo das embalagens dos alimentos para identificar a quantidade de quilocalorias que eles contêm. Além disso, por meio dela é possível levantar o conhecimento prévio deles a respeito do valor energético dos alimentos.
Os alimentos são constituídos por diferentes nutrientes, que armazenam energia em suas ligações químicas, entre eles os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Essa energia pode ser calculada, visando à previsão da quantidade contida em determinado alimento.
Uma das informações nutricionais dos rótulos dos alimentos refere-se a seu valor energético, ou seja, à quantidade de calorias presente neles. Em geral, o valor energético apresentado nas embalagens é expresso em quilocaloria quilocaloria.
Dica
1 quilocaloria é equivalente a 1.000 calorias abre parênteses caloria fecha parênteses.
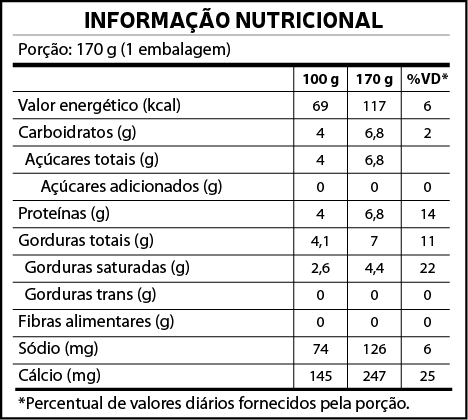
Para determinar o valor energético de um alimento, deve-se considerar as quantidades de carboidratos, lipídios e proteínas que o compõem, bem como a quantidade de calorias geradas por meio da decomposição desses nutrientes. Confira no quadro desta página o valor calórico contido em 1 grama desses nutrientes, determinado experimentalmente por um calorímetro.
| Nutriente | Valor calórico* |
|---|---|
|
Carboidratos |
aproximadamente 4 quilocalorias |
|
Lipídios |
aproximadamente 10 quilocalorias |
|
Proteínas |
aproximadamente 4 quilocalorias |
* Valores aproximados.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
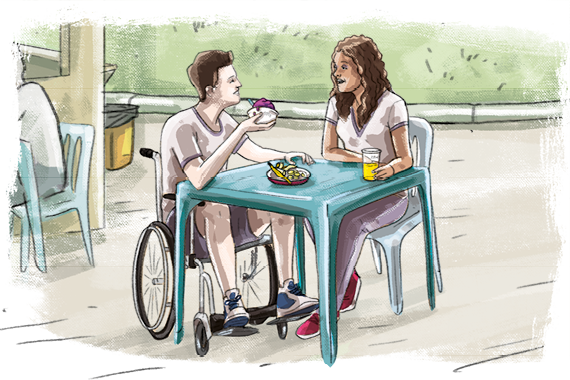
O valor energético informado no rótulo dos alimentos varia de acordo com a composição do alimento e deve ser considerado por porção. O valor calórico de 100 gramas de açaí, por exemplo, é de 107 quilocalorias. Já 250 mililitros de suco de laranja contêm aproximadamente 120 quilocalorias.
Página 175
Segundo nutricionistas e médicos especialistas, a quantidade de calorias de que o corpo humano precisa diariamente varia conforme a idade, a massa corpórea, a altura e as atividades desempenhadas. Dessa maneira, cada pessoa deve se alimentar adequadamente, ingerindo alimentos que contenham os nutrientes necessários para liberar a energia química utilizada pelo corpo, bem como outros nutrientes essenciais para manter a saúde, tais como carboidratos, proteínas, lipídios, além das vitaminas e dos sais minerais presentes em frutas, verduras e grãos.
Dica
Dê preferência a alimentos in natura ou minimamente processados.
Dica
A energia dos alimentos é utilizada pelo corpo para manter suas atividades ou gerar calor. No entanto, quando fornecemos a ele mais energia do que gastamos, esse excesso é armazenado como energia potencial química em forma de gordura.
O acompanhamento do profissional de nutrição, por exemplo, é fundamental para o cálculo correto das calorias de que o corpo necessita para funcionar adequadamente.
A energia necessária ao bom funcionamento do organismo é a energia potencial disponível para ser liberada em reações químicas que ocorrem no interior das células.
Ao realizar uma atividade física, a energia química obtida dos alimentos é liberada pelo processo da respiração celular, que acontece nas mitocôndrias. O carboidrato consumido em uma refeição, por exemplo, é quebrado em componentes menores pelo processo de digestão, produzindo a glicose, que será utilizada durante a respiração celular. Esse processo resulta na produção de adenosina trifosfato (ATP), molécula que atua, por exemplo, na contração muscular, possibilitando realizar diferentes movimentos do corpo.

Imagem sem proporção e em cores fantasia.
b ) Avalie os alimentos que você ingere no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Com base no valor energético desses alimentos (disponível no rótulo das embalagens, caso tenham), calcule a quantidade aproximada de calorias ingeridas diariamente.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é incentivar os estudantes a verificar e analisar a quantidade de energia presente nos alimentos e, com base nessa análise, refletir sobre a ingestão de calorias ao longo do dia. Essa atividade visa promover a conscientização sobre a nutrição e a importância de uma alimentação equilibrada, sem focar em julgamentos pessoais.
c ) Com base em sua resposta à questão anterior, converse com os colegas sobre as possíveis razões relacionadas às diferenças dos resultados.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é incentivar os estudantes a refletir sobre a variação na quantidade de energia fornecida a cada organismo, que pode variar de acordo com diferentes fatores, como hábitos alimentares do indivíduo, massa corpórea, altura, idade e atividades realizadas.
d ) Junte-se a um colega e façam uma lista dos alimentos mais consumidos por vocês. Em seguida, elaborem um cartaz com os rótulos desses alimentos, mostrando os valores energéticos de cada um deles. Depois, ilustrem uma refeição destacando os alimentos mais adequados a uma vida saudável. Por fim, apresentem o cartaz à turma.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a verificar os valores energéticos de diferentes alimentos consumidos por eles, de modo a identificar quais fornecem maior ou menor quantidade de energia ao organismo.
Página 176
ATIVIDADES
1. Explique a estrutura básica de uma pirâmide ecológica e de que modo os diferentes níveis tróficos são apresentados nessa representação.
Resposta: Nas pirâmides ecológicas, cada nível trófico de uma cadeia alimentar é representado por barras sobrepostas com altura constante e comprimento variável. A base das pirâmides representa os produtores e as camadas subsequentes, os consumidores.
2. Sobre as pirâmides ecológicas de energia e o fluxo de energia entre os níveis tróficos de uma cadeia alimentar, identifique a alternativa que apresenta a resposta correta.
I ) A barra que representa os produtores em uma pirâmide de energia é menor do que as barras que representam os demais níveis da cadeia.
II ) O comprimento da base da pirâmide é determinado pela quantidade de energia sob a forma de matéria orgânica que está disponível ao nível trófico subsequente, ou seja, pela produtividade primária bruta (PPB).
III ) O fluxo de energia nas cadeias alimentares é unidirecional, partindo dos produtores em direção aos consumidores.
IV ) A cada nível trófico de uma cadeia ocorre perda de parte da energia adquirida do nível trófico anterior, e isso é representado nas pirâmides de energia por retângulos de comprimentos cada vez menores à medida que se distanciam da base.
a ) I e II estão corretas.
b ) III e IV estão corretas.
c ) Todas estão corretas.
d ) Nenhuma delas está correta.
Resposta: Alternativa b. Comentários nas Orientações para o professor.
3. Diferencie produtividade primária bruta de produtividade primária líquida.
4. Analise os dados da tabela a seguir e responda às questões propostas.
| Ambiente | Área abre parênteses m elevado ao quadrado fecha parênteses | Média de produtividade primária líquida abre parênteses g barra m elevado ao quadrado barra ano fecha parênteses |
|---|---|---|
|
Floresta úmida tropical |
17 vezes 10 elevado a 12 |
2.200 |
|
Oceano |
332 vezes 10 elevado a 12 |
125 |
Fonte de pesquisa: ODUM, Eugene P.; BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 89.
a ) Qual dos dois ecossistemas (floresta úmida tropical e oceano) apresenta maior produtividade primária líquida (PPL) por unidade de área? O que isso significa, considerando a produção de matéria orgânica?
b ) Qual é a quantidade de matéria orgânica produzida e disponibilizada na cadeia alimentar por esses ecossistemas, durante um ano, considerando toda sua extensão?
c ) Com base nos resultados obtidos no item b, o que você pode concluir sobre a PPL e a quantidade de matéria orgânica produzida na Terra?
5. Considerando os conceitos de sistemas térmicos abertos e fechados, os seres vivos poderiam ser relacionados a qual desses sistemas? Justifique sua resposta.
6. Sobre as pirâmides biológicas de biomassa, identifique a alternativa correta.
a ) A pirâmide de biomassa nunca será invertida.
b ) A pirâmide de biomassa apresenta a quantidade de quilocaloria armazenada em forma de matéria orgânica em cada nível trófico.
c ) O comprimento de cada uma das barras da pirâmide é proporcional à quantidade de matéria orgânica, em peso seco, de cada nível trófico, por unidade de área ou volume, em determinado momento ou por determinado período.
d ) Os decompositores são representados nesse tipo de pirâmide.
Resposta: Alternativa c.
7. Identifique os tipos de pirâmides ecológicas mostrados a seguir e, em seguida, explique, com suas palavras, cada uma delas.
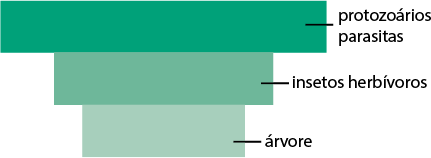
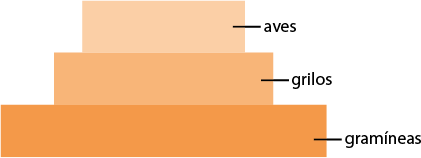
Respostas das questões 3, 4, 5 e 7 nas Orientações para o professor.
Página 177
CAPÍTULO10
Ciclagem de matéria no ambiente
Matéria, um componente em circulação no ambiente
A destinação correta dos resíduos urbanos é um problema ambiental atual comum a diversos países. Segundo dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), cada habitante no Brasil produziu, em 2022, cerca de 1 vírgula 0 4 quilograma de resíduos sólidos por dia, o que corresponde a cerca de 380 quilogramas de resíduos por habitante em um ano. Observe o gráfico "Quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil, por região (2022)" e, em seguida, leia a manchete a seguir.
Quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil, por região (2022)
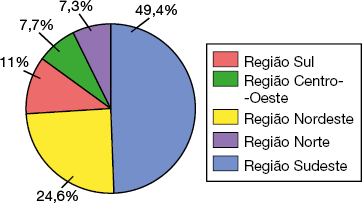
Fonte de pesquisa: PANORAMA. Abrema. Disponível em: https://s.livro.pro/rjtdwa. Acesso em: 13 jul. 2024.
PNUMA: O mundo precisa superar a era do desperdício e transformar o lixo em recurso
Disponível em: https://s.livro.pro/un5t2w. Acesso em: 13 jul. 2024.
Professor, professora: Comente com os estudantes que lixo é o termo popular usado para se referir aos resíduos sólidos descartados ou considerados sem utilidade.
1. De acordo com o gráfico, qual é a região com maior geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil? Como você explicaria esse dado?
Resposta: A região Sudeste (49,4%). Os estudantes podem citar entre os motivos que se trata de uma região muito populosa, com grande quantidade de indústrias, favorecendo a geração de resíduos.
2. O que você entende por "transformar o lixo em recurso", citado na manchete?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que os resíduos sólidos descartados poderiam ser transformados em novos produtos ou em energia.
3. Cite duas medidas que ajudem a reduzir a geração e o descarte de resíduos no ambiente.
Resposta pessoal. Os estudantes podem citar: reduzir o consumo de produtos; aumentar as taxas de reciclagem de materiais; incentivar o reaproveitamento de materiais para outras finalidades.
Já estudamos que a matéria não é criada nem destruída, ela é transformada, seja por meio de processos artificiais, como a reciclagem, seja por meios naturais. Nesse último caso, os elementos químicos se movimentam entre os diferentes compartimentos do ambiente e entre seus componentes.
Cada elemento químico percorre um caminho característico no ambiente, que é conhecido como ciclo biogeoquímico e envolve diferentes etapas e processos. A fotossíntese, por exemplo, é um processo presente na ciclagem de diversos elementos químicos, como carbono abre parênteses C fecha parênteses e oxigênio abre parênteses O fecha parênteses, além de interferir no ciclo hidrológico.
Agora, abordaremos alguns ciclos biogeoquímicos de maneira simplificada.
Ciclo biogeoquímico do oxigênio
Como estudamos anteriormente, o gás oxigênio foi injetado em grande quantidade na atmosfera terrestre após a origem dos seres vivos autotróficos. A presença desse gás possibilitou que diversas outras formas de vida se desenvolvessem, favorecendo a diversificação da vida na Terra.
Página 178
O gás oxigênio corresponde a cerca de 21% dos gases da atmosfera terrestre atual e pode ser encontrado livre no ar, dissolvido na água abre parênteses H subscrito 2 O fecha parênteses ou em associação com outros elementos químicos. É um elemento essencial para a existência de diversas formas de vida, entre elas a humana. Acompanhe a seguir uma representação simplificada do ciclo biogeoquímico do oxigênio.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 58-59.
1. Os átomos de oxigênio livres podem se ligar a moléculas de gás oxigênio originando o gás ozônio abre parênteses O subscrito 3 fecha parênteses, que forma a camada de ozônio. A radiação ultravioleta também pode provocar a decomposição do gás ozônio, resultando em oxigênio livre e gás oxigênio.
2. O gás oxigênio atua como comburente em reações de combustão, ou seja, de queima de materiais, liberando energia nas formas de luz e calor. Algumas combustões ocorrem naturalmente, como as queimadas em determinadas épocas do ano no Cerrado, em razão, por exemplo, de descargas elétricas na vegetação seca.
3. A liberação do gás oxigênio para a atmosfera é realizada principalmente pela fotossíntese, que ocorre tanto nos ambientes aquáticos como nos terrestres.
4. A respiração aeróbia realizada pela maioria dos seres vivos, tanto nos ambientes terrestres como nos aquáticos, utiliza o O subscrito 2 no processo de quebra das moléculas orgânicas, liberando energia para as atividades celulares.
5. O gás oxigênio pode se difundir da atmosfera para a água, e vice-versa.
6. Alguns seres vivos decompositores utilizam o gás oxigênio para a decomposição da matéria orgânica.
Página 179
Ciclo biogeoquímico da água
4. Estudamos a importância da água para os seres vivos. Cite três funções realizadas por ela nos seres vivos e nas células.
Resposta: A água é responsável por transportar substâncias do meio externo para o meio interno das células, e vice-versa; é considerada solvente universal; participa das reações químicas no interior das células; faz parte da constituição de todas as células e todos os seres vivos.
A água pode ser encontrada no ambiente nos estados físicos sólido, líquido e gasoso. Seus maiores reservatórios são representados pelos oceanos, seguidos das geleiras e calotas polares; já a atmosfera é a porção que contém a menor quantidade de água na Terra. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, envolve a coleta e a distribuição da água do planeta, que se movimenta do ambiente aos seres vivos, e vice-versa.
Acompanhe a seguir uma representação simplificada do ciclo hidrológico.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
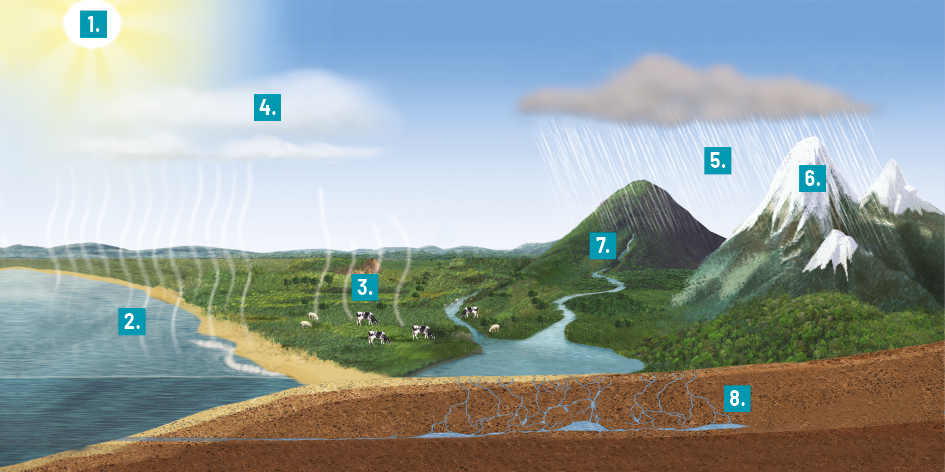
Imagem elaborada com base em: MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 56.
1. O calor proveniente dos raios solares aquece a superfície terrestre e seus componentes.
2. Parte da água presente na superfície terrestre, como em corpos de água, evapora.
3. Os seres vivos também liberam água para a atmosfera por meio da respiração e da transpiração.
4. Por ser menos densa, a água no estado gasoso se move em direção às camadas superiores da atmosfera. Nessas camadas, o vapor de água encontra camadas de ar mais frias e se condensa em pequenas gotículas de água, que se tornam visíveis, originando as nuvens.
5. Em condições adequadas, as gotículas de água líquida precipitam sob a forma de chuva na superfície terrestre.
6. Parte da água proveniente da chuva fica retida nas geleiras.
7. Outra parte da água das chuvas escorre sobre a superfície terrestre.
8. A água da chuva também pode se infiltrar no solo, abastecendo os reservatórios subterrâneos. Esses reservatórios, com a água do escoamento superficial, podem recarregar tanto rios, lagos e lagoas quanto mares e oceanos.
Compartilhe ideias
A água é essencial para a manutenção da vida. Esse recurso está disponível para os seres vivos por meio do ciclo da água, mas será que vai acabar um dia?
a ) Junte-se a um colega e conversem sobre essa questão. Elaborem um texto dissertativo com a resposta à pergunta e os principais argumentos que deem suporte a esse posicionamento.
Resposta pessoal. Os estudantes podem argumentar que, com relação à água na superfície terrestre e que circula constantemente no ciclo da água, esse recurso não vai acabar. Porém, é possível afirmar que a água própria para o consumo se trata de um recurso limitado e que pode acabar. Além de doce, precisa estar em condições de consumo, e alguns fatores, como coloração, turbidez, odores, presença de microrganismos patógenos e de metais pesados ou radiação, devem ser levados em consideração, agravando o risco de escassez no futuro.
Página 180
CONEXÕES com ... GEOGRAFIA
Geopolítica das águas
Como estudamos nos capítulos anteriores, a água é um recurso natural que cobre a maior parte da superfície terrestre, sendo essencial para a vida no planeta. No entanto, de todo o recurso hídrico, apenas cerca de 2,5% é de água doce e está disponível para o consumo humano. Dessa porção, a maior parte está localizada em aquíferos subterrâneos e em geleiras, o que dificulta ou impossibilita sua exploração pelos seres humanos.
A distribuição de água doce para uso e consumo humanos ocorre de forma desigual. Em algumas áreas da Terra, ela é encontrada em abundância, como é o caso da América do Sul, onde se localiza a maior bacia hidrográfica do mundo – a Bacia Amazônica.
Professor, professora: Se julgar pertinente, comente com os estudantes que, além do Brasil, a Bacia Amazônica se estende pelos territórios dos seguintes países: Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela.
A bacia hidrográfica amazônica ocupa uma área de aproximadamente 6 milhões de quilômetro quadrado e se estende por sete países da América do Sul, entre eles o Brasil.
A região da bacia correspondente ao território brasileiro, chamada de região hidrográfica amazônica, é composta por rios extensos e volumosos, como Madeira, Negro, Xingu, Solimões e Amazonas.

Por outro lado, regiões como o norte da África e o Oriente Médio sofrem com a escassez hídrica em razão das características naturais e dos impactos causados pela ação humana, entre elas o desperdício e a poluição. O aumento da exploração desse recurso para atender ao crescimento populacional e ao desenvolvimento das atividades industriais e agrícolas, por exemplo, também são alguns dos fatores atribuídos à redução da quantidade e da qualidade das reservas hídricas adequadas ao uso humano, até mesmo em regiões onde são consideradas abundantes.
Em virtude da distribuição desigual de água e da preocupação do aumento da escassez no futuro, diversas regiões do mundo têm registrado tensões políticas entre países, resultado da disputa pelo controle da exploração hídrica de importantes rios, sobretudo em locais que já vivenciam a escassez desse recurso natural. Em alguns casos, essas tensões geram conflitos armados.
O Rio Nilo, na África, cujas águas percorrem países como Egito, Sudão e Etiópia, os rios Eufrates e Tigre, no Oriente Médio, que se estendem por Iraque, Síria e Turquia, e o Rio Jordão, também no Oriente Médio, que banha os territórios de Israel, Jordânia, Síria, Líbano e Palestina, são exemplos de águas historicamente disputadas entre nações e que já deram origem a sérios conflitos, muitos deles motivados pela construção de canais e barragens, por exemplo.
Diante das crescentes preocupações em torno da gestão hídrica e do aumento das tensões geopolíticas nas últimas décadas, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem discutido acordos com os países para o cumprimento de metas que possam garantir o compartilhamento sustentável dos recursos hídricos e trazer paz entre as nações.
a ) Atualmente, quais regiões do mundo mais sofrem com a escassez hídrica? Faça uma pesquisa, se necessário.
Resposta: Os estudantes podem mencionar que a escassez hídrica ocorre com mais intensidade em boa parte do continente africano e do continente asiático.
b ) O Brasil, de maneira geral, dispõe de ampla reserva de água doce em comparação com outros países. De acordo com seus conhecimentos, a distribuição de água ocorre de maneira igualitária em todo o território brasileiro? Justifique sua resposta e converse com os colegas sobre o assunto.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema e levá-los a refletir sobre ele. Espera-se que reconheçam que, apesar de o Brasil ter uma das maiores reservas de água doce do mundo, sua distribuição não é igualitária por todo o território. A dificuldade de acesso a esse recurso ocorre, sobretudo, em áreas semiáridas, como parte da região Nordeste, onde as características naturais não favorecem chuvas abundantes, comprometendo o abastecimento de fontes de água, como rios e lagos, e consequentemente o fornecimento de água potável para a população local.
c ) Em sua opinião, quais medidas podem ser adotadas pelos governos e pela população para reduzir o problema da escassez hídrica e evitar novos conflitos geopolíticos? Converse com os colegas.
Resposta pessoal. Os estudantes podem citar exemplos como o consumo consciente de água; a reutilização da água para atividades domésticas e econômicas; a manutenção de instalações e equipamentos hidráulicos residenciais e industriais para evitar o desperdício; a despoluição de rios e lagos; o incentivo para o uso de tecnologias que reduzem o consumo de água em atividades agrícolas e industriais; a exploração sustentável de águas subterrâneas; acordos para a exploração igualitária entre países que compartilham recursos hídricos etc.
Página 181
Ciclo biogeoquímico do fósforo
O fósforo abre parênteses P fecha parênteses também é um exemplo de elemento químico essencial aos seres vivos, constituindo as membranas celulares, os ácidos nucleicos e as moléculas energéticas abre parênteses A T P fecha parênteses, por exemplo.
O ciclo do fósforo também envolve organismos autotróficos, como as plantas, que absorvem esse elemento químico do solo e o transferem aos demais seres vivos por meio das cadeias alimentares. Esse ciclo é considerado bastante lento, quando comparado aos demais ciclos estudados neste capítulo. Acompanhe a seguir uma representação simplificada do ciclo biogeoquímico do fósforo.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 61.
1. O fósforo é encontrado, principalmente, em rochas e no fundo dos oceanos, na forma de íons fosfato abre parênteses P O subscrito 4 elevado a início expoente, 3 menos, fim expoente fecha parênteses. À medida que essas rochas sofrem intemperismo, por ação de raios solares, vento e chuva, por exemplo, o fósforo é lentamente removido e deslocado, podendo se depositar no solo ou em rios, lagos e córregos. Ao atingir os oceanos, ele pode se depositar e se sedimentar nesses ambientes.
2. A quantidade de fósforo no solo é baixa, estando, portanto, pouco disponível para as plantas. Quando disponível, as raízes das plantas absorvem do solo esse elemento químico, junto à água, incorporando-os. Por meio das cadeias alimentares, o fósforo presente nas plantas é transferido aos consumidores.
3. Por se alimentarem de animais marinhos, as aves marinhas liberam grande quantidade de fósforo, além do nitrogênio abre parênteses N fecha parênteses, em suas fezes (guano), geralmente depositadas nos continentes. Desse modo, tais excretas são consideradas um importante elo entre o fósforo presente nos oceanos e o ambiente terrestre.
4. A decomposição da matéria orgânica por microrganismos libera o fósforo novamente no ambiente.
Página 182
Ciclo biogeoquímico do nitrogênio
O nitrogênio é essencial aos seres vivos, pois compõe diversas de suas moléculas, como os ácidos nucleicos (DNA e RNA), as proteínas e a clorofila.
O nitrogênio é encontrado principalmente na forma de gás nitrogênio abre parênteses N subscrito 2 fecha parênteses, composto químico mais abundante da atmosfera terrestre, correspondendo a cerca de 78% do volume total dessa camada de ar. Apesar de abundante, esse gás não pode ser absorvido diretamente pela maioria dos seres vivos. Assim, a assimilação do nitrogênio requer a participação de outros seres vivos, em processos que envolvem uma série de reações químicas, que podem ocorrer de modo natural ou artificial. Acompanhe a seguir uma representação simplificada do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 60.
1. A fixação natural do gás nitrogênio pode ocorrer por meio de reações fotoquímicas, ou seja, induzidas pela luz. As descargas elétricas dos relâmpagos, por exemplo, convertem o vapor de água e o gás oxigênio em partículas altamente reativas: os átomos de hidrogênio abre parênteses H fecha parênteses e oxigênio livres. Essas partículas reagem com o gás nitrogênio da atmosfera e formam o ácido nítrico abre parênteses H N O subscrito 3 fecha parênteses, que atinge a superfície terrestre por meio das chuvas.
2. As plantas desempenham papel fundamental no ciclo do nitrogênio e na disponibilização desse elemento químico para os animais, pois, ao assimilarem o nitrogênio do ambiente, este pode ser transferido aos demais seres vivos por meio das cadeias alimentares.
3. A decomposição da matéria orgânica por microrganismos forma compostos inorgânicos mais simples, como a amônia abre parênteses N H subscrito 3 fecha parênteses, pelo processo de amonificação. As excretas nitrogenadas dos animais também sofrem a ação de microrganismos. Em ambas as situações, as substâncias formadas podem ser absorvidas por outros seres vivos ou ainda transformadas em N subscrito 2 pelo processo de denitrificação.
4. A fixação biológica do gás nitrogênio pode ser realizada por alguns procariotos fixadores desse elemento químico e presentes no solo, na água ou em raízes de algumas plantas.
Página 183
Analise a seguir um esquema resumindo os principais eventos da fixação biológica do gás nitrogênio.
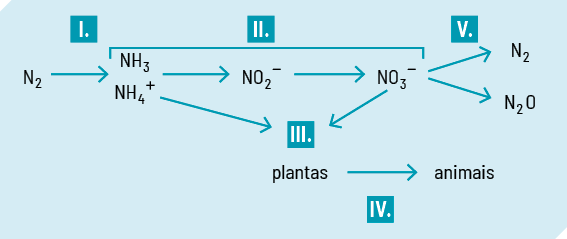
Imagem elaborada com base em: MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 60.
I. Inicialmente, o N subscrito 2 é transformado em amônia pela ação da enzima nitrogenase, presente em bactérias dos gêneros Rhizobium, Azobacter e algumas cianobactérias.
II. A amônia reage com um H elevado a início expoente, mais, fim expoente da solução do solo, formando íons amônio abre parênteses N H subscrito 4 sobrescrito mais fecha parênteses. A amônia e os íons amônio são transformados em nitrito abre parênteses N O subscrito 2 sobrescrito menos fecha parênteses, por bactérias do gênero Nitrosomonas, e este, em nitrato abre parênteses N O subscrito 3 sobrescrito menos fecha parênteses, por bactérias Nitrobacter, em um processo chamado de nitrificação.
III. Tanto N H subscrito 4 sobrescrito mais quanto N O subscrito 3 sobrescrito menos podem ser absorvidos pelas plantas.
IV. Após ser absorvido por esses seres vivos, o nitrogênio pode ser transferido aos animais por meio da cadeia alimentar.
V. O elemento químico nitrogênio fixado pelos microrganismos pode ser liberado novamente para a atmosfera terrestre na forma de gás nitrogênio ou óxido nitroso abre parênteses N subscrito 2 O fecha parênteses, por ação das bactérias Pseudomonas denitrificans, em um processo chamado denitrificação.
A maioria dos microrganismos envolvidos na fixação do nitrogênio é de vida livre. No entanto, algumas espécies podem desenvolver simbiose com determinadas plantas, como as leguminosas. Essa associação resulta na formação de nódulos, que são estruturas esféricas localizadas principalmente nas raízes e onde se concentram as bactérias fixadoras. Os organismos envolvidos na simbiose podem viver separadamente, associando-se apenas quando a concentração do elemento químico nitrogênio no solo está reduzida.
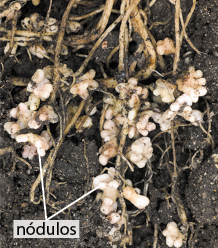
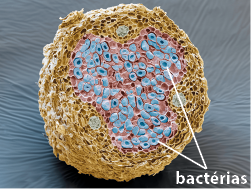
Ciclo biogeoquímico do carbono
O ciclo biogeoquímico do carbono envolve a movimentação desse elemento químico no ambiente e sua transferência para os seres vivos, e vice-versa. Assim como outros elementos químicos, o carbono é essencial aos seres vivos, participando da constituição de uma variedade de moléculas, como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos.
A ciclagem do carbono no ambiente se baseia, principalmente, no gás carbônicoabre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses, que corresponde a aproximadamente 0,038% da atmosfera terrestre e que também se encontra nos ambientes aquáticos. Além disso, esse elemento químico está presente em reservatórios, como rochas e combustíveis fósseis. A ciclagem do carbono envolvendo tais reservas ocorre naturalmente de maneira muito lenta, por meio da oxidação em contato com o ar, quando comparado com a ciclagem desse elemento envolvendo os seres vivos.
Página 184
Acompanhe a seguir uma representação simplificada do ciclo biogeoquímico do carbono.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.

Imagem elaborada com base em: MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 58-59.
1. Parte do CO subscrito 2 presente na atmosfera terrestre se dissolve na água da chuva, formando o ácido carbônico abre parênteses H subscrito 2 C O subscrito 3 fecha parênteses. Ao atingir a superfície terrestre, esse ácido dissolve parte das rochas, liberando íons de cálcio abre parênteses C a fecha parênteses, magnésio abre parênteses M g fecha parênteses, potássio abre parênteses K fecha parênteses e sódio abre parênteses N a fecha parênteses, que são carregados para os ambientes aquáticos, como os oceanos. Nesses ambientes, tais íons se combinam com íons hidrogenocarbonato abre parênteses H C O subscrito 3 sobrescrito menos fecha parênteses, formando, por exemplo, o carbonato de cálcio abre parênteses C a C O subscrito 3 fecha parênteses, principal componente das conchas. Parte desse material se deposita nesses ambientes.
2. O gás carbônico atmosférico pode se dissolver na água. Quando dissolvido, esse gás pode se apresentar sob a forma de CO subscrito 2 ou ser convertido em íon hidrogenocarbonato.
3. A decomposição da matéria orgânica transforma moléculas orgânicas complexas em compostos inorgânicos mais simples, como água, gás carbônico e gás metano abre parênteses CH subscrito 4 fecha parênteses, outra importante forma do carbono no ambiente. Quando a matéria orgânica morta é soterrada rapidamente e submetida a condições específicas de pressão e de temperatura ao longo de milhões de anos, formam-se os combustíveis fósseis, como gás natural, carvão e petróleo.
4. A absorção do carbono da atmosfera e sua fixação nos seres vivos ocorrem por meio da fotossíntese, realizada por organismos fotossintetizantes, tanto no ambiente terrestre como no aquático. Na fotossíntese, o carbono é fixado em moléculas de glicose abre parênteses C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 fecha parênteses, ou seja, convertido em biomassa, de acordo com a seguinte fórmula: 6 C O subscrito 2 mais 6 H subscrito 2 O seta para a direita C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 mais 6 O subscrito 2. Por meio dos produtos da fotossíntese, o carbono pode ser transferido a outros organismos via cadeia alimentar.
5. O retorno do CO subscrito 2 para a atmosfera pode ocorrer por meio de diferentes processos, como a respiração aeróbia. Nesse processo, compostos orgânicos são convertidos em água e gás carbônico e liberados na atmosfera.
6. As erupções vulcânicas liberam grande quantidade de gases na atmosfera terrestre, entre eles o gás carbônico.
7. A digestão de certos grupos de animais, como os ruminantes, libera gás metano no ambiente.
Página 185
Ciclo biogeoquímico do enxofre
O enxofre abre parênteses S fecha parênteses participa da composição de alguns aminoácidos e proteínas, sendo importante para a constituição e o funcionamento adequados dos organismos. O enxofre presente na Terra está armazenado, principalmente, no subsolo, nas rochas e em minerais, podendo também ser encontrado no ar atmosférico.
Acompanhe a seguir uma representação simplificada do ciclo biogeoquímico do enxofre.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
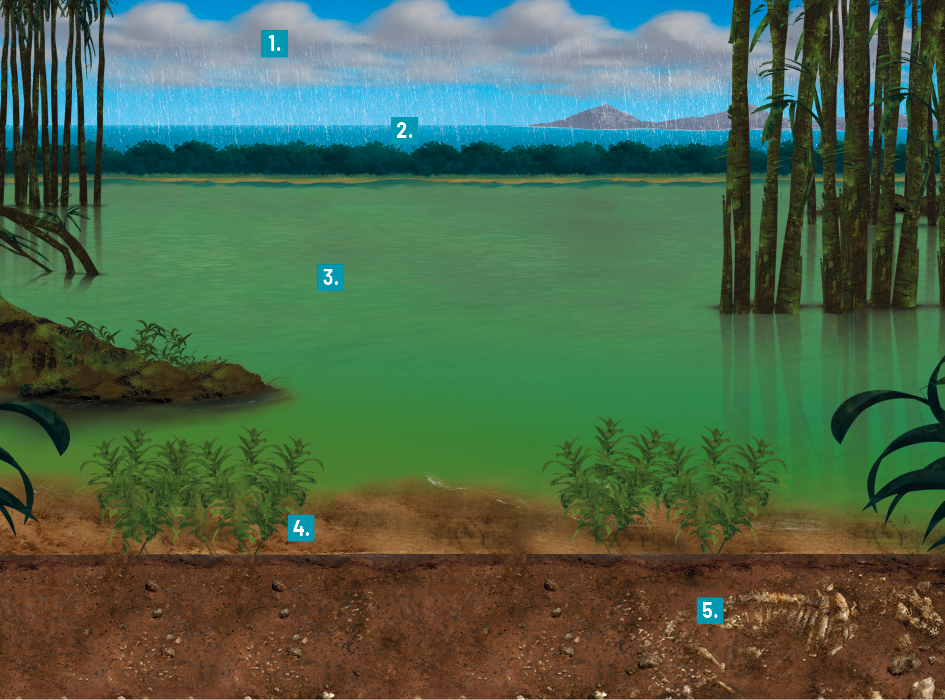
Imagem elaborada com base em: MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. p. 63.
1. Algumas algas produzem dimetil sulfeto abre parênteses C subscrito 2 H subscrito 6 S fecha parênteses, composto que serve de núcleo de condensação para a formação das nuvens. Nesse processo, gotículas de água presentes na atmosfera começam a se unir, originando as nuvens, nas quais as moléculas se tornam cada vez maiores até precipitarem como chuva. Na atmosfera, o dimetil sulfeto é convertido em dióxido de enxofre abre parênteses S O subscrito 2 fecha parênteses, o qual também pode ser convertido em gotículas de ácido sulfúrico abre parênteses H subscrito 2 S O subscrito 4 fecha parênteses, por exemplo, que atingem a superfície terrestre como chuva ácida.
2. Naturalmente, partículas contendo enxofre podem entrar na atmosfera por meio de ondas marítimas e tempestades de poeira, por exemplo.
3. O enxofre pode ser liberado no ambiente na forma de sulfeto de hidrogênio abre parênteses H subscrito 2 S fecha parênteses, por meio da atividade vulcânica e pela matéria orgânica em decomposição nos pântanos e brejos. Os vulcões, assim como a queima de combustíveis fósseis, também são responsáveis por liberar dióxido de enxofre no ambiente, que, na atmosfera, pode se combinar com a água e originar o ácido sulfúrico.
4. As plantas absorvem do solo o enxofre com a água por meio das raízes. Esse elemento químico passa a fazer parte da constituição do corpo desses seres vivos e pode ser transferido para os animais por meio das cadeias alimentares.
5. A decomposição da matéria orgânica por microrganismos libera o enxofre novamente no ambiente.
Página 186
LIGADO NO TEMA
Sequestro de carbono
A queima de combustíveis fósseis, juntamente com outros fatores, tem promovido o aumento nas concentrações de dióxido de carbono e outros gases poluentes na atmosfera terrestre.
a ) Você considera que é possível reduzir as emissões de dióxido de carbono? Converse sobre essa questão com os colegas.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes constatem que é possível reduzir as emissões desse gás por meio de medidas, como: controlar as queimadas e reduzir a queima de combustíveis fósseis, tanto nas indústrias quanto em veículos.
Os organismos autotróficos naturalmente retiram parte do gás carbônico da atmosfera, incorporando-o em suas reações químicas. É preciso ressaltar que, além das florestas, o fitoplâncton – cianobactérias e algas unicelulares – retira grandes quantidades desse gás da atmosfera terrestre por meio da fotossíntese.
O fitoplâncton é considerado um dos maiores responsáveis pela fixação do carbono oriundo do gás carbônico atmosférico. Esse conjunto de organismos é a base das cadeias alimentares oceânicas, e estudos indicam que o fitoplâncton oceânico absorve cerca de 52 bilhões de toneladas de carbono inorgânico todos os anos.
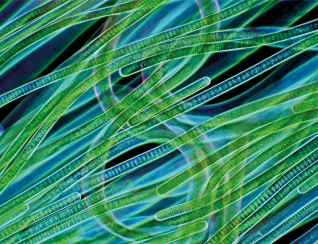
A fotossíntese só ocorre em organismos que apresentam clorofila a, pigmento capaz de absorver a luz azul. Um satélite no espaço envia imagens à Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) monitorando o fitoplâncton do planeta semanalmente. Quanto mais fitoplâncton houver nos oceanos, mas clorofila a existirá. Escâneres detectam a luz azul, mostrando a quantidade de fitoplâncton. Confira na imagem "Quantidade de clorofila a detectada nos oceanos da Terra".
Quantidade de clorofila a detectada nos oceanos da Terra
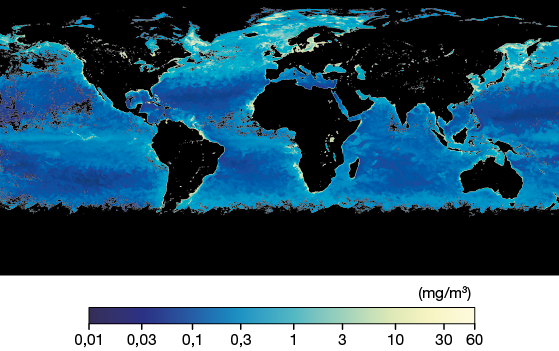
Fonte de pesquisa: CHLOROPHYLL concentration. Nasa Earth Observations. Disponível em: https://s.livro.pro/j83okm. Acesso em: 8 jul. 2024.
b ) O que é possível analisar na imagem?
Resposta: A imagem mostra indiretamente a quantidade de fitoplâncton nos oceanos.
A retirada de carbono que o fitoplâncton e as florestas fazem naturalmente é chamado de sequestro de carbono. Esse processo permite a absorção e a estocagem de parte do gás carbônico da atmosfera.
Cientistas brasileiros descobriram que, além do fitoplâncton, existem bactérias magnetotáticas, que produzem estruturas compostas de cristais com propriedades magnéticas, os magnetossomos. Essas estruturas são capazes de realizar o sequestro de carbono do ambiente marinho.
Página 187
Leia o trecho da reportagem a seguir.
Adubo pré-histórico foi planejado por indígenas da Amazônia no passado
Pesquisadores estudam práticas agrícolas dos povos originários que enriquecem o solo enquanto ajudam a manter o carbono longe da atmosfera
CONTERNO, Ivan. Adubo pré-histórico foi planejado por indígenas da Amazônia no passado. Jornal da USP, 11 out. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/7t1usm. Acesso em: 5 set. 2024.
Como observado no trecho de reportagem, atualmente, pesquisadores buscam exemplos de sequestro de carbono. No Brasil, especificamente na Amazônia, há um solo conhecido como terra preta indígena. Ele tem coloração escura e é considerado bastante fértil e reconhecido por retirar carbono da atmosfera e retê-lo no solo, impedindo que retorne para o ar. Essa concentração de carbono melhora a absorção de água, facilitando o crescimento e a penetração das raízes no solo, o que favorece o desenvolvimento das plantas.
A origem da terra preta indígena gera debates na comunidade científica, mas alguns pesquisadores supõem que há alguns milênios os povos pré-colombianos depositavam resíduos e realizavam a queima controlada do solo para prepará-lo para o plantio. Atualmente, o solo armazena carbono na forma de carvão.
O conhecimento indígena acerca da terra e seu manejo é inestimável. Várias gerações das comunidades indígenas da Amazônia geriram essa terra, possibilitando sua manutenção na área. Esses povos promoveram as atividades agrícolas e de criação dos animais sem destruir os ecossistemas. Entretanto, o desmatamento e as atividades agropecuárias têm reduzido as áreas florestais da Amazônia, o que pode afetar a terra preta indígena e reduzir sua capacidade de retirar e reter o carbono da atmosfera.
Alguns microrganismos ajudam a decompor materiais orgânicos, além de retirar gás carbônico da atmosfera, formando o biocarvão, que poderá ajudar a reter o carbono no solo. Baseando-se nos conhecimentos acerca da terra preta indígena, pesquisadores estudam esse biocarvão.
É possível aumentar também o sequestro do carbono com o uso de técnicas artificiais. Uma das maneiras consiste em bombear o dióxido de carbono, quando sai das chaminés ou indústrias, sendo armazenado e encaminhado em gasodutos. No entanto, esse processo é muito custoso, o que o torna inviável em muitos lugares.
Há ainda pesquisas que buscam transformar o gás carbônico em produtos, como plásticos, cimento, fibras de carbono e tintas. Além disso, tem como ser utilizado no cultivo celular de algas e bactérias, o que pode ajudar na produção de biocombustíveis ou fertilizantes.
Assim, é fundamental incentivar projetos de pesquisa que visam estudar novas formas de sequestro de carbono, a fim de minimizar os impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas.
c ) Como as atividades humanas têm intensificado as emissões de carbono na atmosfera?
Resposta: Atividades como processos industriais, tráfego de veículos, queima de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamento levam às emissões de carbono na atmosfera.
d ) Qual é a influência do desmatamento e das queimadas no aumento das emissões de gás carbônico na atmosfera?
Resposta: O desmatamento impede a fotossíntese e reduz a absorção de gás carbônico. Já as queimadas liberam gás carbônico na atmosfera.
e ) Com um colega, façam uma lista de atitudes individuais que podemos ter para ajudar na redução das emissões de carbono na atmosfera.
Resposta pessoal. Os estudantes podem citar: andar a pé, de bicicleta ou de transporte coletivo, evitando veículos automotores individuais; reduzir o consumo de produtos industrializados; reciclar e reaproveitar materiais.
f ) Em dupla, listem ações que busquem a redução da emissão de carbono na atmosfera, lembrando de citar atitudes coletivas e mudanças em políticas públicas ou na legislação ambiental.
Resposta pessoal. Os estudantes podem responder: criar medidas para reduzir o tráfego de veículos em alguns dias da semana; incentivar a reciclagem e o reaproveitamento de materiais; promover planos de utilização de energias alternativas e renováveis por empresas; e multar empresas que desobedeçam a legislação ambiental.
g ) No início de 2020, o mundo foi surpreendido com a pandemia de covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Nesse cenário, uma das medidas adotadas para reduzir o contágio e a disseminação do vírus foi o isolamento social. Em diversos locais do mundo, as atividades foram temporariamente suspensas e as pessoas foram orientadas a ficar em suas residências. Embora em diversos locais do mundo a poluição atmosférica tenha diminuído durante esse período, a concentração global de gás carbônico se manteve elevada. Desenvolva uma hipótese para explicar o acontecimento descrito.
Resposta pessoal. Os estudantes podem citar que, apesar da redução do tráfego de pessoas, houve aumento do consumo de energia elétrica enquanto elas estavam confinadas. Parte dessa energia é proveniente de fontes não renováveis, como carvão mineral e petróleo, e todas emitem grandes concentrações de gás carbônico atmosférico.
Página 188
O ser humano e os ciclos biogeoquímicos
Como você estudou anteriormente, os elementos químicos circulam nos ambientes naturalmente em ciclos biogeoquímicos, e o ser humano participa de diversos deles. Apesar disso, algumas atividades antrópicas podem interferir negativamente nesses ciclos, alterando as concentrações e a disponibilidade dessas substâncias químicas nos ambientes. Vamos conhecer a seguir algumas atividades humanas que interferem nos ciclos biogeoquímicos.
5. Você considera que o desmatamento pode afetar o ciclo da água? De que maneira?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que sim. Eles podem responder que a retirada da vegetação pode prejudicar a evapotranspiração e a infiltração da água no solo, que, por sua vez, interfere na manutenção das fontes de água superficiais e subterrâneas.
Grande parte da água que evapora da superfície é proveniente das plantas. Assim, quando elas são retiradas, por atividades como desmatamento e queimadas, esse processo é diretamente afetado, reduzindo o aporte de vapor de água na atmosfera.
Além disso, as raízes dos vegetais são responsáveis por ajudar a reter água no solo, que se infiltra, alcançando os níveis subterrâneos, fenômeno responsável pelo abastecimento de nascentes e fontes de água subterrâneas. Na ausência de vegetação, a água da chuva atinge diretamente o solo arrastando grande quantidade de sedimentos e poluentes, que podem alcançar corpos de água e desencadear seu assoreamento, afetando os ecossistemas e toda a vida aquática.
O desflorestamento também reduz a absorção e a fixação de carbono pela fotossíntese e prejudica a manutenção de fósforo no solo. As queimadas elevam a quantidade de dióxido de carbono emitido para a atmosfera. Além disso, a combustão desses materiais consome gás oxigênio, cuja produção é reduzida por causa da remoção da vegetação. É preciso também ressaltar que altos níveis de gás carbônico estão associados à intensificação do efeito estufa.

Nos espaços urbanos e densamente povoados, as áreas pavimentadas têm sido ampliadas, reduzindo as áreas de cobertura vegetal e promovendo a impermeabilização do solo. Esse processo prejudica a infiltração da água no solo e, consequentemente, a recarga das fontes de água subterrâneas.
6. No município onde vive, você já se deparou com uma situação como mostrada na fotografia a seguir?
Resposta pessoal. Os estudantes devem compartilhar suas experiências e conhecimentos acerca do assunto.
Apesar de as águas da chuva serem escoadas para as redes de drenagem pluvial em áreas pavimentadas e com acesso a esse serviço de saneamento básico, a deposição inadequada de resíduos tem afetado esse processo, resultando em eventos como os alagamentos durante as chuvas mais severas, que podem afetar as vias públicas e as áreas residenciais.

Nas atividades de extração mineral, como na extração de rochas para a obtenção de fósforo, também há desequilíbrio nos ciclos biogeoquímicos, interferindo diretamente na disponibilidade desse elemento químico no ambiente.
Além disso, para obter metais, como o cobre, é necessário realizar o aquecimento das rochas, o que pode liberar poluentes atmosféricos, como o dióxido de carbono, além de metais, como cádmio, chumbo, mercúrio, entre outros.
Página 189
As atividades agropecuárias também podem afetar os ciclos biogeoquímicos. A ampliação das áreas destinadas a essas atividades estão diretamente relacionadas com a substituição da cobertura vegetal original por pastagens e com o aumento da emissão de gases de efeito estufa, como o metano.

A técnica de aragem do solo, utilizada na agricultura, intensifica o processo de decomposição pelos microrganismos, pois favorece a entrada de gás oxigênio no solo. Como resultado, o carbono armazenado nele retorna para a atmosfera na forma de CO subscrito 2.
Já a aplicação de fertilizantes adiciona elevadas quantidades de nitrogênio e fósforo no solo. Apesar de essenciais para os seres vivos, seu excesso pode prejudicar o desenvolvimento das plantas e até interferir em sua fixação e absorção. Além disso, os compostos contendo nitrogênio e fósforo aplicados nas plantações podem escoar na superfície e atingir os corpos de água, contaminando-os. Há ainda o despejo inadequado de esgoto nos ambientes aquáticos, que adiciona grande quantidade de fósforo e nitrogênio neles.
Outro fator que afeta os ciclos biogeoquímicos é a queima de combustíveis fósseis em veículos automotores e nas usinas termelétricas, por exemplo. Essa atividade injeta grande quantidade de carbono na atmosfera terrestre, por meio da emissão de monóxido de carbono abre parênteses C O fecha parênteses e dióxido de carbono, além de outros gases, como dióxido de enxofre e óxido nítrico abre parênteses N O fecha parênteses.

7. Que atitudes podem ajudar a reduzir a emissão de gases poluentes gerados na queima de combustíveis fósseis?
Resposta: Os estudantes podem citar: optar por se deslocar a pé ou de bicicleta; preferir veículos automotores movidos a biocombustíveis; aumentar investimentos em veículos elétricos; economizar energia elétrica para reduzir a queima de combustíveis fósseis (usinas termelétricas) nas épocas de seca, quando os reservatórios das usinas hidrelétricas estiverem baixos.
Na atmosfera, o óxido nítrico pode se converter em dióxido de nitrogênio abre parênteses N O subscrito 2 fecha parênteses e em ácido nítrico, que podem precipitar na forma de chuva ácida. Essa chuva pode alterar o pH de ambientes aquáticos, prejudicando os seres que vivem nele, e danificar plantas e construções humanas.

Página 190
A influência das atividades humanas na ciclagem da matéria no ambiente não interfere apenas diretamente nesses ciclos, mas causa outros efeitos, tanto no ambiente como nos seres vivos. Entre esses efeitos estão a poluição do ar, da água e do solo e os prejuízos diretos e indiretos aos seres vivos que dependem desses ambientes, inclusive o próprio ser humano.
Por exemplo, o aumento da concentração de nutrientes nos ambientes aquáticos, como nitrogênio e fósforo, tem provocado a eutrofização desses ambientes. Esse processo se caracteriza pelo aumento na quantidade de seres vivos autotróficos no ambiente aquático, como as algas. Ao morrerem, a decomposição das algas por microrganismos consome o gás oxigênio do ambiente, prejudicando os demais seres vivos aquáticos e toda a cadeia alimentar local. Ambientes eutrofizados, além da coloração geralmente esverdeada, apresentam mau cheiro por conta da decomposição excessiva.

Embora a eutrofização possa ocorrer naturalmente, o aporte excessivo de nutrientes pelas atividades humanas é a principal causa desse processo. Esse é apenas um dos inúmeros efeitos que essa interferência nos ciclos biogeoquímicos pode causar aos ambientes e aos seres vivos. Embora o ser humano possa interferir nesses ciclos em diferentes níveis e de diferentes maneiras, também há muitas formas de reduzir esse problema.
Para combater o excesso de aporte de nutrientes nos ambientes aquáticos, é possível reduzir a aplicação de fertilizantes na agricultura por meio da adubação verde, por exemplo. Esse tipo de adubação consiste no uso de plantas leguminosas para manter os níveis adequados de nutrientes no solo, como de nitrogênio. Nesse caso, as plantas leguminosas, em cujas raízes geralmente ocorrem associações com microrganismos fixadores de nitrogênio, são depositadas sobre o solo, antes do plantio. A decomposição dessas plantas devolve ao solo o nitrogênio fixado, eliminando a necessidade do uso de produtos químicos.
Crotalária (Crotolaria sp.): pode atingir aproximadamente 3 metros de altura.

Professor, professora: Comente com os estudantes que, em razão do seu crescimento rápido, leguminosas crotalárias são amplamente utilizadas para a adubação verde.

Além da adubação verde, é possível reduzir o uso de fertilizantes por meio da rotação de culturas, a fim de manter a qualidade do solo. Nesse processo, intercala-se o tipo de cultura a cada plantio, alterando, assim, as exigências nutricionais sem exaurir determinados nutrientes.
Página 191
ATIVIDADES
1. Por que, embora disponível em grande quantidade na atmosfera terrestre, o nitrogênio é considerado um nutriente pouco disponível às plantas e aos demais seres vivos?
Resposta: Porque o nitrogênio molecular não pode ser absorvido pela maioria dos seres vivos. Ele só se torna disponível após ser fixado por certas bactérias.
2. Leia o texto a seguir.
Excluindo-se os eventos muito episódicos de queda de meteoros de grande porte, a Terra pode ser compreendida como um sistema químico fechado no qual as reações que mantêm a biosfera são alimentadas pela energia solar. Nos últimos quatro bilhões de anos, aconteceram mudanças expressivas na composição química da superfície da Terra onde toda a vida se localiza. Com a origem dos organismos fotossintetizantes e do consequente aparecimento do oxigênio na atmosfera terrestre, o ambiente da Terra passou por profundas mudanças, assim como a história evolutiva de todos os organismos que nela habitavam e dos quais todas as espécies atuais descendem. Ao longo da história, a interação entre a Terra e a biosfera causou profundas mudanças e, hoje, poucas reações químicas da superfície dela existem sem a intermediação ou sem a influência da biosfera.
[...]
ADUAN, Roberto Engel; VILELA, Maria de Fátima; REIS JÚNIOR, Fábio Bueno dos. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. Distrito Federal: Embrapa, 2004. p. 9. Disponível em: https://s.livro.pro/srfe8m. Acesso em: 14 jul. 2024.
a ) Por que o texto cita que a Terra é um sistema químico (sistema termodinâmico) fechado?
Resposta: Porque a Terra não realiza trocas de matéria significativas com outros astros do Universo, mas realiza trocas de energia, obtendo-a do Sol e dissipando parte dela para o Universo.
b ) Quais os principais ciclos biogeoquímicos que se desenvolveram na Terra, permitindo a ocorrência de vida?
Resposta: Foram os ciclos do oxigênio e do carbono.
c ) Por que a origem dos organismos fotossintetizantes está relacionada à adição de gás oxigênio na atmosfera terrestre?
Resposta: Porque um dos produtos da fotossíntese é o gás oxigênio.
3. Sobre os ciclos biogeoquímicos, reescreva os textos, substituindo os símbolos pelos termos corretos apresentados no quadro a seguir.
gás ozônio
autotróficos
evaporação
aeróbios
transpiração
denitrificação
gás carbônico
respiração
nitrificação
fotossíntese
nitrogênio atmosférico
radiação ultravioleta
fixação biológica
a ) No ciclo hidrológico, o vapor de água que atinge as camadas superiores da atmosfera provém da ■ de parte da água dos rios, lagos, lagoas e oceanos, e da ● e ▲ dos seres vivos.
Resposta: evaporação; respiração; transpiração.
b ) O carbono é retirado do ambiente por organismos ■, que, por meio da ●, produzem os carboidratos, utilizados como fonte de energia por seres vivos heterotróficos. A disponibilização da energia dos carboidratos às células resulta na produção de ▲, que é liberado no ambiente, podendo ser novamente assimilado por certos organismos.
Resposta: autótrofos; fotossíntese; gás carbônico.
c ) O processo de ■ do nitrogênio é realizado por bactérias específicas, que convertem o ● em compostos assimiláveis pelos seres vivos por meio da ▲. O nitrogênio fixado nos seres vivos retorna ao ambiente pela ♦, processo que converte o nitrogênio orgânico em nitrogênio atmosférico.
Resposta: fixação biológica; gás nitrogênio; nitrificação; denitrificação.
d ) O gás oxigênio pode ser absorvido da atmosfera e utilizado em processos ■, como a respiração celular. Além disso, esse gás pode se apresentar na forma de ●, desempenhando importante papel na absorção de parte da ♦.
Resposta: aeróbios; gás ozônio; radiação ultravioleta.
4. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda à questão.
Grandes mamíferos tornam o solo da floresta mais fértil
[...]
Os queixadas (Tayassu pecari) são porcos-do-mato que vivem em bandos de 50 a 100 indivíduos e comem um pouco de tudo, mas na Mata Atlântica têm preferência pelos frutos da palmeira juçara (Euterpe edulis). A grande produtividade da juçara, porém, provavelmente só é possível porque os animais fazem uma eficiente "adubação" do solo. As enormes quantidades de fezes e urina que catetos, antas, queixadas e outros animais que se alimentam de frutos deixam no chão liberam formas de nitrogênio, importante elemento para o crescimento das plantas.
[...]
JULIÃO, André. Grandes mamíferos tornam o solo da floresta mais fértil. Agência Fapesp, 21 dez. 2020. Disponível em: https://s.livro.pro/lye9lg. Acesso em: 1 out. 2024.
Explique como o nitrogênio pode ser disponibi- lizado aos mamíferos pelas plantas e como os mamíferos, por sua vez, podem contribuir para nutrição dos vegetais.
Resposta nas Orientações para o professor.
Página 192
5. Leia o texto a seguir.
Os primeiros 400 milhões de anos da Terra foram hostis e desoladores: temperaturas de mais de 200 graus Celsius tornavam a crosta liquefeita✚ e gases vulcânicos, especialmente CO subscrito 2, eram massivamente lançados na atmosfera em formação. Conforme a Terra foi resfriando, a crosta tornou-se sólida e a temperatura permitiu a presença de água líquida na superfície. [...] Essas reações químicas resultaram em moléculas orgânicas ainda mais complexas, compostas especialmente por Carbono, Hidrogênio, Oxigênio, Nitrogênio e Enxofre, que serviram como blocos de construção iniciais para as primeiras moléculas biológicas.
[...]
Uma das primeiras tentativas de produzir biomoléculas em laboratório foi feita por Stanley Miller e Harold Urey em 1953. Eles se basearam em estudos realizados por Alexander Oparin e J. B. S. Haldane, que sugeriram que as biomoléculas e a vida teriam surgido em uma sopa primordial, numa atmosfera rica em metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. [...]
PELLIZARI, Vivian H.; BENDIA, Amanda G. Origem da vida na Terra. Instituto Oceanográfico USP. Disponível em: https://s.livro.pro/02d3w1. Acesso em: 14 jul. 2024.
a ) Por que as moléculas orgânicas complexas, compostas pelos diferentes elementos quími cos citados no texto são comparadas a "blocos de construção"?
Resposta: Porque tais moléculas orgânicas complexas compõem biomoléculas, como proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos, que constituem os seres vivos.
b ) De acordo com o texto, as erupções vulcânicas contribuíram e participaram significativamente de qual ciclo biogeoquímico no início do desenvolvimento da Terra? Justifique sua resposta.
Resposta: Contribuíram significativamente com o ciclo do carbono, pois liberaram quantidades massivas de dióxido de carbono na atmosfera.
c ) O experimento relatado no texto de Miller-Urey simulou a Terra primitiva e propôs como os primeiros seres vivos teriam se originado em meio às condições da Terra primitiva. Explique, com suas palavras, a importância desse experimento na história da Ciência e nos estudos sobre a origem da vida na Terra.
Resposta nas Orientações para o professor.
d ) Relacione as moléculas citadas no texto (gás carbônico, metano, amônia e vapor de água) aos ciclos biogeoquímicos estudados neste capítulo.
Resposta: Gás carbônico e metano: ciclo do carbono; amônia: ciclo do nitrogênio; vapor de água: ciclo hidrológico.
6. Leia o trecho da reportagem apresentada.
Indígenas aprendem técnica de plantio com sementes nativas para reflorestamento e geração de renda em Roraima
[...]
O projeto "Produção de sementes nativas e restauração ecológica" é uma iniciativa do Instituto Socioambiental (ISA) que tem como objetivo incentivar as comunidades indígenas a restaurar a vegetação de áreas consumidas por queimadas e pelo desmatamento.
[...]
RODRIGUES, Caíque. Indígenas aprendem técnica de plantio com sementes nativas para reflorestamento e geração de renda em Roraima. Terras Indígenas no Brasil, 22 maio 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/3859k5. Acesso em: 14 jul. 2024.
A copaíba é uma das espécies utilizadas pelos indígenas no projeto citado no trecho de reportagem. Dessa espécie, utilizam a casca e o óleo, para tintura e fins medicinais, possibilitando, assim, a aplicação dos saberes desses povos em suas próprias comunidades.
Copaíba (C. langsdorffii): pode atingir aproximadamente 35 metros de altura.
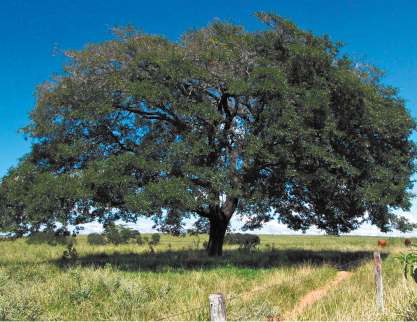
a ) Por que as áreas de reflorestamento podem contribuir para reduzir os impactos ambientais nos ciclos biogeoquímicos?
b ) Qual é a importância de plantar sementes de espécies nativas?
c ) Como a implementação desse tipo de projeto pode ajudar na manutenção do modo de vida das comunidades indígenas envolvidas?
Respostas nas Orientações para o professor.
- Liquefeita:
- derretida.↰
Página 193
7. Nas últimas décadas, houve demasiada queima de combustíveis fósseis e consequente formação de dióxido de carbono, o que tem intensificado o efeito estufa. No entanto, não é possível afirmar que houve aumento da porcentagem de carbono na Terra. Por quê?
Resposta: Porque o carbono já estava presente na Terra. A partir do ciclo do carbono, o que tem acontecido é um aumento nas concentrações de carbono na atmosfera e que antes estava no subsolo.
8. A mineração de fósforo ocorre por causa da sua importância como fertilizante nas áreas agrícolas. Esse elemento acaba transportado do solo para o oceano por causa das ações humanas e do desmatamento e seu acúmulo na água pode levar ao processo de eutrofização.
a ) Quais são os reservatórios naturais de fósforo na natureza?
Resposta: As rochas, e tais reservatórios podem ser encontrados no solo, nos oceanos, em lagos e nos seres vivos.
b ) Por que o fósforo é fundamental para a constituição dos seres vivos?
Resposta: Porque constitui o material genético, as membranas plasmáticas e as moléculas de ATP.
c ) O que é eutrofização?
Resposta: É o aumento da concentração de nutrientes nos ambientes aquáticos, como nitrogênio e fósforo, e que tem provocado a proliferação excessiva de organismos fotossintetizantes, alterando todo o ecossistema em questão.
d ) Como é possível minimizar os efeitos da eutrofização?
Resposta: Por meio da redução da aplicação de fertilizantes na agricultura, empregando a técnica de adubação verde, na qual são utilizadas plantas leguminosas para manter os níveis adequados de nutrientes no solo. Isso ajuda a evitar o uso de agroquímicos.
9. Analise as reações químicas (A a D) a seguir e relacione-as ao ciclo biogeoquímico (I a IV) correspondente e à sua importância para o ambiente (1 a 4).
A. C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 mais 6 O subscrito 2 seta para a direita 6 C O subscrito 2 mais 6 H subscrito 2 O
B. 2 N subscrito 2 O mais 3 O subscrito 3 seta para a direita 4 H N O subscrito 3
C. 6 C O subscrito 2 mais 6 H subscrito 2 O seta para a direita C subscrito 6 H subscrito 12 O subscrito 6 mais 6 O subscrito 2
D. S O subscrito 3 mais H subscrito 2 O seta para a direita H subscrito 2 S O subscrito 4
I. Ciclo do carbono.
II. Ciclo do enxofre.
III. Ciclo do nitrogênio.
IV. Ciclo do oxigênio.
1. Reação relacionada à chuva ácida.
2. Reação necessária aos seres vivos aeróbios.
3. Reação essencial à vida na Terra.
4. Reação relacionada à queima de combustíveis fósseis e gás ozônio.
Resposta: A – IV – 2; B – III – 4; C – I – 3; D – II – 1.
RETOME O QUE ESTUDOU
Refletindo sobre o que estudou nesta unidade, responda às questões a seguir.
1. Elabore um esquema com imagens e textos explicativos sobre a fotossíntese.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
1 Explique, com suas palavras, a fotossíntese.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes expliquem que a fotossíntese inclui duas fases, a fotoquímica e a química. A primeira ocorre na membrana plasmática dos tilacoides e é diretamente dependente da luz solar, resultando na formação de ATP e NADPH. A etapa química, por sua vez, não depende diretamente da luz solar e ocorre no estroma do cloroplasto, resultando na formação de carboidrato, com consumo de ATP e NADPH, produzidos na etapa fotoquímica.
2. Como os seres vivos heterotróficos obtêm a energia de que necessitam? Elabore um esquema que explique esse processo.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
2. Como os seres vivos heterotróficos obtêm a energia de que necessitam? Explique esse processo.
Resposta: Os estudantes podem citar qualquer relação alimentar que inclua um ser vivo heterotrófico (herbívoro, carnívoro ou onívoro). Com relação à obtenção da energia pela célula, é esperado que eles citem que a respiração celular, incluindo a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória; para a fermentação, incluindo a glicólise e a redução do piruvato. Nesse caso, é importante que indiquem também a formação de ATP.
3. Com um colega, conversem sobre como os seres vivos interagem energeticamente com o ambiente. Em seguida, elaborem um texto a respeito do que conversaram.
4. Faça uma pesquisa e elabore uma cadeia alimentar baseada em relações tróficas que ocorrem no ambiente. Represente as relações alimentares e o fluxo energético na cadeia produzida com imagens, setas e textos. Em seguida, elabore uma pirâmide de energia para a cadeia alimentar representada.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
4. Faça uma pesquisa e proponha uma cadeia alimentar baseada em relações tróficas que ocorrem no ambiente. Descreva as relações alimentares e o fluxo energético na cadeia produzida e, em seguida, como seria uma pirâmide de energia para a cadeia alimentar em questão.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes, enquanto elaboram os esquemas, a retomar os conceitos estudados no capítulo sobre fluxo de matéria orgânica e de energia nas relações alimentares. Se julgar interessante, incentive-os a pesquisar relações alimentares que ocorrem entre espécies de seres vivos nativas do Brasil. Verifique se eles inseriram os decompositores nas representações, exceto na pirâmide de energia. Note se na representação do fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar os estudantes representaram setas de espessura menores ao longo dos níveis tróficos. Verifique se na pirâmide de energia representaram o primeiro nível trófico com maior comprimento e a diminuição do comprimento dos retângulos conforme se distanciam da base.
5. No período de um minuto, escreva algumas atividades humanas em pedaços de papel, de preferência referentes ao seu dia a dia, que podem interferir nos ciclos biogeoquímicos. Em seguida, entregue os papéis ao professor e, com os colegas, identifiquem medidas que podem ajudar a reduzir a interferência de cada uma dessas atividades nos ciclos da matéria no ambiente.
Respostas nas Orientações para o professor.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
5. Em dupla, no período de um minuto, escrevam algumas atividades humanas em pedaços de papel, de preferência referentes ao seu dia a dia, que podem interferir nos ciclos biogeoquímicos. Em seguida, entreguem os papéis ao professor e, com os colegas, conversem sobre medidas que podem ajudar a reduzir a interferência de cada uma dessas atividades nos ciclos da matéria no ambiente.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é, com base nos conhecimentos a respeito dos ciclos biogeoquímicos, levar os estudantes a refletir sobre as atividades humanas que podem interferir nesses ciclos, ao mesmo tempo que propõem maneiras de reduzir essa interferência.
Orientação para acessibilidade
Professor, professora: Organize as duplas de modo que o estudante não vidente esteja acompanhado de um estudante vidente. Oriente-os a inicialmente conversar sobre as possíveis atividades humanas que interferem nos ciclos biogeoquímicos, enfatizando que ambos devem participar dessa dinâmica. As atividades antrópicas selecionadas serão ditadas pelo estudante não vidente e escritas no papel pelo estudante vidente.
Página 194
MAIS QUESTÕES
1. (Enem/MEC) Toxicidade do cianeto
A produção de A T P depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do N A D H em N A D sobrescrito mais percorrem a cadeia até chegarem à citocromo c oxidase reduzindo o F e elevado a início expoente, 3 mais, fim expoente a F e elevado a início expoente, 2 mais, fim expoente. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo F e elevado a início expoente, 3 mais, fim expoente. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de F e elevado a início expoente, 3 mais, fim expoente da citocromo c oxidase, impedindo a sua conversão em F e elevado a início expoente, 2 mais, fim expoente e bloqueando a cadeia respiratória.
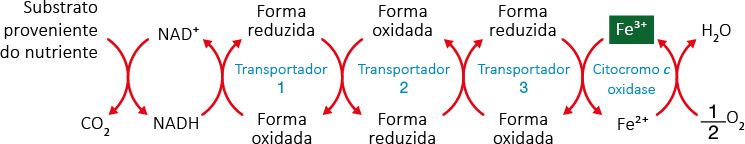
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artmed, 2010 (adaptado).
Esse bloqueio aumenta a concentração celular de
a ) ATP.
b ) água.
c ) N A D H.
d ) dióxido de carbono.
e ) citocromo c oxidase.
Resposta: Alternativa c.
2. (Unicamp-SP) As relações ecológicas podem ser representadas por modelos de fluxo de energia, cujas principais vantagens são as representações dos decompositores, da matéria orgânica armazenada no sistema e da energia dispendida para a manutenção dos organismos. O modelo hipotético a seguir indica os valores abre parênteses quilocaloria barra metro quadrado barra ano fecha parênteses de produtividade primária bruta (PPB), de produtividade primária líquida (PPL), de produtividade secundária líquida (PSL) e do fluxo de energia (setas). Os valores dentro das setas indicam a energia assimilada pelo próximo nível trófico.
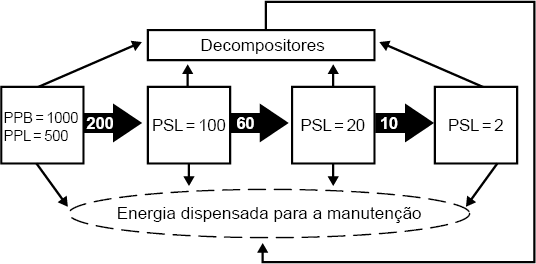
Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que a energia
a ) utilizada para a manutenção do consumidor primário é de 40 quilocalorias barra metro quadrado barra ano.
b ) direcionada aos decompositores é de 352 quilocalorias barra metro quadrado barra ano.
c ) consumida na manutenção dos autotróficos é de 700 quilocalorias barra metro quadrado barra ano.
d ) assimilada pelos carnívoros é de 270 quilocalorias barra metro quadrado barra ano.
Resposta: Alternativa b. Resolução nas Orientações para o professor.
3. (Enem/MEC) O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de microrganismos.
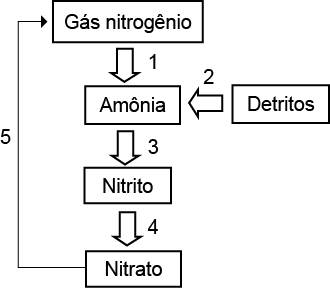
Se o grupo dos microrganismos decompositores fosse exterminado, qual etapa não ocorreria?
a ) 1
b ) 2
c ) 3
d ) 4
e ) 5
Resposta: Alternativa b.
Página 195
4. (UFRGS-RS) O biólogo Dr. Maurício Tavares, do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da UFRGS, investigou o movimento das carcaças de animais marinhos e sua importância no ecossistema costeiro do Rio Grande do Sul. As carcaças participam de um processo essencial de reciclagem de nutrientes: os animais mortos servem de alimento não apenas para vertebrados, como urubus e gaviões, mas também para pequenos invertebrados, que posteriormente são fonte de alimento para outras espécies, como maçarico-de-papo-vermelho (Calidris canutus), uma ave migratória ameaçada de extinção.
Disponível em: <https://s.livro.pro/4t4qde>. Acesso em: 17 ago. 2023.
Assinale a alternativa correta em relação às relações no ecossistema descrito.
a ) Por se tratar de animais mortos, qualquer atividade antrópica que interfira no trajeto, local de encalhe ou tempo de decomposição das carcaças não terá nenhum impacto negativo sobre o ecossistema local.
b ) Urubus, gaviões e pequenos invertebrados que se alimentam das carcaças podem ser considerados detritívoros e, por se alimentarem de animais mortos, são capazes de obter a totalidade da energia capturada pelo nível trófico imediatamente anterior da cadeia alimentar.
c ) O maçarico-de-papo-vermelho pode ser considerado como um consumidor primário ao se alimentar dos pequenos invertebrados que se alimentaram das carcaças dos animais mortos.
d ) O fluxo de energia diminui em direção aos níveis mais altos da cadeia alimentar, ou seja, há perda de energia entre os níveis tróficos, independentemente das espécies citadas no texto acima.
e ) A extinção do maçarico-de-papo-vermelho, por se tratar de uma ave migratória, seria benéfica para o ecossistema local, reduzindo a competição com outras aves e aumentando a produtividade primária e o fluxo de energia dentro da cadeia alimentar.
Resposta: Alternativa d.
5. (Fuvest-SP)
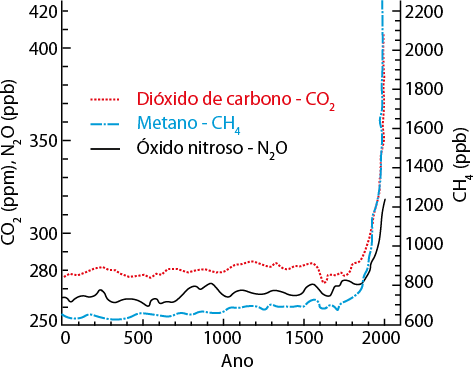
IPCC 4th Report Main Findings. Disponível em: https://s.livro.pro/exvqea. Adaptado
O gráfico apresentado mostra as concentrações atmosféricas dos principais gases de efeito estufa até o ano 2000, sendo eles: CO subscrito 2, quantificado em partes por milhão abre parênteses p p m fecha parênteses, N subscrito 2 O e C H subscrito 4, ambos quantificados em partes por bilhão abre parênteses p p m fecha parênteses. Em junho de 2022, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) reportou que, naquela data, os níveis de CO subscrito 2 na atmosfera encontravam-se em torno de 420 p p m. Esse valor é muito superior à concentração média de aproximadamente 280 p p m, existente antes da Revolução Industrial.
Com base nessas informações e em seus conhecimentos, é correto afirmar:
a ) Apesar do grande aumento nas quantidades dos três principais gases de efeito estufa a partir da Revolução Industrial, seus níveis passaram a estabilizar por volta do ano 2000.
b ) A mecanização resultante da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, causou grandes mudanças nos meios de produção, com a utilização de energias renováveis.
c ) O plantio de árvores em grande escala acentua o aquecimento global, devido à liberação de gases do efeito estufa na atmosfera.
d ) O aquecimento global é um fenômeno recente, já que a Terra teve um clima com temperaturas constantes durante sua existência.
e ) O efeito estufa é um fenômeno intensificado a partir da Revolução Industrial, devido às atividades humanas emissoras de CO subscrito 2, que contribuem para o aquecimento global.
Resposta: Alternativa e.