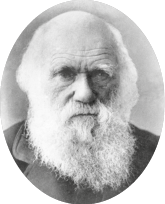Página 282
UNIDADE5
SER HUMANO: ORIGEM E FUNCIONAMENTO
Já parou para refletir sobre como os seres vivos extintos e as civilizações antigas influenciaram a espécie humana e a sociedade atual? A sociedade e a espécie humana atuais são resultado de milhões de anos de evolução.
Áreas de estudo, como Arqueologia e Paleontologia, têm o objetivo de explorar e entender esses aspectos históricos. Elas investigam os seres vivos do passado, as transformações pelas quais passaram ao longo do tempo e seus modos de vida. Para isso, tais áreas do conhecimento se baseiam na análise de fósseis, objetos e ferramentas preservados.
O esqueleto, por exemplo, é composto de vários ossos que sustentam o corpo humano. Em razão de sua estrutura rígida e dificuldade de decomposição, os ossos podem se conservar por longos períodos, como é o caso dos fósseis estudados por arqueólogos e paleontólogos, fornecendo, assim, importantes informações a respeito da evolução da espécie humana.
a ) Você já teve a oportunidade de ver algum fóssil, seja em um museu, seja em outro lugar? Compartilhe sua experiência com os colegas.
b ) Como o estudo de fósseis, objetos e ferramentas de civilizações do passado pode auxiliar na compreensão da humanidade atual?
c ) Além dos ossos, que outras estruturas estão relacionadas à locomoção dos seres humanos?
Respostas nas Orientações para o professor.
Nesta unidade, vamos estudar...
- teoria evolutiva de Lamarck;
- teoria evolutiva de Darwin e Wallace;
- teoria da síntese moderna evolutiva;
- equívocos sobre evolução;
- evidências evolutivas;
- genética de populações;
- filogenia do ser humano;
- história evolutiva do ser humano;
- sociedade e cultura humanas;
- sustentação do corpo humano;
- coordenação do corpo humano;
- nutrição humana;
- reprodução humana;
- desenvolvimento embrionário;
- gestação humana.
Página 283

Página 284
CAPÍTULO16
Evolução dos seres vivos
Seres vivos, organismos em transformação
Leia o texto a seguir.
[...] Até há bem pouco tempo, a maior parte dos naturalistas supunha que as espécies eram produções imutáveis criadas separadamente. Numerosos sábios defenderam habilmente esta hipótese. Outros, pelo contrário, admitiam que as espécies provinham de formas preexistentes por intermédio de geração regular. [...]
DARWIN, Charles. A origem das espécies. Tradução: Joaquim da Mesquita Paul. Porto: Lello & Irmão, 2003. p. 4.
1. Do seu ponto de vista, qual das hipóteses citadas no texto é a mais aceita atualmente para explicar a diversidade de espécies existente na Terra?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito da evolução das espécies. Espera-se que mencionem a hipótese de que elas se originaram de outras preexistentes, pois, de acordo com essa ideia, é possível admitir que as espécies se transformam ao longo do tempo e podem dar origem a novas espécies. Além disso, admite uma ancestralidade entre os seres vivos.
Você já parou para refletir sobre a diversidade de espécies que existe nos ambientes e em como elas estão adaptadas aos locais onde vivem? Essa é uma questão que intriga o ser humano há bastante tempo. Na busca por respondê-la, cientistas elaboraram diversas explicações. A seguir, vamos conhecer algumas delas.
Para alguns filósofos, como o grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), o mundo sempre existiu e nunca mudou. Dentro dessa corrente de pensamento, também se acreditava que as espécies eram fixas, imutáveis e mantinham-se ao longo do tempo tal como se originaram. Essa visão ficou conhecida como fixismo.
O criacionismo, por sua vez, foi o pensamento predominante entre a Idade Média e o século XIX. De acordo com esse conceito, um ser supremo teria criado o Universo e os seres vivos que existem hoje. Como essa criação foi perfeita, os seres vivos não se modificaram ao longo do tempo e permanecem até hoje como foram criados.
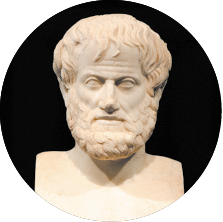
Professor, professora: Ao abordar o criacionismo, comente com os estudantes que visões semelhantes a esse pensamento fazem parte de histórias do folclore de diversas civilizações.
A partir do século XVII, com a Revolução Científica, alguns ideais do criacionismo começaram a ser confrontados pelas descobertas dos estudiosos. Uma delas foi a descoberta de fósseis de animais extintos, mostrando que, no passado, existiram outras formas de vida, diferentes das atuais. Isso levou os estudiosos a questionar a idade da Terra e a imutabilidade das espécies.

No século XIX, alguns naturalistas passaram a admitir que os seres vivos sofriam transformações ao longo do tempo. O francês Georges-Louis Leclerc (1707-1788), mais conhecido como conde de Buffon, defendia que a vida havia se originado de tipos distintos de seres vivos, provenientes de um único molde interno. Nesse molde, haveria partículas orgânicas que formavam todos os seres vivos. Ele afirmava que esses seres vivos migravam pelo planeta e, conforme se deslocavam, suas partículas orgânicas e seu molde interno se modificavam. Assim, Buffon explicaria a distribuição geográfica distante de espécies semelhantes.
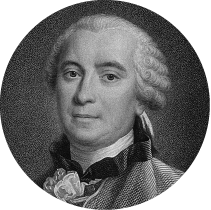
Embora essa teoria não tenha validade atualmente, foi uma das primeiras a não seguir as ideias fixistas/criacionistas e a se basear em evidências científicas, defendendo que tanto a Terra como a vida tinham uma história.
Página 285
As ideias de Lamarck
Após Buffon, outro naturalista que admitia as transformações das espécies ao longo do tempo foi um francês conhecido como cavaleiro de Lamarck (1744-1829). Segundo Lamarck, os seres vivos tinham as formas atuais em virtude de processos de mudanças naturais, defendendo que eles evoluíam ao longo do tempo.
Lamarck considerava uma evolução linear, na qual seres mais simples, todos originados por geração espontânea, tornavam-se mais complexos a cada geração. Para explicar a existência tanto de seres supostamente mais simples como de seres mais complexos, Lamarck considerava que a geração espontânea ocorria o tempo todo, gerando seres simples continuamente. Para ele, os seres vivos mais complexos teriam surgido de seres mais simples que se transformaram ao longo do tempo, os quais haviam surgido recentemente.
De acordo com Lamarck, o ambiente apresentava os fatores que determinavam as mudanças e alteravam os planos básicos de organização dos seres vivos. Para ele, o organismo modificava seu comportamento, seus hábitos ou seu formato diante das modificações ambientais e, consequentemente, das necessidades do organismo.
Para sustentar suas ideias, Lamarck postulou duas leis. Leia-as a seguir.
Lei do uso e desuso
De acordo com essa lei, as estruturas que eram muito utilizadas se desenvolveriam (uso) e as que não eram utilizadas atrofiariam (desuso). Assim, o ambiente geraria um estímulo que alteraria a morfologia de uma estrutura anatômica. Isso explicaria por que alguns seres vivos tinham órgãos mais desenvolvidos de acordo com o papel que cada um deles desempenhava em sua sobrevivência.
Lei da transmissão dos caracteres adquiridos
Segundo essa lei, as alterações morfológicas decorrentes do uso e desuso poderiam ser transmitidas aos descendentes, o que explicaria a diversidade de seres vivos e de tantos gêneros e espécies distintas.
Analise no exemplo a seguir uma aplicação das ideias lamarckistas.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
A.

B.

C.

Representação de uma possível aplicação das ideias lamarckistas para explicar o comprimento do pescoço das girafas.
Imagem elaborada com base em: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Conceitos iniciais da evolução: Jean Baptiste Lamark. EvoSite. p. 1. Disponível em: https://s.livro.pro/90tiig. Acesso em: 16 set. 2024.
Fósseis encontrados no passado indicavam que o tamanho do pescoço das girafas variava. Se aplicássemos as ideias de Lamarck para explicar como isso seria possível, poderíamos supor que as girafas ancestrais tinham pescoços mais curtos (A). Por causa da necessidade de se alimentar das folhas mais altas, elas começaram a esticar seu pescoço (B), que ficou maior ao longo do tempo (C). Como o pescoço longo favoreceria visualizar possíveis predadores e alcançar folhas de árvores de alturas diferentes, essa característica adquirida ao longo do tempo teria sido transmitida aos descendentes. A característica adquirida (pescoço longo) foi transmitida aos descendentes dessas girafas e se manteve na espécie.
Página 286
É importante ressaltar que Lamarck não foi o primeiro a defender a transmissão de caracteres adquiridos, pois essa ideia também foi defendida por outros estudiosos, como o filósofo grego Platão (427 a.C.-347 a.C.). Lamarck sofreu grande rejeição no meio científico, pois muitos estudiosos da época acreditavam nas evidências científicas, mas eram influenciados por suas crenças religiosas.
Apesar de sabermos hoje que as ideias de Lamarck estavam equivocadas, elas foram importantes para a Ciência, pois se baseavam em evidências científicas e defendiam a mutabilidade dos seres vivos, o que foi fundamental para as reflexões posteriores sobre evolução.
As ideias de Darwin e Wallace
Cerca de cinquenta anos após a publicação das ideias de Lamarck, uma nova teoria evolutiva foi proposta. Um dos autores foi o naturalista inglês Charles Darwin (1809-1882). Entre 1831 e 1836, Darwin fez uma expedição ao redor do mundo a bordo do navio Beagle, pretendendo, entre outros objetivos, mapear a costa da América do Sul. Seu trajeto incluiu a América do Sul, inclusive o Brasil, e parte da Europa, Oceania e África.
Em 1836, após retornar de viagem, Darwin levou os exemplares coletados a especialistas, como o geólogo escocês Charles Lyell (1797-1875) e os ingleses Richard Owen (1804-1892), anatomista; John Gould (1804-1881), ornitólogo; George Waterhouse (1810-1888), naturalista; e Thomas Bell (1792-1880), zoólogo.
Como Gould era especialista em aves, Darwin pediu a ele que classificasse os exemplares de tordos-dos-remédios, encontrados em Galápagos. Gould concluiu que as aves pertenciam a um grupo ainda desconhecido pela Ciência. Ambos constataram, então, que as diferentes espécies habitavam apenas as ilhas onde viviam. Com base nisso, Darwin passou a compreender que suas evidências apontavam para a transmutação, ou seja, a modificação das espécies.
Durante anos, Darwin trabalhou a ideia de que as espécies sofrem mudanças, mas não a publicou, compartilhando-a apenas com poucas pessoas. Além de agrupar ideias sobre a Biologia evolutiva, ele precisava explicar como esse processo ocorria.
Os tordos-dos-remédios apresentam uma diversidade de formatos e tamanhos de bicos, os quais estão adaptados à coleta de alimentos específicos e, consequentemente, aos locais onde vivem. É possível observar, por exemplo, bicos robustos adaptados à quebra de sementes duras ou bicos compridos e afunilados adaptados à captura de insetos escondidos. Embora aparentassem ser espécies de grupos diferentes, John Gould conseguiu perceber que os exemplares coletados por Darwin, na verdade, eram indivíduos intimamente relacionados.
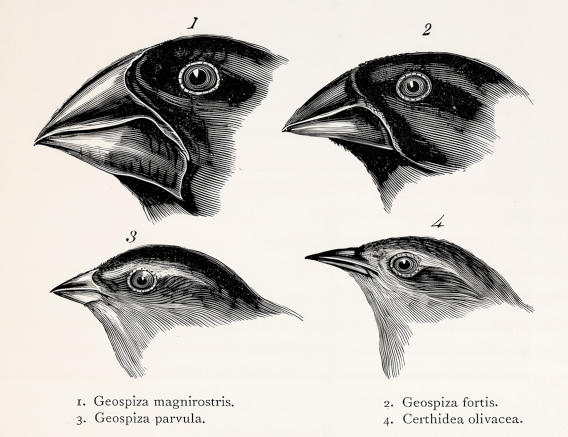
Darwin identificou em um trabalho do economista inglês Thomas Malthus (1766-1834), denominado Ensaio sobre populações, uma das respostas de que precisava. Nesse trabalho, Malthus faz um alerta. Ele menciona a possibilidade de um aumento populacional desproporcional à oferta de alimento, a qual se tornaria insuficiente para abastecer toda a população e, por isso, causaria grande pressão sobre as classes mais pobres. Assim, se os indivíduos não sobrevivessem a essas condições, morreriam, limitando o crescimento da população.
Página 287
Darwin começou, então, a considerar que as populações de animais e de plantas também poderiam sofrer essa pressão populacional. Se a disponibilidade de alimentos fosse limitada e os indivíduos precisassem competir por esses recursos, haveria um controle populacional, impedindo que tais populações aumentassem descontroladamente.
Ao mesmo tempo em que pensava em publicar suas ideias inovadoras, vinte anos após ter iniciado seus trabalhos relacionados à transmutação, Darwin recebeu uma carta do naturalista inglês Alfred Russel Wallace (1823-1913), com quem se correspondia e partilhava alguns estudos. Nela, Wallace narrava e propunha uma teoria semelhante à de Darwin.
Wallace havia estudado exemplares coletados na América do Sul e em Mali, país africano, e chegado às mesmas conclusões que Darwin. Por causa dessa coincidência, eles foram convidados por Charles Lyell e pelo botânico inglês Joseph Dalton Hooker (1817-1911) para apresentarem simultaneamente suas ideias à comunidade científica em 1858.
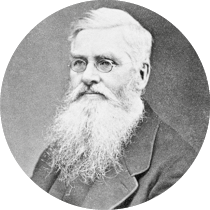
Em 1859, Charles Darwin lançou o livro A origem das espécies, pelo qual ficou reconhecido e que é considerado um marco nos estudos evolutivos. Assim, tanto Darwin como Wallace chegaram a uma teoria unificadora, que defendia a evolução dos seres vivos e propunha um mecanismo pelo qual ela ocorria: a seleção natural.
Afinal, o que é seleção natural? Considere a população de uma espécie adaptada a determinado ambiente, por exemplo, um animal cuja coloração da pelagem possibilita que ele se camufle✚ no ambiente.
Essa característica, que favorece a sobrevivência, torna-se cada vez mais frequente no ambiente, pois os indivíduos que a apresentam têm mais probabilidade de sobreviver até a idade reprodutiva e, assim, transmiti-la para a prole. Já os indivíduos menos adaptados podem ser eliminados do ambiente antes de conseguirem se reproduzir, por exemplo, o que torna a característica cada vez mais rara no ambiente. Após muitas gerações, a maior parte dos indivíduos da população terá a característica que conferiu vantagem em sua sobrevivência.
A coloração da pelagem da raposa-do-ártico (Alopex lagopus), por exemplo, fica branca durante o inverno, possibilitando que se camufle na neve. Isso prejudica sua identificação pelo predador e pelas presas, favorecendo sua sobrevivência e a captura de alimentos, respectivamente.
Raposa-do-ártico (A. lagopus): pode atingir aproximadamente 90 centímetros de comprimento.

Assim, a seleção natural é um processo natural de manutenção das variações favoráveis à sobrevivência, que, geralmente, resulta na eliminação das variações desfavoráveis. Portanto, os organismos mais bem adaptados a sobreviver em determinadas condições têm mais probabilidade de transmitir suas características para uma prole, aumentando a frequência dessa característica ao longo das próximas gerações.
2. Como você explicaria o tamanho do pescoço das girafas citadas por Lamarck, de acordo com a teoria da seleção natural proposta por Darwin e Wallace?
Resposta nas Orientações para o professor.
O processo contínuo de diferenciação das populações pode levar ao acúmulo de variações, a ponto de originar novas espécies. Esse processo é denominado especiação e implica em ancestralidade comum, ou seja, duas espécies, por exemplo, seriam descendentes de uma única espécie ancestral que existiu no passado.
- Camuflar:
- disfarçar-se no ambiente pelo uso de métodos e técnicas que propiciam ao animal se confundir com o ambiente.↰
Página 288
A sociedade reagiu negativamente às ideias sobre evolução. Quando se propõe uma descendência comum entre as espécies de seres vivos, defende-se que esses seres são aparentados entre si, o que contraria muitas crenças religiosas. Alguns pesquisadores aplicaram as ideias de Darwin em seus trabalhos; outros resistiram e continuaram com a ideia de que as espécies obedeciam a uma evolução linear, tal como proposto por Lamarck. O fato é que os argumentos de Darwin e Wallace eram baseados em evidências.
Darwin também defendeu a ideia da seleção sexual e seu valor evolutivo, pois observou que alguns organismos têm vantagens reprodutivas em relação a outros do mesmo sexo.
Os efeitos desse tipo de seleção são bastante visíveis em animais que têm características relacionadas aos rituais de acasalamento e corte, como penas coloridas, plumagem chamativa e cornos, e que apresentam dimorfismo sexual acentuado, ou seja, acentuada diferença entre machos e fêmeas.
Esse tipo de seleção pode se dar tanto entre machos disputando entre si o acesso às fêmeas e às áreas de reprodução como pelas fêmeas priorizando determinados machos.
Os pavões-indianos, por exemplo, têm acentuado dimorfismo sexual. Os machos são dotados de penas da cauda chamativas, as quais são utilizadas como item de seleção de machos pelas fêmeas.
Pavão-indiano (P. cristatus): pode atingir aproximadamente 2 metros de comprimento.
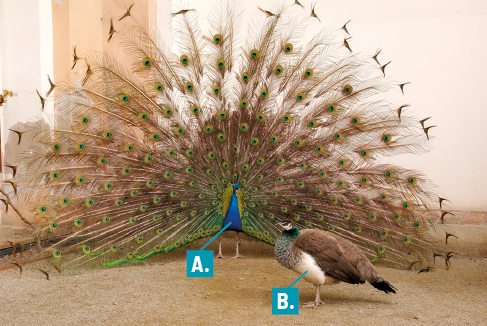
Seleção artificial
Desde muito tempo o ser humano observa animais e plantas que apresentam características de seu interesse e os seleciona. Um exemplo desse tipo de seleção foi realizado com o milho atual (Zea mays), resultado da seleção artificial e da domesticação do teosinto (Balsas teosinte), há cerca de 9 mil anos.
No teosinto, os grãos eram muito pequenos e duros e não ficavam aderidos à espiga, por exemplo. Ao longo do tempo, o ser humano foi selecionando características consideradas favoráveis, o que resultou em uma nova linhagem de plantas, nas quais os grãos eram maiores e se mantinham presos na espiga, o milho atual.
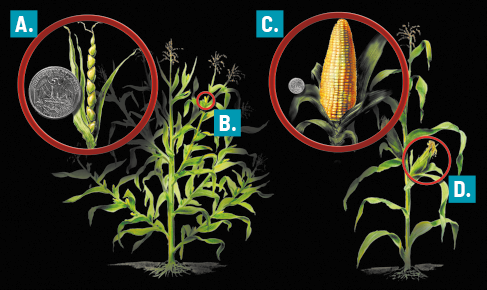
Esse tipo de seleção também ocorre entre animais que têm características consideradas favoráveis, como os bovinos. Nesse ramo da pecuária, animais que apresentem características favoráveis à produção de carne ou de leite, por exemplo, são selecionados e direcionados a gerar proles com as mesmas características.
Como as características nesses seres vivos não são selecionadas naturalmente por favorecerem sua sobrevivência, mas sim por interesses humanos, a seleção é dita artificial.
a ) Você é favorável à seleção artificial? Converse com os colegas sobre o assunto.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a expor suas opiniões sobre o tema, posicionando-se a respeito disso e respeitando as opiniões divergentes. Aproveite o momento para comentar com eles que a seleção artificial é um processo que ocorre há milênios e, atualmente, diversos itens consumidos pelo ser humano em larga escala são fruto desse tipo de seleção.
Página 289
CONEXÕES com ... HISTÓRIA e SOCIOLOGIA
Darwinismo social
No século XX, a teoria da evolução, proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace, foi interpretada por determinados membros da sociedade de maneira incoerente e distorcida para justificar noções inapropriadas de superioridade racial, dando origem a ideias que culminaram no chamado darwinismo social.
Entre aqueles que defendiam essas ideias, o filósofo inglês Herbert Spencer (1820-1903) foi um dos principais responsáveis pela adaptação das ideias evolucionistas para o campo social. Ele argumentou que as sociedades humanas também seguem um processo evolutivo, promovendo a noção de que algumas culturas eram mais avançadas do que outras. Essa perspectiva levou ao desenvolvimento do evolucionismo cultural, que categorizava as culturas em uma escala hierárquica, colocando as europeias no topo e considerando as demais atrasadas em relação a elas.
As ideias de pensadores como Spencer tiveram um impacto significativo, favorecendo um contexto de hierarquização racial e de disseminação dessas teorias. Esse cenário não apenas alimentou preconceitos, como também influenciou políticas e práticas discriminatórias e etnocêntricas✚ ao longo do tempo, moldando a forma como as sociedades eram entendidas e tratadas no cenário global. Um exemplo de pensamento que se baseou, em parte, nessas distorções é o racismo científico, que buscava justificar a desigualdade racial fundado em supostas diferenças biológicas entre grupos humanos, apresentando teorias para legitimar a discriminação.
O livro Primeiros princípios, de Herbert Spencer, apresenta algumas das reflexões sobre a adaptação da teoria da evolução de Darwin.
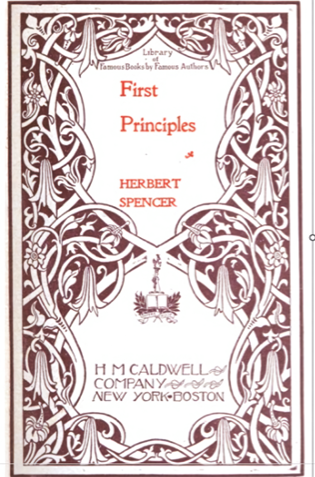
Essas perspectivas foram superadas por novos teóricos sociais que trouxeram uma visão mais diversificada das culturas. O antropólogo alemão Franz Boas (1858-1942), considerado um dos fundadores da antropologia norte-americana e um dos principais defensores do relativismo cultural, argumentou que não há uma única cultura que possa ser considerada superior. Ele introduziu o conceito de "culturas", no plural, enfatizando a diversidade entre os povos. Para Boas, cada cultura deveria ser compreendida em seu próprio contexto, respeitando suas particularidades. Essa abordagem rejeita o etnocentrismo, promovendo a ideia de que as diferenças culturais devem ser compreendidas sem hierarquização ou comparação a um padrão único.
a ) De que maneira as distorções da teoria da evolução se conectam a outras teorias e movimentos que legitimaram práticas discriminatórias ao longo da história? Converse com os colegas e, se necessário, faça uma pesquisa.
Resposta nas Orientações para o professor.
b ) De que forma o etnocentrismo se manifesta nas opiniões sobre hábitos culturais de outros povos? Você consegue identificar exemplos de comportamentos que possam ser considerados etnocêntricos na sociedade atual?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que o etnocentrismo se manifesta quando julgamos práticas culturais diferentes do ponto de vista de nossa própria cultura, resultando em perspectivas preconceituosas. Isso inclui críticas a tradições alimentares, costumes de vestuário ou crenças religiosas que não se alinham à cultura ocidental.
c ) Como você percebe a influência de visões preconceituosas e de superioridade racial na sociedade brasileira contemporânea? Quais aspectos refletem essas ideias de racismo?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes respondam que a superioridade racial ainda está intrincada em diversas esferas da sociedade brasileira, como na desigualdade de acesso a serviços e direitos fundamentais, como saúde e educação, nas oportunidades no mercado de trabalho e na representação midiática. Eles podem identificar como as políticas públicas muitas vezes falham em atender à população negra, por exemplo, além de notar a persistência de estereótipos raciais em piadas, na publicidade e em discursos políticos.
- Etnocêntricas:
- referente a etnocentrismo, tendência de avaliar outras culturas com base nos padrões e valores da própria cultura, considerando-a superior às demais.↰
Página 290
Síntese moderna evolutiva
A teoria de Darwin e Wallace foi essencial para os estudos da evolução das espécies, assim como estudos de outros cientistas ao longo do tempo. No entanto, ela não conseguiu responder a algumas questões evolutivas, como por que diferenças sutis entre os indivíduos de uma população podiam gerar novas espécies completamente diferentes. Essa dificuldade pode ser, em parte, por causa da falta de conhecimentos sobre Genética e pelo fato de não haver, na época, conhecimento sobre o mecanismo de transmissão das características aos descendentes.
No século XX, alguns estudiosos tentaram unir as ideias darwinistas e mendelianas em uma teoria evolutiva, fazendo surgir, então, a síntese moderna evolutiva ou síntese moderna da evolução, também conhecida como teoria sintética da evolução. Nessa teoria, foram reunidas contribuições da Genética, da Sistemática e da Paleontologia✚ ao estudo evolutivo, integrando a teoria darwinista e as descobertas sobre a hereditariedade.
Esses novos estudos desenvolveram a noção de que espécies são populações isoladas reprodutivamente de outras, e não somente tipos morfológicos semelhantes entre si. A seguir, são apresentados os princípios da síntese moderna evolutiva.
Professor, professora: Enfatize aos estudantes que o conhecimento científico é uma construção humana coletiva, passível de mudanças ao longo do tempo, ou seja, não é uma verdade absoluta. Essas características podem ser percebidas ao longo do estudo das teorias evolutivas, por exemplo.
As populações apresentam variações genéticas, que surgem de mutações ao acaso e da recombinação gênica.
As populações evoluem por causa de mudanças na frequência alélica, que ocorrem por causa da seleção natural, da deriva genética e do fluxo gênico.
A evolução depende de fatores que modificam as frequências de alelos e de genótipos em uma população. Entre esses fatores estão: a mutação, a recombinação gênica, o fluxo gênico (migração), a deriva genética, os cruzamentos preferenciais e a seleção natural. Alguns desses fatores serão abordados a seguir.
Mutações
De maneira geral, as mutações podem ser consideradas modificações que ocorrem na sequência dos pares de bases nitrogenadas de uma molécula de DNA.
A.
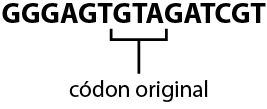
B.

Representação de exemplo de mutação em sequência de DNA.
Em A, a sequência original de DNA; em B, a sequência de DNA com a substituição de uma base nitrogenada. Em grande parte dos casos, alterações nos códons mudam os aminoácidos inseridos na proteína em produção.
As mutações são a base para a evolução dos seres vivos, pois provocam variações nos indivíduos de uma população. Por exemplo, a mutação pode alterar a capacidade de adaptação de um indivíduo, deixando-o propenso a sobreviver em certo ambiente, sob determinadas condições. Já a seleção natural atua na manutenção das mutações que conferem vantagem à espécie.
Apesar de a frequência de mutações naturais ser baixa em uma população, cerca de uma em um milhão, ela é suficiente para gerar diversidade genética.
3. É possível afirmar que as mutações são sempre benéficas à espécie?
Resposta: Não, pois, dependendo da mutação, ela poderá ser prejudicial à sobrevivência da espécie ou não ter nenhum efeito na espécie.
4. As mutações são resultado apenas de alterações ao acaso no DNA? Explique sua resposta.
Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que não, pois as mutações também podem ser induzidas por agentes mutagênicos, ou seja, não ocorrerem ao acaso. Entre esses agentes químicos, o ácido nitroso abre parênteses H N O subscrito 2 fecha parênteses e a nicotina abre parênteses C subscrito 10 H subscrito 14 N subscrito 2 fecha parênteses; e agentes físicos, como a radiação ionizante e a radiação ultravioleta (UV).
- Paleontologia:
- Ciência cujo objetivo é estudar os seres vivos do passado; com base em evidências fósseis, busca-se identificar/reconstruir a história dessas espécies, incluindo sua anatomia, seus hábitos e sua relação com os seres vivos da época. ↰
Página 291
Recombinação gênica
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
Assim como as mutações, a recombinação gênica pode aumentar a diversidade de genomas na população, caso exista variação genética. Essa recombinação consiste na troca de segmentos de DNA entre cromossomos homólogos, de origem materna e paterna, misturando os genes parentais e resultando em aumento das combinações genéticas nos gametas. Acompanhe a seguir.
Professor, professora: Ao abordar a imagem da recombinação gênica, comente com os estudantes que as cromátides-irmãs, embora idênticas entre si, foram representadas com cores distintas para facilitar a compreensão do esquema.
A.
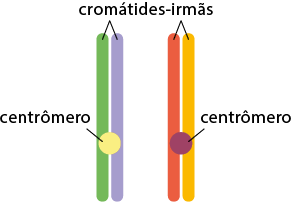
B.
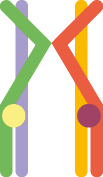
C.
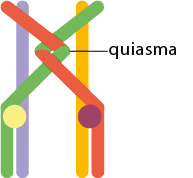
D.

Representação de diferentes etapas (A a D) da recombinação gênica entre cromossomos homólogos.
Considere um par de cromossomos homólogos (A) que se quebram no mesmo ponto (B) e se recombinam (C), originando cromossomos com variação genética (D).
Imagens elaboradas com base em: RIDLEY, Mark. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 60.
Deriva genética
A deriva genética ocorre quando eventos ao acaso promovem modificação nas frequências alélicas de determinada população. Esse processo ocorre em todas as populações. No entanto, quando elas são muito pequenas, ou seja, constituídas de um grupo reduzido de indivíduos que contribuem com genes para a próxima geração, a deriva genética atua com mais intensidade. Isso pode aumentar a frequência de alguns alelos na população, enquanto outros são eliminados totalmente ao acaso. Esses eventos são denominados gargalos populacionais.
Professor, professora: Comente com os estudantes que um alelo neutro ou um alelo deletério também pode ser fixado na população por deriva genética, o que poderá eliminar um alelo vantajoso à população.
O gargalo populacional pode ocorrer com animais ameaçados de extinção. Considere duas populações de mamíferos da mesma espécie, vivendo em locais diferentes. Na região A, os mamíferos (população A) foram caçados indiscriminadamente, ocasionando uma redução drástica em sua população. Enquanto isso, na região B (população B), os animais foram conservados. Após algumas décadas, a população A se recuperou em quantidade e expandiu. Quando pesquisadores mapearam a sequência de proteínas das duas populações, notaram que, na população B, a taxa de diversidade era muito maior do que na população A.
1.
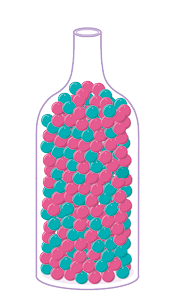
2.

3.
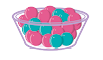
4.
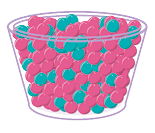
Representação do efeito gargalo populacional. Nessa imagem, as esferas coloridas representam diferentes alelos na população.
Imagens elaboradas com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 403.
1. Na população A, antes da caça, as frequências dos alelos rosa e verde eram iguais.
2. A caça indiscriminada causou uma redução acentuada da população, que passou por um gargalo populacional.
3. A população resultante apresenta frequências alélicas diferentes da população antes da caça.
4. Na população atual, já recomposta, a frequência alélica é diferente da frequência anterior à caça (imagem 1). Com isso, há mais alelos rosa do que verdes. Ou seja, houve alteração na frequência alélica na população.
Página 292
Migração
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
A migração ou fluxo gênico ocorre quando indivíduos (migrantes) chegam a uma nova localidade. Eles podem acrescentar novos alelos à população nativa ou modificar as frequências de alelos já existentes. Confira a seguir.
A.
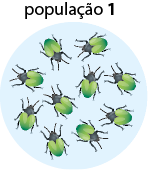
B.
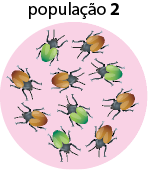
C.
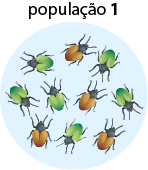
Representação de fluxo gênico envolvendo migração.
Imagens elaboradas com base em: FLUXO gênico. Evolução 101. Disponível em: https://s.livro.pro/jwj1hd. Acesso em: 17 set. 2024.
Considere duas populações de besouros da mesma espécie: população 1, de besouros verdes (A); e população 2, de besouros verdes e marrons (B).
Um besouro marrom da população 2 migra para a população 1. Após diversas gerações, na ausência de seleção natural, a população 1 passa a apresentar besouros verdes e besouros marrons.
Especiação
5. Explique, com suas palavras, o conceito biológico de espécie.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é retomar o conceito estudado anteriormente. Espera-se que os estudantes comentem que de acordo com o conceito biológico, espécie é um grupo de organismos semelhantes entre si e capazes de intercruzar em condições naturais, produzindo descendentes férteis.
Como estudamos, a especiação é um processo evolutivo relacionado ao surgimento de novas espécies com base em uma linhagem preexistente. A variabilidade genética é a chave para a evolução e para o processo de especiação. Para que a especiação ocorra, é necessário que os conjuntos gênicos da espécie ancestral e da nova espécie se diferenciem. Ou seja, é preciso interromper o fluxo gênico entre ambas.
Por isso, a especiação pode ocorrer, por exemplo, pelo isolamento geográfico. Nele, populações de uma espécie são mantidas separadas por uma barreira geográfica, impedindo que os indivíduos de uma população cruzem com os de outra população, bloqueando, dessa maneira, o fluxo de genes entre elas. Com isso, inicia-se o processo de diferenciação, que pode levar à especiação. Confira a seguir.
I.
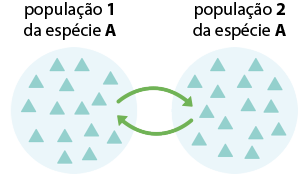
II.

III.

Representação de diferentes etapas (I a III) do processo de especiação por isolamento geográfico. Na etapa I, as setas indicam o cruzamento entre indivíduos das diferentes populações (1 e 2).
Imagens elaboradas com base em: PURVES, William K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 415.
I. Inicialmente, há duas populações (1 e 2) da mesma espécie (A). Os indivíduos de uma população cruzam entre si e com a população vizinha.
II. Com o passar dos anos, forma-se uma barreira geográfica, que interrompe o fluxo gênico entre as populações. Como resultado, elas começam a divergir geneticamente, por ação de fatores evolutivos, como a seleção natural e a deriva genética. No entanto, ainda poderiam se intercruzar, caso a barreira geográfica deixasse de existir.
III. Após muitos anos e diversas gerações, desenvolve-se a incompatibilidade reprodutiva, resultando em duas novas espécies (B e C). Mesmo que parte da barreira geográfica deixe de existir, as espécies poderão colonizar a mesma região, sem, contudo, se intercruzar, isto é, tornam-se isoladas reprodutivamente.
Professor, professora: Ao citar as barreiras geográficas, explique aos estudantes que esse tipo de barreira pode surgir como resultado de diferentes processos naturais, como um terremoto, que pode mudar o curso de um rio, ou o choque de placas tectônicas que pode resultar na formação de montanhas.
Página 293
ATIVIDADES
1. Um estudante deparou-se com a seguinte notícia na televisão: "Há um aumento na quantidade de mortes causadas por bactérias resistentes a antibióticos comuns". Com base nessa notícia, ele elaborou duas hipóteses para explicar o problema. Hipótese A: os antibióticos levaram ao aparecimento de bactérias resistentes e elas passaram a se multiplicar, transmitindo essa característica às gerações seguintes. Hipótese B: as bactérias mais resistentes aos antibióticos foram selecionadas e as menos resistentes não sobreviveram à ação dos antibióticos. As bactérias selecionadas passaram a se multiplicar, transmitindo essa característica (resistência a antibióticos) às gerações seguintes.
a ) Qual das hipóteses citadas (A e B) foi formulada com base nas ideias de Lamarck e que lei defendida por esse cientista está contemplada nela? Explique sua resposta.
b ) Qual das hipóteses foi formulada com base na teoria de Darwin e Wallace e que ideia dessa teoria está presente nessa hipótese?
2. Leia o texto a seguir.
[...]
É certo que seres humanos não resistiriam viver nessa área mais contaminada. Mas se você acha que o entorno de Chernobyl é uma área desprovida de vida, saiba que exuberantes florestas ao redor da antiga usina nuclear floresceram pouco tempo depois do acidente e atraem muitos animais. Sim, toda a vegetação, exceto as plantas mais vulneráveis e expostas, sobreviveram, mesmo nas áreas mais radioativas. [...]
LALIC, Susana de Souza. As plantas e o desastre de Chernobyl: uma prova da adaptação das espécies. Saense, 14 ago. 2020. Disponível em: https://s.livro.pro/6sy94p. Acesso em: 16 out. 2024.

O texto e a imagem exploram evidências científicas que indicam que o fenômeno observado em Chernobyl seja um exemplo de adaptação e seleção natural. Identifique a alternativa que apresenta uma possível explicação para o fenômeno explorado no texto e na imagem.
a ) As plantas mais resistentes persistiram no ambiente, colonizando-o, enquanto as mais frágeis e suscetíveis à radiação foram eliminadas na fase de exposição aguda.
b ) As espécies da vegetação local se tornaram cada vez mais complexas a cada geração, evidenciando uma contínua adaptação determinada pela radiação presente na região.
c ) As plantas mais resistentes foram selecionadas artificialmente de forma a gerar uma nova população com as características desejadas para o reflorestamento local.
d ) A radiação presente no ambiente pressionou as espécies da flora local a produzirem adaptações em seus organismos, permitindo, assim, a colonização da área afetada.
e ) As espécies da flora da região permaneceram fixas e imutáveis mesmo após o contato com a radiação, comprovando que os seres vivos não se alteram ao longo do tempo.
Resposta: Alternativa a.
3. Explique o conceito de fixismo.
Resposta: Fixismo é uma visão que defende que os seres vivos atualmente viventes não se modificaram desde que foram criados, ou seja, são fixos e imutáveis.
4. Em um pedaço de papel, no tempo de um minuto, escreva palavras referentes às teorias evolutivas dos estudiosos apresentados a seguir. Em seguida, troque pedaços de papéis com um colega, comparem suas respostas e conversem sobre cada teoria.
a ) Buffon.
b ) Lamarck.
c ) Darwin e Wallace.
Respostas das questões 1 e 4 nas Orientações para o professor.
5. Explique o conceito de evolução das espécies.
Resposta: As espécies sofrem mudanças ao longo do tempo em razão de alterações nas frequências alélicas e genotípicas em uma população, que, por sua vez, ocorrem com base em fatores evolutivos, como: deriva genética, mutações, cruzamentos preferenciais, fluxo gênico e seleção natural.
6. Que fatores podem contribuir para a variação genética nas populações?
Resposta: Mutação, migração (ao adicionar novos alelos) e recombinação gênica.
7. Qual é a importância da migração para as populações?
Resposta: Por meio da migração, novos alelos podem ser acrescentados à população ou alterar a frequência de alelos já existentes na população.
Página 294
8. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda à questão proposta.
Um processo que sugere ser de formação de uma nova espécie de planta, acontecendo neste momento, é detalhado por pesquisadores da Unicamp em artigo na revista científica Plant Systematics and Evolution. Trata-se da orquídea de praia Epidendrum fulgens (assim denominada por lembrar um pássaro de fogo), abundante no litoral de São Paulo e em ilhas oceânicas como de Alcatrazes, que fica 35 quilômetros mar adentro. [...]
Segundo o docente, a pesquisa foi conduzida por sua aluna de iniciação científica Giovanna Selleghin Veiga, no Laboratório de Ecologia Evolutiva e Genômica de Plantas do Instituto de Biologia (IB). "Já esperávamos que as plantas da ilha fossem geneticamente diferentes; o achado se deu quando tentamos cruzá-las com as do continente. Além da elevada diferenciação, experimentos de biologia reprodutiva revelaram que as plantas da ilha perderam a capacidade de se reproduzir com as do continente, indicando que há o processo de formação de uma nova espécie em andamento."
[...]
SUGIMOTO, Luiz. Uma nova espécie de planta está se formando neste momento. Jornal da Unicamp, 31 maio 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/640kri. Acesso em: 20 set. 2024.
a ) Qual é o processo evolutivo que, provavelmente, está envolvido no estudo citado no trecho de reportagem? Explique esse processo.
Resposta nas Orientações para o professor.
9. Leia o trecho de reportagem a seguir e responda às questões.
Com a evolução não se brinca
[...]
Há dois principais processos que explicam por que uma mutação no vírus pode se tornar comum, com o passar do tempo. Um deles é o acaso. Se uma mutação não altera de modo importante o funcionamento do vírus, ela pode tornar-se comum ou sumir por mero acaso, num processo chamado de deriva genética. Por outro lado, há mutações que se tornam comuns pois trazem alguma vantagem. É o caso da mutação D614G, presente numa linhagem do coronavírus chamada B.1, e que altera um aminoácido da proteína que o vírus usa para entrar em células humanas, tornando-o mais infeccioso. [...]
MEYER, Diogo. Com a evolução não se brinca. Jornal da USP, 22 mar. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/7wgxej. Acesso em: 16 out. 2024.
a ) Explique com suas palavras o que é deriva genética.
Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que a deriva genética ocorre quando eventos ao acaso modificam as frequências alélicas de uma população.
b ) Que processo evolutivo explica a mutação D614G ter se tornado comum na linhagem do coronavírus B.1? Justifique sua resposta.
Resposta: Espera-se que os estudantes citem a seleção natural e que comentem que a mutação D614G torna o vírus mais infeccioso e favorece a proliferação do vírus e, por isso, pode ter sido selecionada, tornando-se comum na linhagem de coronavírus B.1.
c ) Durante a pandemia de covid-19, algumas das mutações que tornaram o vírus causador da doença mais infeccioso foram originadas em país com grande quantidade de pessoas infectadas. Explique como a grande quantidade de infectados pode favorecer o aparecimento dessas mutações.
Resposta: Espera-se que os estudantes comentem que, quanto maior a quantidade de infectados, maior a proliferação do vírus e a frequência de mutações, o que, por sua vez, aumenta as chances do surgimento de uma mutação que torne o vírus mais infeccioso.
d ) Como a vacinação da população em larga escala poderia prevenir o surgimento de linhagens mais infecciosas do vírus?
Resposta: A vacinação da população em larga escala contribui para a diminuição da circulação e da proliferação do vírus, tornando mais improvável o surgimento de uma mutação que torne o vírus mais infeccioso.
10. As mudanças nas frequências de alelos e de genótipos em uma população, inerentes ao processo evolutivo, podem ser associadas a diferentes fatores, como taxa de mutação, recombinação gênica, migração e deriva genética. A respeito desses fatores, foram feitas as afirmações a seguir.
I ) As mutações se referem a modificações que ocorrem nas bases nitrogenadas que compõem a molécula de DNA e que podem resultar em características que interfiram na sobrevivência do ser vivo às condições do ambiente.
II ) A recombinação gênica está relacionada aos eventos ao acaso que geram modificações na frequência de determinados alelos em uma população.
III ) A migração, também chamada de fluxo gênico, se refere ao processo de deslocamento de indivíduos para um novo local, podendo gerar a inserção de novos alelos na população nativa ou a modificação da frequência de alelos existentes nela.
IV ) A deriva genética se refere ao processo de troca de segmentos de DNA entre dois cromossomos homólogos, gerando uma mistura de genes maternos e paternos nos gametas.
Identifique a alternativa que contém as afirmações corretas.
a ) I e II.
b ) I e III.
c ) II e III.
d ) II e IV.
e ) I e IV.
Resposta: Alternativa b.
Página 295
Equívocos sobre evolução
Se dissessem a você que é possível associar a evolução a um progresso constante, tanto de complexidade quanto de melhora no desempenho do organismo, você concordaria com essa afirmação? Muitas pessoas, ao responder a esta questão, cometem um equívoco comum: o de associar evolução a progresso. Há pessoas que acreditam que evolução é a passagem de uma forma de vida inferior ou primitiva para uma forma de vida superior. No entanto, evolução não significa progresso, tampouco é direcionada. Leia o texto a seguir.
Professor, professora: Incentive os estudantes a responder à questão proposta no texto.
[...]
Evolução significa mudança, mudança na forma e no comportamento dos organismos ao longo de gerações. As formas dos organismos, em todos os níveis, desde sequências de DNA até a morfologia macroscópica e o comportamento social, podem ser modificadas a partir daquelas dos seus ancestrais durante a evolução. Entretanto, nem todos os tipos de mudanças biológicas estão incluídos nessa definição [...]. Alterações ao longo do desenvolvimento durante a vida de um organismo não representam evolução em seu senso estrito, pois a definição refere-se à evolução como uma "mudança entre gerações", de modo a excluir aspectos inerentes ao desenvolvimento. [...]
RIDLEY, Mark. Evolução. Tradução: Henrique Ferreira, Luciane Passaglia e Rivo Fischer. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 28.
A evolução biológica é uma mudança nas características determinadas geneticamente das populações, que ultrapassa o período de vida de um indivíduo. Por isso, é importante ressaltar que a evolução ocorre em populações e não nos genes e indivíduos, logo um organismo sozinho não evolui. Além disso, as mudanças em uma população precisam ser transmitidas de uma geração a outra por meio do material genético.
A evolução também não é previsível, tampouco direcionada a determinada adaptação. Além disso, não acompanha um padrão linear. Confira a seguir.
A.
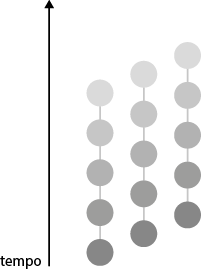
B.
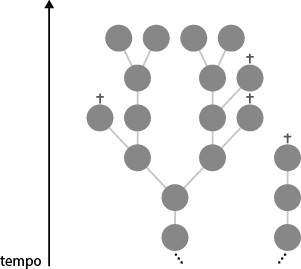
Imagens elaboradas com base em: MEYER, Diogo; EL-HANI, Charbel Niño. Evolução: o sentido da biologia. São Paulo: Unesp, 2005. p. 21.
Professor, professora: A origem de mutações é ao acaso, mas a evolução tem um componente estocástico (deriva genética) e um determinístico (seleção natural).
A. Segundo a teoria de Lamarck, a espécie se modificaria seguindo um padrão linear, da mais simples para a mais complexa.
B. Segundo a teoria de Darwin e Wallace, ao comparar espécies distintas, estima-se que elas divergiram de um ancestral comum há bastante tempo e acumularam diferenças entre si; e essa história de vida pode ser representada por uma árvore da vida.
6. Tendo em mente o conceito de evolução, é correto considerar o ser humano o ápice evolutivo dos seres vivos? Explique sua resposta.
Espera-se que os estudantes respondam que o pensamento de que o ser humano é o ápice evolutivo das espécies é incorreto, tendo em vista que a evolução não é um processo linear, que tende do mais simples para o mais complexo. Além disso, o ramo evolutivo ao qual pertence a espécie humana é apenas mais um entre diversos outros que também evoluíram ao longo do tempo. Sendo assim, todas as formas de vida têm igual importância no ambiente e, portanto, devem ser igualmente respeitadas e cuidadas.
Página 296
Evidências evolutivas
Atualmente, para a Ciência, é aceito e reconhecido que os seres vivos evoluíram e continuam evoluindo. Mas como podemos comprovar que a evolução das espécies realmente aconteceu? As respostas estão em evidências científicas. Vamos conhecer algumas delas a seguir.
Fósseis
Os fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram no passado. Podem ser formados por partes duras de organismos, como ossos ou conchas, e vestígios deixados por eles, como pegadas ou moldes. Outra possibilidade são os fósseis de organismos inteiros, como os encontrados em âmbar✚ solidificado.
O estudo dos fósseis nos ajuda a conhecer a história evolutiva do planeta Terra, pois fornece evidências de como eram os seres que viveram no passado, possibilitando identificar possíveis elos com as espécies atuais e revelar as prováveis condições ambientais da época. Porém, esse registro não é completo, pois muitos fósseis não chegaram a ser encontrados. Além disso, nem todos os organismos deixaram restos ou vestígios que possibilitassem seu estudo.

Muitos dos fósseis encontrados são semelhantes às espécies atuais, o que pode evidenciar um parentesco evolutivo.
Anatomia comparada
Ao analisarmos a anatomia dos animais, é possível perceber algumas semelhanças entre eles.
7. Observe as imagens a seguir. O que você pode concluir sobre a estrutura e a funcionalidade delas?
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
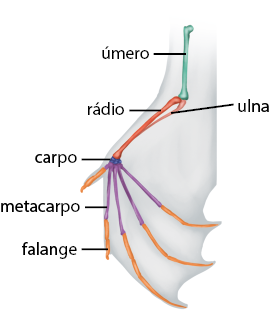
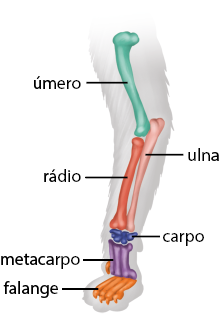
Professor, professora: Nas imagens dos membros de gato e morcego, enfatize aos estudantes que os ossos representados com as mesmas cores são homólogos.
Imagens elaboradas com base em: HOPSON, Janet L.; WESSELLS, Norman K. Essentials of biology. New York: McGraw-Hill, 1990. p. 9.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a analisar criticamente as imagens. Espera-se que eles reconheçam que essas estruturas apresentam os mesmos tipos de ossos (identificados pelas mesmas cores), com formatos distintos, e desempenham papéis diferentes, sendo um deles para voar, no caso do morcego, e outro para andar/correr, no caso do gato.
Quando comparamos anatomicamente os membros anteriores de mamíferos, como morcego e gato, percebemos que essas estruturas são bastante semelhantes. Nesse caso, diz-se que essas estruturas apresentam semelhança homóloga e os órgãos são homólogos, pois correspondem a estruturas de origem embrionária semelhante, proveniente de um ancestral comum.
Ao analisar essas representações, note que, apesar de externamente distintas, essas estruturas compartilham os mesmos ossos, indicando uma origem comum. Porém, essas estruturas apresentam funções distintas. No morcego, os membros anteriores são adaptados ao voo, e no gato, à caminhada e à corrida. As estruturas homólogas que assumem funções diferentes ao longo do tempo são exemplos de divergências evolutivas e representam evidências evolutivas.
- Âmbar:
- tipo de resina de árvore.↰
Página 297
Por outro lado, as asas de aves, insetos e morcegos, por exemplo, surgiram de maneira independente em grupos distintos de seres vivos. No entanto, são adaptações relacionadas a uma mesma função específica: o voo. Por isso, as asas nesses animas são consideradas uma semelhança análoga. Esse tipo de semelhança é um exemplo de convergência evolutiva, isto é, uma característica semelhante que evoluiu independentemente em duas espécies, mas que não estava presente no ancestral comum a elas. Dessa maneira, elas não evidenciam parentesco evolutivo.
Órgãos vestigiais
Alguns seres vivos apresentam órgãos vestigiais. Esses órgãos se assemelham a estruturas funcionais em determinados organismos, mas não realizam nenhuma função.
Se analisarmos o esqueleto de uma serpente, por exemplo, é possível identificar ossos similares aos da bacia de outros animais, os quais estão relacionados a membros. Embora as serpentes atuais utilizem a musculatura do corpo para se locomoverem por rastejamento, análises fossilíferas comprovam que os ancestrais desses répteis tinham membros desenvolvidos, semelhantes aos dos lagartos.
Em algumas serpentes atuais, como as do gênero Python, é possível identificar externamente as esporas pélvicas. Essas estruturas são uma capa córnea sobre o fêmur vestigial, indicação de que seus ancestrais tinham membros.
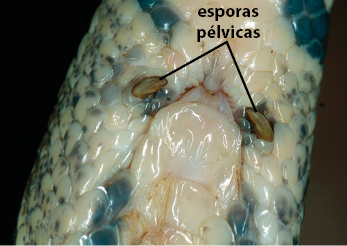
Imagens desta página sem proporção.
Embriologia comparada
A análise comparada de embriões de diferentes grupos de seres vivos possibilita identificar algumas semelhanças no desenvolvimento embrionário, sendo, portanto, uma evidência evolutiva. Confira as imagens a seguir.



Ao compararmos os embriões dos três mamíferos apresentados nas imagens, é possível identificar semelhanças e diferenças entre eles, o que direciona para a existência de um ancestral comum.
Semelhanças moleculares
Todos os seres vivos são formados por células, que apresentam, como material genético, o DNA. Os genes são trechos do DNA transcritos em RNA e podem dar origem a proteínas. Dessa maneira, o DNA, o RNA e as proteínas são moléculas que podem ser comparadas e utilizadas para estabelecer o quanto uma espécie é próxima da outra. Por exemplo, quanto maior a semelhança entre as sequências de DNA das espécies, mais próximas evolutivamente elas são.
Professor, professora: Para auxiliar na compreensão do conceito de semelhança molecular, cite o seguinte exemplo aos estudantes: considere uma comparação de sequências de material genético, usando genes diferentes entre as espécies A, B e C. Se compararmos o gene I, A e B têm sequências mais semelhantes do que quando comparados com C. Quando comparamos um outro gene II, vamos encontrar a mesma relação de A mais próximo de B, indicando origem comum.
Página 298
Genética de populações
Existe uma área da Biologia evolutiva que estuda a Genética de populações e busca analisar as frequências de genes e seus alelos em determinada população e sua distribuição no espaço. Esse estudo visa compreender, por exemplo, como algumas características estão distribuídas na população e quais fatores influenciam sua ocorrência, além de fazer previsões sobre a história das populações.
A Genética de populações pode ser usada em diversas situações, por exemplo, para descobrir por que uma doença como a anemia falciforme é mais prevalente na população africana do que nas demais. Essa Ciência também pode ajudar a entender as frequências alélicas de determinadas populações de animais ameaçados de extinção, o que poderia ser útil na elaboração de estratégias de conservação.
Para chegar a essas conclusões, esse estudo se baseia na frequência alélica e na frequência genotípica. A fim de facilitar a compreensão do conteúdo, considere como exemplo uma população com 8 indivíduos, com um gene que pode apresentar 2 alelos: A maiúsculo e a minúsculo; e 3 genótipos: A A, A maiúsculo a minúsculo e a minúsculo a minúsculo. Para entender como as características se distribuem na população, é necessário quantificar a variação genética existente. Acompanhe a seguir como isso é realizado.
Frequência genotípica
Para obter a frequência dos genótipos ou frequência genotípica na população do exemplo, devemos identificar a razão entre a quantidade de indivíduos de cada genótipo e o total da população.
- Frequência de A maiúsculo A maiúsculo é igual a 3 oitavos é igual a 0 vírgula 375
- Frequência de a minúsculo a minúsculo é igual a 2 oitavos é igual a 0 vírgula 25
- Frequência de A maiúsculo a minúsculo é igual a 3 oitavos é igual a 0 vírgula 375
Em seguida, é preciso simbolizar as frequências genotípicas de maneira algébrica. Para isso, foram convencionadas as letras P, Q e R para representar a proporção de cada genótipo.
| Genótipo | Frequência |
|---|---|
|
A A |
P |
|
A maiúsculo a minúsculo |
Q |
|
a minúsculo a minúsculo |
R |
Finalmente, deve-se converter as proporções em porcentagens e o total deve ser de 1 ou 100%.
| Representação algébrica | Proporção numérica | Porcentagem |
|---|---|---|
|
P |
0,375 |
37,5% |
|
Q |
0,375 |
37,5% |
|
R |
0,25 |
25% |
|
Total |
1 |
100% |
Professor, professora: O valor total igual a 1 na proporção numérica se deve ao fato de as frequências corresponderem a proporções em uma unidade, de modo semelhante a que as porcentagens são proporções em 100.
Frequência alélica
Para obter a frequência alélica, é feita a contagem das frequências de cada alelo do gene na população estudada. No exemplo, como cada genótipo tem 2 alelos, há um total de 16 alelos no lócus estudado na população de 8 indivíduos. Obtém-se, portanto, a razão entre as quantidades.
- Frequência de A maiúsculo é igual a 9 16 avos é igual a 0 vírgula 5625
- Frequência de a minúsculo é igual a 7 16 avos é igual a 0 vírgula 4375
Em seguida, devem-se converter os valores da frequência alélica em representações algébricas, em que p será a frequência de A maiúsculo e q, a frequência de a minúsculo.
- p é igual a 0 vírgula 5625
- q é igual a 0 vírgula 4375
Como p é a frequência do alelo A maiúsculo e q é a frequência do alelo a minúsculo, tem-se que:
p mais q é igual a 1
É possível calcular as frequências alélicas com base nas frequências genotípicas obtidas anteriormente.
- p é igual a P mais 1 meio Q é igual a 0 vírgula 375 mais 1 meio vezes 0 vírgula 375 portanto p é igual a 0 vírgula 5625
- q é igual a R mais 1 meio é igual a 0 vírgula 25 mais 1 meio vezes 0 vírgula 375 portanto q é igual a 0 vírgula 4375
Página 299
Equilíbrio de Hardy-Weinberg
Com base na frequência alélica de uma geração, é possível estimar a frequência genotípica da geração seguinte. Essa estimativa pode ser obtida se a população estiver em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para auxiliar na compreensão desse tema, acompanhe o exemplo a seguir.
Considere uma população com reprodução sexuada, em que os alelos se segregam durante a meiose. Um cruzamento entre indivíduos com característica intermediária (heterozigoto) resulta em uma população formada por indivíduos intermediários e organismos com características extremas, que são os homozigotos. Se na população a reprodução é aleatória em relação ao lócus A maiúsculo, considere que a frequência desse alelo é 0,6 tanto nos gametas masculinos como nos femininos. A probabilidade de um espermatozoide ou de um ovócito aleatório ter o lócus A maiúsculo é de:
0 vírgula 6 vezes 0 vírgula 6 é igual a 0 vírgula 36 é igual a 36 por cento
Assim, a frequência alélica da prole seria de 36% de A maiúsculo barra A maiúsculo. Logo, a prole a minúsculo barra a minúsculo será de:
0 vírgula 4 vezes 0 vírgula 4 é igual a 0 vírgula 16 é igual a 16 por cento
A probabilidade de um gameta masculino A maiúsculo e um gameta feminino a minúsculo se combinarem, formando um heterozigoto A maiúsculo a minúsculo é de:
0 vírgula 6 vezes 0 vírgula 4 é igual a 0 vírgula 24
0 vírgula 4 vezes 0 vírgula 6 é igual a 0 vírgula 24
0 vírgula 24 mais 0 vírgula 24 é igual a 0 vírgula 48 ou 48%
A probabilidade de um gameta masculino a minúsculo e um feminino A maiúsculo se combinarem é a mesma. Por isso, a variação é mantida em uma população e as proporções de homozigoto e heterozigotos em uma população se mantêm em gerações sucessivas. Isso forma uma distribuição de equilíbrio, que pode ser calculada por:
| Genótipo | Frequência |
|---|---|
|
A A |
p elevado ao quadrado |
|
A maiúsculo a minúsculo |
2 p q |
|
A maiúsculo a minúsculo |
q elevado ao quadrado |
Logo, p elevado ao quadrado mais 2 p q mais q elevado ao quadrado é igual a 1 é a fórmula do equilíbrio de Hardy-Weinberg.
Agora, você pode estar se perguntando: Por que o "2" em 2 p q? A resposta está na probabilidade. Considere a probabilidade de, em dois lançamentos de uma moeda, ocorrerem duas caras, que é de abre parênteses 1 meio fecha parênteses elevado ao quadrado e o mesmo de obter duas coroas. A chance de sair uma cara e uma coroa é de 2 vezes abre parênteses 1 meio fecha parênteses elevado ao quadrado, pois pode sair uma cara e depois uma coroa, ou pode sair uma coroa e depois uma cara.
Se fizermos uma analogia, o alelo A maiúsculo é cara e o alelo a minúsculo é coroa. Duas caras são A A; duas coroas, a minúsculo a minúsculo; uma cara e uma coroa, A maiúsculo a minúsculo; uma coroa e uma cara a minúsculo A maiúsculo. A probabilidade de obter duas caras é 1 meio; assim, p é igual a 1 meio. Já a chance de ocorrer uma cara e uma coroa é de 2 p q, ou 2 vezes abre parênteses 1 meio fecha parênteses elevado ao quadrado. Como há duas maneiras de obter uma cara e uma coroa, multiplica-se por "2". E, da mesma maneira, há duas possibilidades de surgir A maiúsculo a minúsculo, pois o gene A maiúsculo pode vir do pai e o a minúsculo da mãe, ou o gene a minúsculo pode vir do pai e o A maiúsculo da mãe, resultando em um descendente A maiúsculo a minúsculo em ambos os casos.
O teorema de Hardy-Weinberg foi formulado no início do século XX e mostrou como os padrões estudados na herança mendeliana podem manter as variações genéticas. Esse teorema depende de alguns princípios básicos. Leia-os a seguir.
- A população analisada deve ser grande.
- Os cruzamentos devem ser aleatórios.
- A seleção natural não pode atuar na população.
- Não devem ocorrer migrações.
Página 300
Analisando os princípios básicos do teorema de Hardy-Weinberg, é evidente que é difícil aplicar esse teorema a populações naturais, pois isso depende da ausência de seleção natural e de cruzamentos aleatórios, eventos raramente observados naturalmente.
Geneticistas populacionais, entretanto, utilizam esse teorema para comparar proporções genotípicas em determinadas populações e, caso encontrem desvios dos valores esperados, analisam o que pode estar interferindo na amostra para que isso ocorra. Assim, o resultado pode ser um indicativo de que é necessário estudar a população em questão.
Conforme já estudado, a análise da proporção genotípica de uma população segue diversas etapas, as quais são simplificadas quando se aplica o teorema de Hardy-Weinberg. Para que as proporções genotípicas da geração seguinte possam ser encontradas, é preciso conhecer as frequências genotípicas dos adultos da população analisada e aplicar o teorema. Isso é possível porque, de maneira geral, as frequências gênicas não mudam entre os adultos de uma geração e os recém-nascidos da geração seguinte.
ATIVIDADES RESOLVIDAS
R1. Na espécie humana, além do sistema ABO, existem diversos tipos sanguíneos, como o sistema M N, considerado um exemplo de codominância. Confira a seguir.
| Fenótipo | Genótipo |
|---|---|
|
M |
M M |
|
M N |
M N |
|
N |
N N |
Considere uma amostra de 6.129 pessoas. Em americanos descendentes de europeus, a frequência do gene M é 0,54.
a ) Se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, calcule a frequência de homozigotos e heterozigotos nessa população.
Resolução
Se p é igual a 0 vírgula 54, então a frequência de q é:
p mais q é igual a 1 implica em 0 vírgula 54 mais q é igual a 1 portanto q é igual a 0 vírgula 46
Calculando a frequência de M M, M N e N N nessa população, temos que:
- a frequência de homozigotos M M é: p elevado ao quadrado é igual a abre parênteses 0 vírgula 54 fecha parênteses elevado ao quadrado é igual a 0 vírgula 2916
- a frequência de heterozigotos M N é: 2 p q abre parênteses M N fecha parênteses é igual a 2 vezes 0 vírgula 54 vezes 0 vírgula 46 é igual a 0 vírgula 4968
- a frequência de homozigotos N N é: q elevado ao quadrado é igual a abre parênteses 0 vírgula 46 fecha parênteses elevado ao quadrado é igual a 0 vírgula 2116
b ) Quantas pessoas são M M, M N e N N nessa população?
Resolução
- Se a frequência genotípica de M M é 0,2916, a porcentagem de pessoas com esse genótipo é
29,16%. Logo:
6.129 sobre x é igual a início de fração, numerador: 100 por cento, denominador: 29 vírgula 16 por cento, fim de fração portanto x é igual a 1.787
Assim, há 1.787 pessoas com genótipo M M e fenótipo M. - Se a frequência genotípica de M N é 0,4968, a porcentagem de pessoas com esse genótipo é
49,68%. Logo:
6.129 sobre x é igual a início de fração, numerador: 100 por cento, denominador: 49 vírgula 68 por cento, fim de fração portanto x é igual a 304
Assim, há 3.045 pessoas com genótipo M N e fenótipo M N. - Se a frequência genotípica de N N é 0,2116, a porcentagem de pessoas com esse genótipo é
21,16%. Logo:
6.129 sobre x é igual a início de fração, numerador: 100 por cento, denominador: 21 vírgula 16 por cento, fim de fração portanto x é igual a 1.297
Nessa população, 1.297 pessoas apresentam genótipo N N e fenótipo N.
Página 301
ATIVIDADES
1. Quais são as evidências evolutivas utilizadas pela Ciência para comprovar que as espécies evoluem? Escolha uma delas e explique sua importância para essa área de estudos.
2. O que são órgãos homólogos? Qual é a relação dessas estruturas com o conceito de divergências evolutivas?
3. Quais são os pré-requisitos para uma população estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg?
Resposta: Para estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, uma população deve ser grande, ter cruzamentos aleatórios, não estar sob a ação da seleção natural e não devem ocorrer migrações.
4. Considere que, em uma população com 400 indivíduos, a frequência do gene alelo A é igual a 0,9.
a ) Qual é a frequência do genótipo heterozigoto nessa população?
b ) Quantos indivíduos têm o genótipo heterozigoto, considerando que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg?
5. A doença falciforme se caracteriza pela formação de hemácias com forma de foice. Ela é determinada por um par de alelos homozigoto recessivo, de cromossomos não sexuais. Sobre essa doença, leia o trecho a seguir e responda às questões propostas.
[...]
A Doença Falciforme (DF) é uma doença genética e hereditária caracterizada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina (HbA), fazendo surgir uma hemoglobina mutante denominada S (HbS), que é de herança recessiva.
[...]
BRASIL. Ministério da Saúde. Doença falciforme. Gov.br. Disponível em: https://s.livro.pro/zxrvfg. Acesso em: 19 set. 2024.
a ) Como ocorrem as mutações?
b ) Qual é a contribuição das mutações para a evolução dos seres vivos?
c ) Considere uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg com 12.000 indivíduos.
A frequência do alelo recessivo para a anemia falciforme é 30%. Copie o quadro a seguir no caderno e substitua os símbolos e as letras X e Y pelos valores corretos.
| Frequência alélica (%) | Frequência genotípica | Quantidade de indivíduos |
|---|---|---|
|
f abre parênteses A maiúsculo fecha parênteses: |
f abre parênteses A maiúsculo A maiúsculo fecha parênteses: 0,49 |
X |
|
f abre parênteses a minúsculo fecha parênteses: 30% |
f abre parênteses A maiúsculo a minúsculo fecha parênteses: |
Y |
|
f abre parênteses a minúsculo a minúsculo fecha parênteses: |
1.080 |
6. Em determinada espécie de planta, a cor branca ocorre por causa do alelo recessivo b minúsculo, e a cor vermelha, pelo alelo B maiúsculo. Suponha que, da fertilização cruzada dessa planta, originam-se 800 indivíduos. Destes, 160 com flores brancas e o restante com flores vermelhas, sendo metade homozigota e metade heterozigota. Qual é a frequência esperada dos alelos B e b, se considerarmos que essa população se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg?
7. A polidactilia é uma característica autossômica dominante, responsável pelo desenvolvimento de dedos a mais nas mãos e nos pés dos indivíduos portadores do gene autossômico dominante A maiúsculo. Supondo que a frequência do alelo A, em uma população com 6.000 indivíduos em equilíbrio de Hardy-Weinberg, é de 0,6, responda às questões a seguir.

a ) Qual é a frequência esperada do alelo recessivo a minúsculo?
b ) Qual é a quantidade de indivíduos com polidactilia e sem polidactilia nessa população?
Respostas das questões 1, 2, 4, 5, 6 e 7 nas Orientações para o professor.
8. Analise as afirmativas a seguir e identifique a alternativa correta.
a ) Órgãos homólogos evoluem de modo independente em grupos distintos de seres vivos, sem uma origem em um ancestral comum.
b ) As asas de uma borboleta, de um gavião e de um morcego são adaptadas ao voo e evoluíram de modo independente em cada uma dessas espécies. Por isso, podem ser consideradas um exemplo de divergência evolutiva.
c ) O estudo de caracteres homólogos entre as espécies pode auxiliar no estabelecimento das relações filogenéticas e composição da filogenia das espécies.
d ) As nadadeiras de um tubarão e as de uma baleia apresentam semelhança homóloga.
Resposta: Alternativa c.
Página 302
CAPÍTULO17
O surgimento do Homo sapiens
História geológica da Terra
Imagine que você é um cientista e precisa responder à seguinte questão: "Se distribuirmos o tempo geológico (4,6 bilhões de anos) em um calendário atual, em que dia e mês do ano teria surgido a espécie humana moderna (Homo sapiens)?"
1. Qual é sua resposta à questão proposta?
Resposta: Espera-se que os estudantes citem que a espécie humana teria surgido no dia 31 de dezembro.
2. O que você pode concluir ao comparar o tempo geológico e o período provável em que o ser humano surgiu?
Resposta: Espera-se que os estudantes concluam que o surgimento do ser humano é um evento relativamente recente quando comparado ao tempo geológico.
Estudamos anteriormente algumas evidências do processo de evolução dos seres vivos. Compreendemos, por exemplo, que a análise de fósseis e de características das rochas nas quais eles são encontrados pode indicar o período geológico e as condições em que esses seres viviam na Terra, além de compreender como eram no passado e sua influência nas formas de vida existentes atualmente.
Ao responder à questão proposta inicialmente, é possível concluir que o surgimento do ser humano moderno (H. sapiens) na Terra é um evento relativamente recente na história do planeta. É esse assunto que vamos estudar nas próximas páginas.
Estudando a filogenia do ser humano
3. Em sua opinião, qual dos animais é mais próximo evolutivamente do ser humano: o cachorro ou o chimpanzé? Justifique sua resposta.
Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que o ser humano e o chimpanzé são mais próximos evolutivamente. Eles podem argumentar que morfologicamente esses dois animais apresentam mais semelhanças do que as observadas quando comparamos o ser humano e o cachorro.
De acordo com a classificação biológica, tanto o cachorro como o ser humano e o chimpanzé são mamíferos. No entanto, o primeiro faz parte da ordem dos carnívoros, enquanto os dois últimos compõem a ordem dos primatas, compartilhando, assim, mais características em comum, tendo em vista que o ancestral comum entre eles é mais recente do que o ancestral do ser humano e do cachorro.
Para compreender a história evolutiva do ser humano e sua relação com outros seres vivos, como os outros primatas, é preciso entender também sua posição evolutiva em relação às demais espécies existentes atualmente, bem como conhecer as mudanças pelas quais espécies ancestrais passaram até o surgimento do H. sapiens, com as características atuais. Essa compreensão é possível por meio da análise das relações evolutivas do H. sapiens com as demais espécies.
A maioria dos primatas apresenta as seguintes características: sentido da visão bem desenvolvido e, geralmente, olhos voltados para a frente; hábitos arbóreos; mãos e pés preênseis, ou seja, capazes de segurar; cinco dígitos e polegar opositor; garras modificadas em unhas; ossos dos membros (rádio e ulna e tíbia e fíbula) separados e que se movimentam por meio de articulações; osso da clavícula; ninhada pequena de, geralmente, um filhote.
Sabe-se que os ancestrais humanos eram arborícolas e tinham as características citadas anteriormente, muitas das quais foram precursoras das particularidades apresentadas pelos seres humanos.
Bugio-preto (A. caraya): pode atingir aproximadamente 50 centímetros de comprimento.

Professor, professora: Ao abordar a imagem do bugio-preto, incentive os estudantes a identificar no animal algumas das características inerentes à maioria dos primatas: hábito arbóreo, olhos voltados para a frente, mãos e pés preênseis, cinco dígitos com polegar opositor e unhas e membros articulados.
Página 303
Analise as imagens a seguir.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
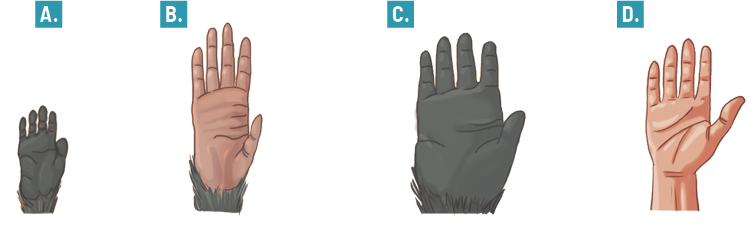
Imagens elaboradas com base em: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Evolução humana e aspectos socioculturais. Disponível em: https://s.livro.pro/7ke9sr. Acesso em: 17 set. 2024.
4. Qual é a importância da oposição do polegar das mãos?
Resposta: O polegar da mão em oposição possibilita uma pegada de precisão, facilitando a manipulação de objetos. O polegar e os outros dedos são utilizados como se fossem pinças.
A característica de polegar opositor das mãos é comum a diversos primatas, inclusive aos seres humanos. No entanto, os polegares opositores dos pés não ocorrem em todos os primatas. Aliás, essa ausência é uma característica que distingue os seres humanos dos demais primatas.
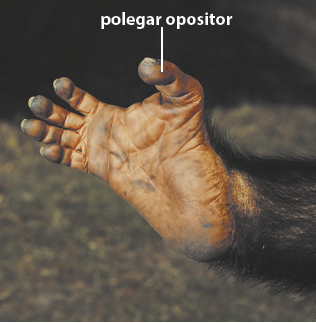

A perda do polegar opositor do pé ao longo da evolução está diretamente relacionada ao modo de locomoção desenvolvido pelos seres humanos, que estudaremos ainda neste capítulo.
Como você pôde perceber até o momento, o ser humano é evolutivamente mais próximo de alguns seres vivos do que de outros. Ao longo do tempo, foram propostas diversas classificações taxonômicas, visando identificar as possíveis relações entre os diferentes grupos de primatas. Atualmente, considera-se mais adequada a classificação que se baseia em informações genéticas.
Com base nessa classificação taxonômica, a ordem dos primatas pode ser dividida em subordens, como a dos prossímios e a dos antropoides. Os prossímios são primatas menores, com focinho longo e cérebro pequeno quando comparado ao dos antropoides. Têm uma dieta generalista e são encontrados na África, na Ásia e na ilha de Madagascar. Confira os exemplos a seguir.
Lêmure-de-cauda-anelada (L. catta): pode atingir aproximadamente 46 centímetros de comprimento.

Lóris-pigmeu (N. pygmaeus): pode atingir aproximadamente 25 centímetros de comprimento.

Társio (T. bancanus): pode atingir aproximadamente 13 centímetros de comprimento.

Professor, professora: Ao citar a classificação taxonômica dos primatas, comente com os estudantes que subordem é uma categoria taxonômica intermediária, entre ordem e família. Comente também que a dieta generalista é aquela que inclui diversidade de itens alimentares, em oposição à dieta especialista, que é mais restritiva.
Página 304
Os antropoides, por sua vez, têm cérebro relativamente grande, quando comparados aos prossímios, e face pequena. Eles são divididos em antropoides (ou macacos) do Novo Mundo (infraordem Platyrrhini) e antropoides (ou macacos) do Velho Mundo (infraordem Catarrhini), nos quais estão inclusos os hominíneos, como o ser humano.
Todos os Platyrrhini são arborícolas, encontrados nas Américas, e a maioria tem cauda longa e preênsil, utilizada para se prenderem aos galhos. Confira os exemplos a seguir.
Mico-leão-dourado (L. rosalia): pode atingir aproximadamente 37 centímetros de comprimento.

Macaco-da-noite (A. trivirgatus): pode atingir aproximadamente 47 centímetros de comprimento.

Bugio (A. seniculus): pode atingir aproximadamente 72 centímetros de comprimento.

Quanto aos Catarrhini, nem todos são arborícolas, havendo também, entre eles, espécies terrestres. Os primatas dessa infraordem apresentam as narinas próximas, voltadas para a frente e para baixo, e a maioria é de grande porte, podendo ser encontrados na África e na Ásia. Confira os exemplos a seguir.
Babuíno-anúbis (P. anubis): pode atingir aproximadamente 76 centímetros de comprimento.

Gibão (H. lar): pode atingir aproximadamente 58 centímetros de comprimento.

Bonobo (P. paniscus): pode atingir aproximadamente 1 vírgula 2 metro de comprimento.

Por meio de análises filogenéticas, é possível, por exemplo, identificar as espécies com as quais o ser humano tem parentesco evolutivo mais recente. Os dados morfológicos e moleculares também podem ser usados para construir representações gráficas chamadas de árvores filogenéticas.
Ao analisar a árvore filogenética dos primatas, apresentada a seguir, é possível perceber que os seres humanos compartilham um ancestral mais recente com chimpanzés do que com gorilas, orangotangos e gibões. Assim, há evidências de que esse ancestral comum deu origem a dois grupos distintos − o dos seres humanos e o dos bonobos e chimpanzés.
Página 305
Analise a seguir a árvore filogenética dos primatas.
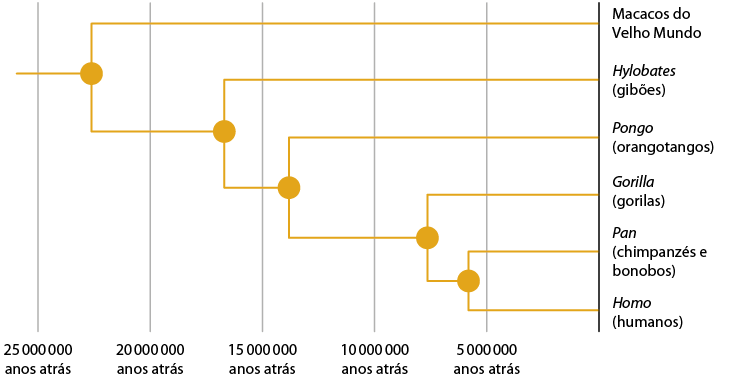
Imagem elaborada com base em: AYALA, Francisco J.; CELA-CONDE, Camilo J. Processes in human evolution: the journey from early hominins to Neanderthals and modern humans. New York: Oxford University Press, 2017. p. 82.
O ser humano faz parte da família Hominidae, que também inclui grandes símios. Essa família pode ser subdividida em subfamílias: Ponginae, que inclui os orangotangos; Gorillinae, que inclui os gorilas; e Homininae, que inclui seres humanos e chimpanzés. Confira a seguir.
| Família | Subfamília | Tribo | Subtribo | Espécies viventes |
|---|---|---|---|---|
|
Hominidae |
Ponginae |
Pongini |
Pongina |
Orangotangos |
|
Gorillinae |
Gorillini |
Gorillina |
Gorilas |
|
|
Homininae |
Panini |
Panina |
Chimpanzés e bonobos |
|
|
Hominini (hominíneos) |
Ardipithecina (ardipitecos) Australopithecina (australopitecos) Paranthropitecina (parantrópos) Hominina (homo) |
Seres humanos |
Fonte de pesquisa: AYALA, Francisco J.; CELA-CONDE, Camilo J. Processes in human evolution: the journey from early hominins to Neanderthals and modern humans. New York: Oxford University Press, 2017. p. 53.
Há evidências de que chimpanzés e bonobos são mais próximos dos seres humanos do que dos outros antropoides do Velho Mundo viventes na atualidade. Por isso, um ancestral teria originado os seres humanos, os chimpanzés e os gorilas. Ainda não se sabe exatamente qual seria esse ancestral. Porém, análises indicam que os driopitecíneos, um grupo de primatas extintos do gênero Dryopithecus e que viveu antes de seres humanos, chimpanzés e gorilas, poderiam incluir o ancestral comum a esses hominídeos em razão de suas características.
Estima-se que a semelhança genética entre seres humanos e chimpanzés seja de, aproximadamente, 99%. Assim, chimpanzés compartilham características e uma história evolutiva mais próxima ao ser humano do que se supunha no passado.
De acordo com as evidências evolutivas, podemos afirmar, então, que seres humanos e chimpanzés compartilharam um ancestral comum, que se diversificou ao longo do tempo, dando origem às duas linhagens. Dessa maneira, o correto é dizer que seres humanos e chimpanzés compartilham um ancestral comum exclusivo, e não que o ser humano evoluiu dos chimpanzés, considerados mais próximos evolutivamente da espécie humana.
A etóloga inglesa Valerie Jane Morris-Goodall (1934 -) é considerada a cientista que mudou a maneira de o ser humano ver outros primatas, como os chimpanzés, e de se enxergar em relação a eles. Entre seus diversos estudos, ela comprovou que os chimpanzés são capazes de fabricar e utilizar ferramentas, comportamento até então considerado exclusivamente humano.

Página 306
O andar bípede é uma das principais características humanas. Ao andar sobre as pernas, as mãos ficaram livres e se tornaram úteis para coletar e carregar alimentos, cuidar da prole, além de demandar menor gasto energético. A postura bípede permitia, ainda, uma melhor visualização de possíveis predadores, o que poderia ser útil na defesa individual e do grupo.
Há evidências de que a postura ereta foi essencial no ambiente cada vez mais árido, tendo em vista que nessa postura a área de exposição à radiação solar é menor quando comparada com um ser vivo quadrúpede, que também está mais próximo ao solo. Como resultado, o andar bípede auxiliou a reduzir a perda de água para o ambiente. Evidências também indicam que o andar bípede possibilitou percorrer grandes distâncias.
O esqueleto humano apresenta diversas características relacionadas ao andar bípede. Confira a seguir.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
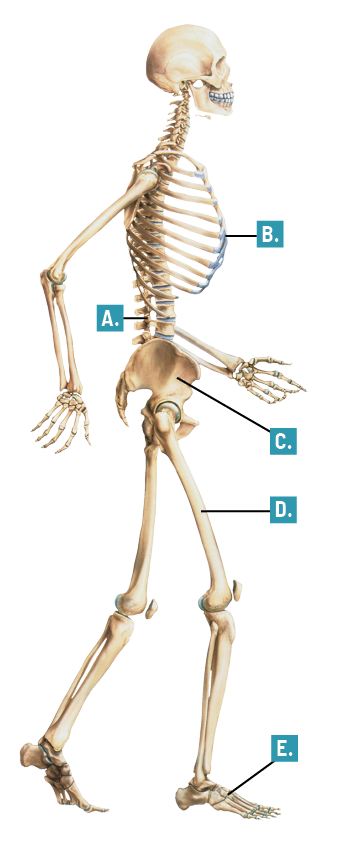
A. A coluna humana tem uma curvatura em S, posicionando o centro de gravidade do corpo próximo à linha média. Essa estrutura facilita o equilíbrio durante o andar bípede e possibilita que a coluna vertebral se flexione durante a caminhada.
B. A organização da caixa torácica humana possibilita flexionar o tronco e manter os braços livres, o que o ajuda no equilíbrio corporal ao caminhar.
C. A pelve✚ dos seres humanos é mais larga e curta do que a dos demais primatas, suportando melhor a parte superior do corpo e favorecendo o equilíbrio durante o andar bípede.
D. O fêmur dos seres humanos é mais longo e transfere o peso exercido pelo corpo para joelhos e pés.
E. Os pés dos seres humanos têm dedos alinhados, com solado exibindo um pronunciado arco. Essas adaptações possibilitam que os dedos dos pés impulsionem o caminhar e o calcanhar amorteça os impactos desse tipo de locomoção.
Em geral, os pés dos primatas são adaptados para o andar quadrúpede, bem como para agarrar; eles têm grandes diferenças entre os dedos dos pés e solas planas.
Imagem elaborada com base em: PARKER, Steve. O livro do corpo humano. Barueri: Ciranda Cultural, 2007. p. 36.
Em primatas quadrúpedes, o forame magno✚ está deslocado para a porção traseira do crânio. Em bípedes, como o ser humano, o forame magno está posicionado mais ao centro da parte inferior do crânio, favorecendo um posicionamento vertical da cabeça.
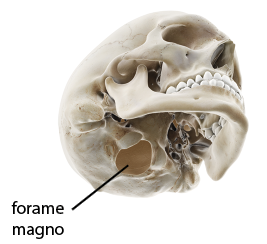
Imagem elaborada com base em: PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. v. 3. p. 14.
Página 307
História evolutiva do ser humano
Leia o trecho de reportagem a seguir.
Hominídeo que coexistiu com Neandertal é descoberto
Espécie, até então desconhecida, foi encontrada em Israel: exemplar é do mesmo gênero do Homo sapiens, os humanos modernos.
Um grupo de paleontólogos israelenses anunciou ontem [24 de junho de 2021] a descoberta de uma espécie de hominídeo ainda desconhecida, com 126 mil anos, época em que os humanos modernos ainda coexistiam com os Neandertais na região. […]
O fóssil […] se junta a um punhado de outras descobertas recentes que mostram a diversidade de criaturas humanas que coexistiram e interagiram nos últimos 500 mil anos, particularmente no Oriente Médio. […]
Aparência e data do fóssil sugerem que a trama de interações entre espécies humanas foi ainda mais complexa no último meio milhão de anos. […]
GARCIA, Rafael. Hominídeo que coexistiu com Neandertal é descoberto. O Globo, Rio de Janeiro, ano XCVI, n. 32099, 25 jun. 2021. p. 13.
5. Com base no texto, o que você pode concluir sobre o estudo da história evolutiva do ser humano?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir criticamente sobre o texto. Espera-se que eles reconheçam que a história evolutiva humana não é totalmente compreendida e tem várias lacunas. A cada nova descoberta, essa história pode ser complementada, revista e/ou alterada. Além disso, podem citar a dificuldade de obter registros fósseis completos. Na maioria dos casos, são fragmentos de esqueleto.
Apesar das diversas evidências sobre a evolução humana, ela ainda tem muitas lacunas e não é totalmente compreendida. Isso é resultado de diferentes fatores que dificultam o estudo dessa história, entre eles a falta de registro fóssil completo. A cada nova descoberta fóssil, novas espécies podem ser inseridas na história evolutiva do ser humano, confirmando, complementando ou alterando algo em relação ao que se sabe até então.
A seguir, vamos conhecer com mais detalhes o que se sabe até o momento sobre a história evolutiva do ser humano moderno – o Homo sapiens.
Os hominíneos, provavelmente, separaram-se dos chimpanzés entre 8 e 5 milhões de anos atrás. Há poucos registros fósseis de hominíneos e os que foram encontrados são relativamente recentes. O fóssil que alguns pesquisadores consideram o hominíneo mais antigo já encontrado é o de Sahelanthropus tchadensis, encontrado em Chade, na África. Estima-se que ele tenha vivido entre 6 e 7 milhões de anos atrás e apresentava características tanto de primatas não humanos como de seres humanos.
Entre as características não humanas apresentadas por S. tchadensis, podemos citar crânio alongado com cérebro reduzido (inferior ao do chimpanzé, por exemplo), rosto inclinado e sobrancelhas proeminentes. Quanto às características semelhantes às humanas, temos os dentes caninos reduzidos e a abertura do crânio para inserção da medula espinal, favorável ao andar bípede.

Outro fóssil importante na história evolutiva humana é o de Orrorin tugenensis, descoberto no Quênia, na África. O fêmur desse animal indica que ele também poderia ser bípede, e estima-se que tenha vivido há aproximadamente 6 milhões de anos.
Dica
Em abordagens de evolução humana, é comum o uso dos termos hominídeos e hominíneos. Hominídeos faz referência aos membros da família Hominidae, que inclui orangotangos, gorilas, chimpanzés, bonobos e seres humanos. Já hominíneos faz referência aos membros da tribo Hominini, que inclui os seres humanos e seus ancestrais mais próximos, que estudaremos ainda neste capítulo.
Página 308
Professor, professora: Ao abordar as imagens dos representantes dos hominíneos, explique aos estudantes que a provável face é uma reconstituição elaborada com o auxílio de diferentes tecnologias, tendo como base os fósseis encontrados de algumas espécies.
Análises fossilíferas de várias espécies de hominíneos, como S. tchadensis e O. tugenensis, sugerem que as primeiras espécies desses primatas tinham estatura modesta e os cérebros não eram maiores que os dos macacos modernos. Além disso, os primeiros grupos de hominíneos apresentavam características que permitiam a eles tanto o andar ereto como o escalar.
Ao longo do tempo, novas características foram surgindo entre as espécies. Algumas delas desenvolveram maxilares e dentes robustos ideais para mastigar alimentos duros ou fibrosos, como partes de plantas. Outras apresentaram um aumento no volume do cérebro, quando comparado ao restante do corpo, e redução no tamanho das mandíbulas e dos dentes. Nesse processo evolutivo, observa-se também o bipedalismo tornando-se o modo de locomoção dominante entre as espécies.
Acompanhe a seguir as principais espécies de hominíneos que fazem parte da história evolutiva do ser humano moderno. Note que diversas espécies coexistiram em um mesmo período e evidências indicam que muitas delas compartilharam inclusive a mesma área de ocupação.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
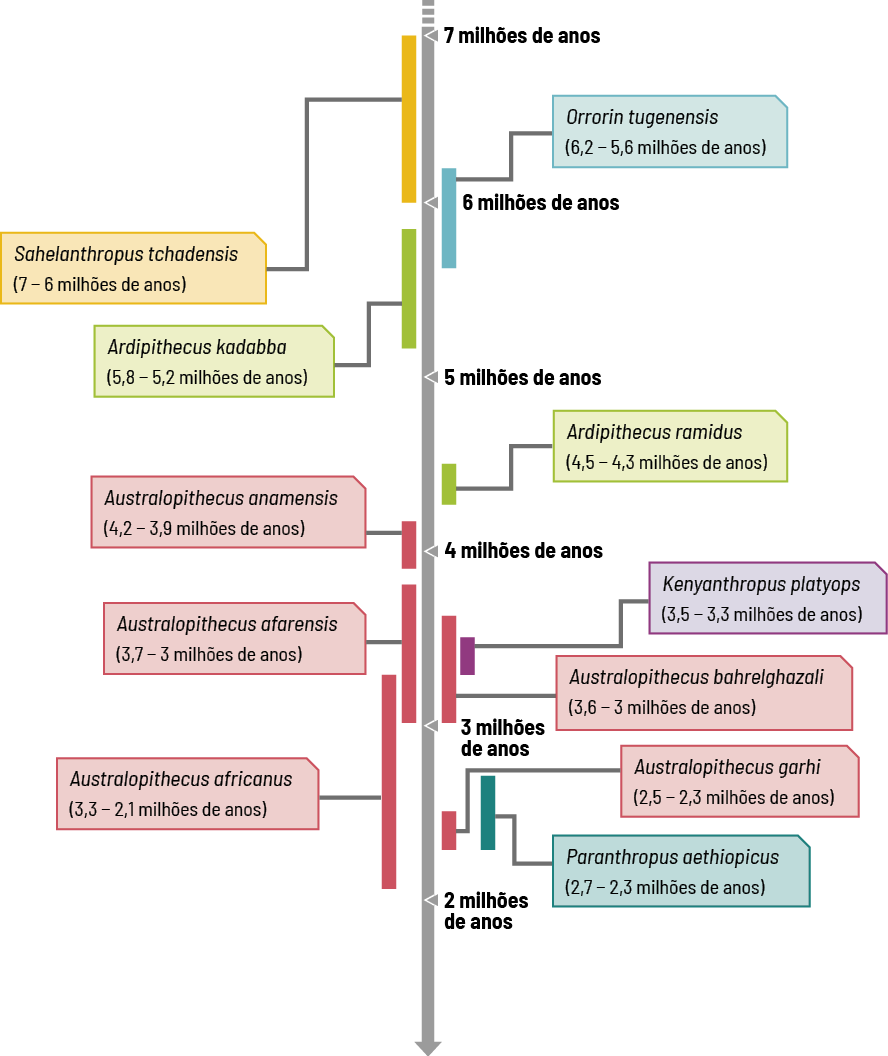
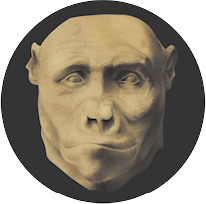
Sahelanthropus tchadensis
(7 − 6 milhões de anos)
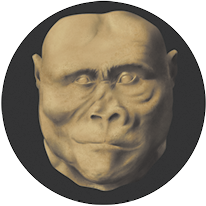
Australopithecus afarensis
(3,7 − 3 milhões de anos)
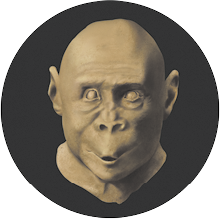
Australopithecus africanus
(3,3 − 2,1 milhões de anos)
Representação de algumas espécies de hominíneos e o provável tempo em que viveram, considerando o período de 7 milhões de anos a 2 milhões de anos atrás.
Imagens elaboradas com base em: ROBERTS, Alice. Evolution: the human story. New York: Dorling Kindersley, 2011. p. 60-61.
Página 309
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
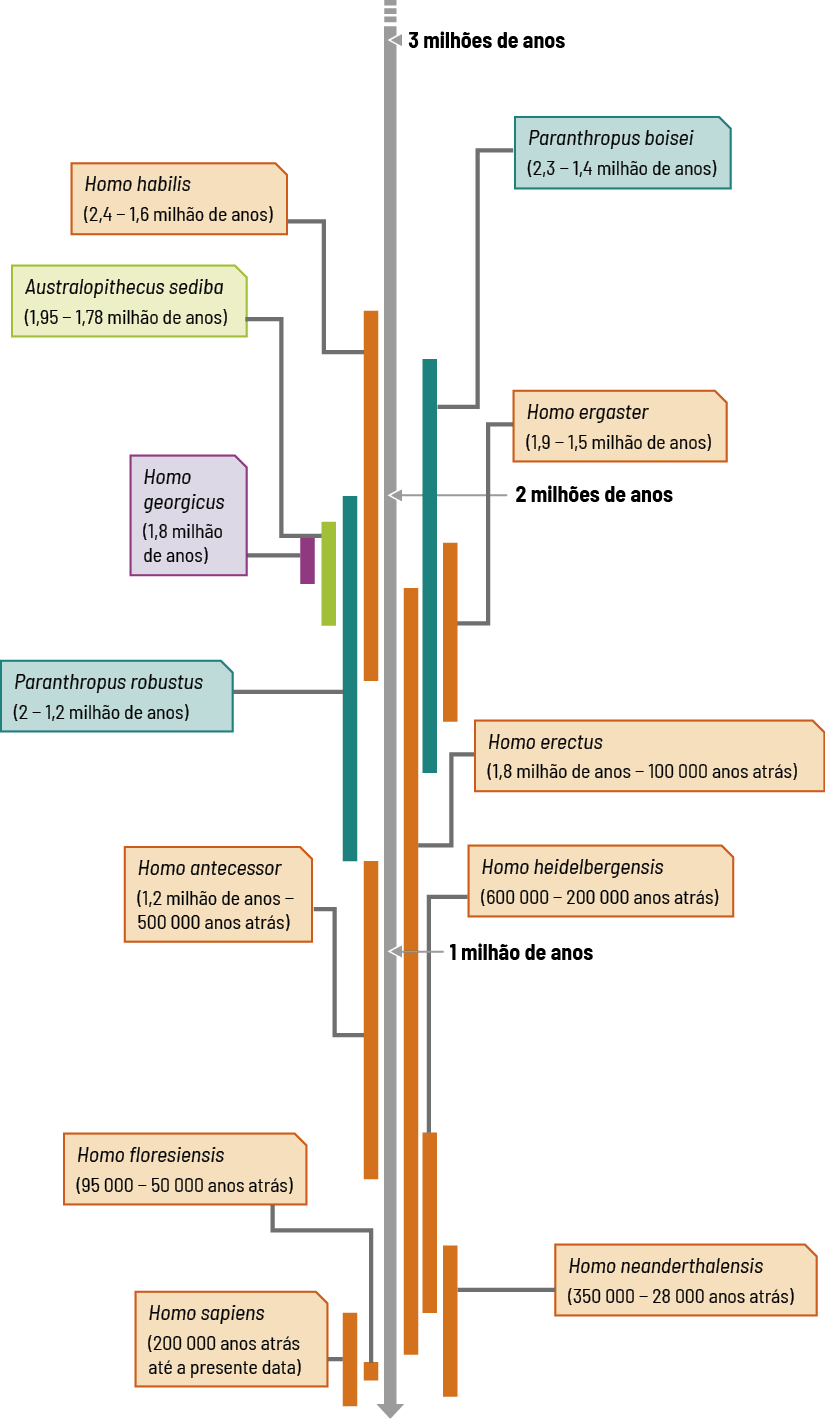
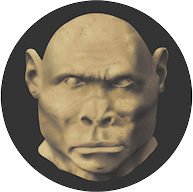
Homo habilis
(2,4 − 1,6 milhão de anos)
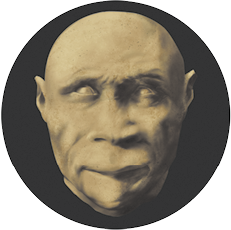
Homo ergaster
(1,9 − 1,5 milhão de anos)
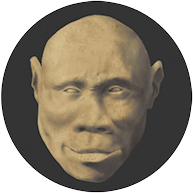
Homo georgicus
(1,8 milhão de anos)
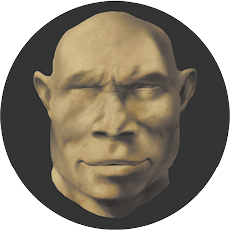
Homo erectus
(1,8 milhão de anos − 100.000 anos atrás)
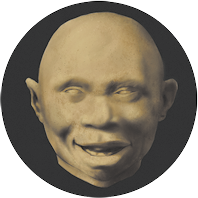
Homo antecessor
(1,2 milhão de anos − 500.000 anos atrás)
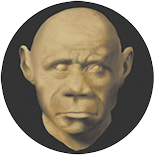
Homo floresiensis
(95.000 − 50.000 anos atrás)
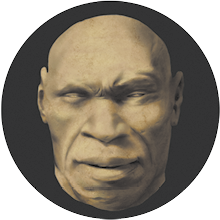
Homo heidelbergensis
(600.000 − 200.000 anos atrás)
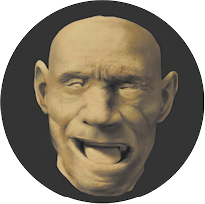
Homo neanderthalensis
(350.000 − 28.000 anos atrás)
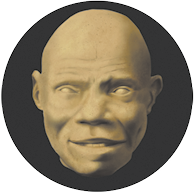
Homo sapiens
(200.000 anos atrás até a presente data)
Representação de algumas espécies de hominíneos e o provável tempo em que viveram, considerando o período a partir de 3 milhões de anos atrás.
Imagens elaboradas com base em: ROBERTS, Alice. Evolution: the human story. New York: Dorling Kindersley, 2011. p. 60-61.
Página 310
A seguir, vamos conhecer mais informações sobre alguns gêneros de hominíneos que fazem parte da história evolutiva dos seres humanos modernos.
Gênero Australopithecus
Fósseis de Australopithecus anamensis foram descobertos no norte do Quênia. Datados de 4,2 a 3,9 milhões de anos atrás, esses fósseis tinham postura bípede e há evidências de que sejam ancestrais de A. afarensis, um hominídeo que viveu entre 3,7 e 3 milhões de anos atrás. Vários fósseis de A. anamensis foram encontrados na Etiópia, na Tanzânia e no Quênia, e suas análises indicam que tais hominíneos viveram em um ambiente seco, do tipo savana, havendo a possibilidade de terem vivido em grupos. Eles tinham características tanto de hominíneos como de primatas não hominíneos, eram bípedes e apresentavam dimorfismo sexual, sendo os machos maiores do que as fêmeas.
Há evidências de que o Australopithecus garhi viveu há 2,5 milhões de anos no norte do continente africano. Membros dessa espécie utilizavam ferramentas para dilacerar animais, indicando que sua dieta era à base de carne e, portanto, rica em proteínas e gorduras, diferentemente dos grupos estudados até agora cuja dieta era onívora.

Professor, professora: Ao abordar a imagem da reconstituição de Lucy e Lucien, se considerar pertinente, comente com os estudantes que os ossos de Lucy, cuja idade é de aproximadamente 3,3 milhões de anos, foram encontrados na Etiópia, entre 1973 e 1977. Já os ossos de Lucien foram encontrados na mesma região, mas em 1991.
Gênero Paranthropus
Outros hominíneos que viveram na região leste da África foram classificados no gênero Paranthropus. Durante certo tempo, eles foram considerados membros do grupo de hominíneos do gênero Australopithecus, mas um estudo mais detalhado comprovou que se tratava de um gênero à parte. A descoberta desse novo gênero indica que a linhagem de hominíneos não evoluiu de maneira linear como se pensava no passado, de australopitecos ao gênero Homo, até o ser humano atual. A linhagem de Paranthropus divergiu, formando outro ramo na evolução dos hominídeos. O Paranthropus aethiopicus viveu entre 2,7 e 2,3 milhões de anos atrás. Alguns estudiosos acreditam que essa espécie pode ser descendente de alguma outra do gênero Australopithecus, pois compartilham algumas semelhanças no crânio.

Um dos primeiros fósseis de hominíneos do gênero Paranthropus foi descoberto, em 1959, por Mary Leakey (1913-1996), arqueóloga britânica cujas escavações e descobertas contribuíram para o conhecimento sobre a história evolutiva dos seres humanos. A descoberta de Leakey, pertencente à espécie P. boisei, foi essencial para os cientistas reconhecerem que fósseis encontrados anteriormente, em 1955, pertenciam a esse novo gênero, até então desconhecido.
Mary foi casada com o paleoantropólogo queniano-britânico Louis Leakey (1903-1972) e, juntos, realizaram importantes escavações e publicações para a ciência do século XX.

Página 311
Gênero Homo
Estima-se que uma linhagem do gênero Homo tenha surgido de um ancestral do gênero Australopithecus. A espécie Homo habilis foi uma das primeiras desse gênero e viveu no leste e no sudeste da África, entre 2,4 milhões e 1,6 milhão de anos atrás. De acordo com os fósseis encontrados, eles viviam em unidades familiares e produziam ferramentas de pedra lascada. Nessa espécie, o dimorfismo sexual era acentuado e os machos eram maiores do que as fêmeas.
Outra espécie é Homo rudolfensis, que viveu no leste da África entre 1,9 e 1,8 milhão de anos atrás, o que indica que coexistiu com H. habilis. A espécie H. erectus tem algumas características semelhantes às do ser humano atual, como os braços mais curtos em relação às pernas, diferentemente da maioria das espécies anteriores, que tinham os braços mais longos.
É provável que H. erectus pudesse caminhar e percorrer longas distâncias. Os fósseis indicam que esse hominíneo construía ferramentas de pedras, como machadinhas e cutelos✚. Há indícios de que essa espécie manipulava o fogo, fazendo fogueiras, provavelmente para se aquecer. Também há evidências de que vivia em grupos e cuidava dos membros mais velhos da unidade familiar. Fósseis do H. erectus já foram encontrados na África e na Ásia e estima-se que tenha vivido entre 1,8 milhão e 100 mil anos atrás.
As características físicas de H. erectus indicam que seus representantes viviam sobre o solo, sendo, portanto, distintos dos hominíneos anteriores, que provavelmente alternavam a escalada em árvores com a caminhada no solo.

6. Por que o domínio do fogo pode ter sido importante para os hominíneos?
Resposta: Porque o fogo permitia que eles se aquecessem e espantassem possíveis predadores. Além disso, pode ter sido útil para cozinhar os alimentos e iluminar os ambientes durante o período da noite. Se considerar pertinente, comente com os estudantes que, antes do domínio do fogo, há evidências de que os hominíneos dormiam em árvores para se protegerem de possíveis predadores.
7. Qual é a vantagem de construir abrigos?
Resposta: Os abrigos auxiliavam na sobrevivência, pois eram lugares onde os hominíneos podiam repousar e dormir, protegendo-se do frio e de possíveis predadores.
Em 1857, no Vale de Neander, na Alemanha, foi encontrado o fóssil de um hominíneo, que foi chamado de homem de Neandertal (Homo neanderthalensis). Essa linhagem viveu entre 350 mil e 28 mil anos atrás, entre a Europa e a Ásia Ocidental. As áreas cerebrais relacionadas à fala eram tão desenvolvidas quanto as dos seres humanos atuais, mas não se sabe como se comunicavam. Seu corpo suportava o frio glacial, na Idade do Gelo, na Europa. Fósseis encontrados sugerem que essa espécie praticava rituais, como enterrar os entes que faleciam e deixar-lhes flores, hábitos não encontrados em outros hominíneos.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
Os hominíneos, como Homo neanderthalensis, tinham uma face relativamente achatada e cérebro maior. O formato da face mantém os dois olhos posicionados de modo que o campo visual seja mais abrangente, com uma visão estereoscópica, isto é, relacionada à percepção de profundidade. Sabe-se que essa característica teria sido importante para os ancestrais de H. sapiens, que se deslocavam na mata.

- Cutelos:
- instrumentos feitos com lâmina cortante, presa a um cabo de madeira.↰
Página 312
Algumas evidências também demonstram que os neandertais cuidavam dos mais incapazes, fato não observado nas linhagens anteriores. Eles fabricavam uma diversidade de ferramentas consideradas sofisticadas, viviam em abrigos e utilizavam roupas feitas de pele de outros animais, já que eram grandes caçadores. Os tipos de caças variavam sazonalmente, com renas no inverno e veados no verão. As fraturas nos ossos desses hominíneos sugerem que tais interações com animais de grande porte durante a caça poderiam trazer prejuízos aos neandertais. Eles também dominavam o fogo, elemento imprescindível para se aquecer.
A espécie H. sapiens, única vivente desse gênero, habita o planeta há cerca de 200 mil anos. Alguns dos primeiros fósseis dessa espécie foram encontrados em uma caverna chamada Cro-Magnon, no sudeste da França, e evidenciam que eles cuidavam uns dos outros, o que pode ter favorecido sua sobrevivência.
Entre os fósseis encontrados na caverna de Cro-Magnon, na França, em 1868, havia um crânio, que foi denominado Cro-Magnon 1. Trata-se de um dos primeiros fósseis encontrados do ser humano atual.
Estima-se que o Cro-Magnon 1 tenha vivido há 28 mil anos e teria falecido com, aproximadamente, 45 anos de idade.

Assim como outras espécies de hominíneos, Homo sapiens também fazia as próprias ferramentas, entretanto elas eram mais especializadas do que as dos outros grupos e passaram a ser utilizadas na caça, na pesca, na coleta de alimentos e na costura. Além disso, viviam em abrigos, onde morava grande quantidade de indivíduos, e controlavam o fogo, utilizando-o para se aquecer e cozinhar, por exemplo.
Durante muito tempo, os representantes de Homo sapiens foram caçadores e coletores. Porém, há cerca de 11 mil anos, passaram a cultivar plantas para a alimentação, desenvolvendo, assim, o cultivo de plantas (agricultura) e, posteriormente, a criação de animais (pecuária). Dessa forma, a necessidade de caçar para obter alimento diminuiu, uma vez que os animais criados forneciam leite, carne, couro, pele e ovos.

A organização social da espécie H. sapiens também era mais elaborada, com o desenvolvimento de uma linguagem falada e com acentuada expressão artística. Essa espécie de hominíneo também criou rituais complexos de arte, referentes à música e à produção de adornos. Sua capacidade de sobrevivência e adaptação permitiu que se espalhasse por todos os continentes.
As pinturas rupestres✚ são produções artísticas feitas em rochas por seres humanos no período Paleolítico, que se estende da origem dos primeiros hominíneos capazes de produzir ferramentas até, aproximadamente, 12 mil anos atrás. Tais pinturas são uma importante forma de manifestação da cultura, da comunicação e da arte do ser humano.

- Pinturas rupestres:
- produções artísticas elaboradas por hominíneos em um período anterior ao desenvolvimento da escrita.↰
Página 313
ATIVIDADES
1. Analise a linha do tempo a seguir, que apresenta algumas espécies de hominíneos. Com base nesse esquema e em seus conhecimentos, identifique as afirmativas que apresentam informações incorretas e as reescreva em seu caderno, corrigindo-as.
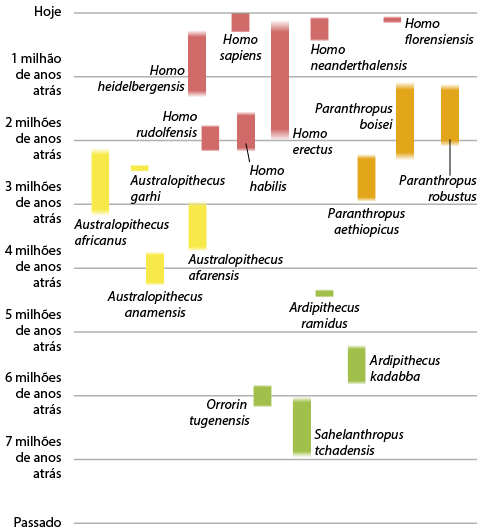
Imagem elaborada com base em: WHAT does it mean to be a human? Smithsonian National Museum of Natural History. Disponível em: https://s.livro.pro/4pyy2e. Acesso em: 17 set. 2024.
a ) A espécie de hominíneo mais antiga conhecida é a Sahelanthropus tchadensis e pertence ao mesmo gênero do ser humano atual.
A espécie de hominíneo mais antiga conhecida é a S. tchadensis, classificada em um gênero diferente do ser humano atual, que pertence ao gênero Homo.
b ) O Homo habilis não conviveu com gêneros distintos de hominíneos.
Homo habilis conviveu com gêneros distintos de hominíneos (Paranthropus e Australopithecus).
c ) Os hominíneos apresentados no esquema compartilham o andar bípede e o polegar opositor com os chimpanzés e gorilas.
Os hominídeos apresentados no esquema compartilham o andar bípede entre si. Com os chimpanzés e gorilas, há o compartilhamento apenas do polegar opositor das mãos.
d ) Todos os hominíneos apresentados eram bípedes e o cérebro era menor do que o dos társios e lêmures.
Todos os hominíneos apresentados eram bípedes e seu cérebro era maior do que o de társios e lêmures.
e ) O Homo sapiens provavelmente não conviveu com outras espécies de hominídeos.
H. sapiens, provavelmente, conviveu com outras espécies de hominídeos (H. neanderthalensis e H. floresiensis).
f ) Espécies como Paranthropus boisei e Paranthropus robustus coexistiram em determinado período.
2. Confira a seguir a árvore filogenética, elaborada com base nas comparações de DNA e proteína, e julgue as sentenças como verdadeiras ou falsas.
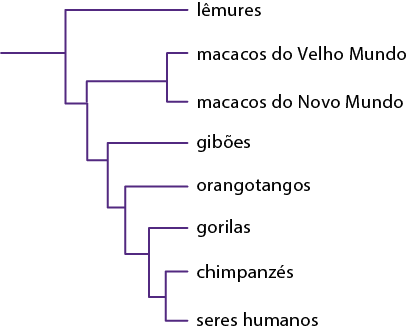
Imagem elaborada com base em: PURVES, William. K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 595.
a ) Os ancestrais mais recentes do grupo formado por chimpanzés e seres humanos são os gorilas.
Resposta: Falso.
b ) Há maior proximidade filogenética entre os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo se comparados a outros primatas.
Resposta: Verdadeiro.
c ) O grupo formado pelos lêmures divergiu há mais tempo de um ancestral comum, por isso é o mais recente.
Resposta: Falso.
d ) Os chimpanzés apresentam maior proximidade filogenética com os seres humanos do que com os gorilas.
Resposta: Verdadeiro.
3. Sobre a história evolutiva do ser humano, identifique a alternativa correta.
a ) Há evidências de que as primeiras ferramentas foram utilizadas por hominíneos do gênero Paranthropus.
b ) Há evidências de que hominíneos do gênero Australopithecus foram os primeiros a manipular o fogo.
c ) Há evidências de que Homo erectus coexistiu com Homo habilis.
d ) Na espécie Homo habilis não havia dimorfismo sexual, sendo machos e fêmeas de tamanho semelhante.
e ) Homo sapiens coexistiu com outras espécies de hominíneos, mas é a única que se manteve no ambiente até os dias atuais.
Resposta: Alternativa e.
Página 314
Dispersão de Homo sapiens
Leia o trecho de uma reportagem a seguir e responda às questões.
[…]
A já complicada e sempre polêmica história da evolução humana acaba de ganhar uma nova versão, escrita por cientistas brasileiros. A espécie que teria saído da África pela primeira vez teria sido o Homo habilis, e não o Homo erectus; e isso teria acontecido 500 mil anos antes do que se pensava – o que permitiria explicar diversos mistérios relacionados à história dos hominídeos no Cáucaso, na China e na Indonésia.
A nova narrativa, apresentada no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), é baseada em evidências arqueológicas desenterradas pelos pesquisadores no vale do rio Zarqa, na Jordânia, próximo à capital Amã. Eles descobriram centenas de ferramentas de pedra lascada com 1,9 milhão a 2,5 milhões de anos de idade, claramente produzidas por mãos humanas.
[…]
ESCOBAR, Herton. Cientistas brasileiros reescrevem a história do gênero humano. Jornal da USP, 5 jul. 2019. Disponível em: https://s.livro.pro/kbwjh0. Acesso em: 17 set. 2024.
8. De acordo com o texto, o que muda na história evolutiva humana com as descobertas mencionadas?
Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que as descobertas mencionadas levam à reconstrução de parte da história evolutiva humana, evidenciando que a primeira espécie do gênero Homo a deixar o continente africano teria sido H. habilis, não H. erectus, como se acreditava anteriormente.
A hipótese mais aceita até então sobre a diversificação e dispersão do gênero Homo é a de que a primeira espécie a deixar a África e a habitar outros continentes foi H. erectus, há cerca de 2 milhões de anos. Evidências indicam que essa espécie, que teria surgido de H. habilis, espalhou-se pelo Oriente Médio, depois para o leste da China, Ilha de Java e oeste da Europa, muito antes da dispersão do ser humano moderno (H. sapiens). Assim, H. habilis nunca teria deixado a África. No entanto, com as novas descobertas dos paleontólogos brasileiros, essa história pode ser modificada.
O estudo demonstra que a primeira espécie do gênero Homo a deixar a África teria sido H. habilis, há cerca de 2,5 milhões de anos, não H. erectus. De acordo com os dados obtidos, H. erectus teria surgido de H. habilis na região do Cáucaso, distribuindo-se, então, dessa região para os demais continentes, como a África. Dessa maneira, H. habilis teria ocupado a Eurásia antes de H. erectus.
Anteriormente, estudamos que as primeiras espécies conhecidas de hominíneos viviam no continente africano e que, provavelmente, as mais recentes viveram na África, na Ásia e na Europa. Mas ainda há uma questão a ser destacada: onde surgiu a espécie Homo sapiens? Há duas possíveis hipóteses para essa questão. Uma delas, conhecida como "para fora da África", afirma que H. sapiens se originou na África e migrou para os outros continentes. A outra hipótese, denominada "multirregional", defende que populações de hominíneos evoluíram paralelamente na África, na Europa e na Ásia, o que explica a distribuição dos fósseis.
Hipótese "para fora da África"
A hipótese "para fora da África" defende que a espécie de seres humanos modernos teria surgido na África e evoluído, nesse continente, de ancestrais H. erectus africanos, há cerca de 500 mil a 300 mil anos. Em seguida, eles teriam migrado para a Ásia e para a Europa, substituindo as populações desses continentes.
Hipótese multirregional
De acordo com a hipótese multirregional, populações de ancestrais humanos, oriundas da África, dispersaram-se pelos continentes africano, europeu e asiático, evoluindo de modo paralelo e originando os humanos modernos.
A migração entre os continentes e a miscigenação contínua desses hominíneos contribuíram para homogeneizar a espécie que se transformava de H. erectus para H. sapiens ao redor do mundo.
Professor, professora: Classificar espécies fósseis é uma questão arbitrária pois as espécies fósseis são contínuas. Assim, determinar quando termina H. habilis e começa H. erectus é arbitrário.
Página 315
O mapa a seguir mostra algumas das possíveis vias de dispersão de Homo sapiens.
Dispersão de Homo sapiens
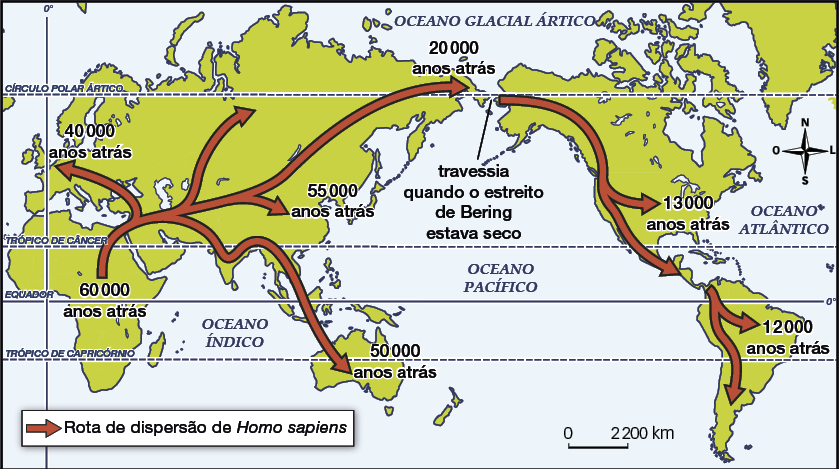
Fonte de pesquisa: FUTUYMA, Douglas J.; KIRKPATRICK, Mark. Evolution. 4. ed. Massachusetts: Sinauer Associates, 2017. p. 555.
9. Analisando o mapa, responda às questões a seguir.
a ) Quando, provavelmente, ocorreu a primeira dispersão de H. sapiens?
Resposta: Há aproximadamente 60 mil anos na África.
b ) Qual dos continentes apresentados, provavelmente, foi povoado mais tardiamente por H. sapiens?
Resposta: Continente americano, mais especificamente a América do Sul.
Há evidências genéticas que apontam como mais provável a hipótese de que o ser humano atual teve origem no continente africano. Isso porque elas indicam que, entre 60 mil e 40 mil anos atrás, a espécie humana chegou à Europa, ao leste da Ásia e à Austrália. Há também evidências que indicam que H. sapiens caminhou da Sibéria para o Alasca pelo Estreito de Bering quando o mar estava baixo e o estreito, seco. Depois, levou cerca de 8 mil anos para se espalhar pelas Américas do Norte e do Sul. Assim, em menos de 50 mil anos, a espécie H. sapiens se espalhou pelo planeta. Até então, nenhuma outra espécie de ser vivo percorreu essa área de maneira tão rápida.
Quando comparamos as populações humanas de diferentes locais e analisamos o DNA mitocondrial, é possível perceber que os seres humanos atuais têm um ancestral comum recente, que seria africano. Com a dispersão do ser humano para diferentes regiões, as populações começaram a divergir, dando origem a diferentes características, como as relacionadas à cor dos olhos e da pele, à altura e aos ossos faciais.
Apesar de essas diferenças serem visíveis, do ponto de vista do genoma humano elas não são representativas entre as populações, uma vez que observamos mais variações genéticas em uma mesma população do que entre populações. Isso porque muitas dessas características são influenciadas pelo ambiente em que as populações vivem.
Além das variações genéticas, a dispersão do ser humano promoveu o surgimento de diferentes culturas – influenciadas por fatores locais, como as condições ambientais – e que foram enriquecidas ao longo do tempo. Tanto a diversidade genética como a cultural foram e são importantes para a sobrevivência e a manutenção dos seres humanos.
Professor, professora: Ao abordar as variações de fenótipos dos seres humanos, explique aos estudantes que, por exemplo, a cor clara da pele de grupos humanos evoluiu de mutações, à medida que essas populações se adaptavam a limitações da incidência de luz solar em climas frios. Informações complementares sobre esse assunto nas Orientações para o professor.
Página 316
Sociedade e cultura humanas
Entre as características que distinguem a espécie humana das demais espécies de seres vivos estão as habilidades de raciocínio e comunicação mais complexas e a cultura. A construção desta última está ligada a diversas características da espécie Homo sapiens. Vamos conhecer algumas delas a seguir.
Quando o ser humano se tornou capaz de criar animais e cultivar plantas, deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Com isso, começou a fixar moradia. Em vez de utilizar cavernas e troncos como abrigos, desenvolveu formas mais complexas feitas de pedra, madeira, argila e galhos, entre outros materiais.
Dos outros animais e das plantas, os seres humanos passaram a obter não somente o alimento, mas também a matéria-prima necessária para suas vestimentas, como a lã de animais e o linho usando o algodão. Além disso, com o tempo, as pessoas passaram a formar comunidades, modificando sua maneira de trabalhar e de viver. A agricultura, por exemplo, foi aprimorada com a utilização de instrumentos, como o arado puxado por animais.
O ser humano também passou a trocar e a comercializar produtos dentro das comunidades e com os vilarejos vizinhos. Essas comunidades formaram sociedades, que se transformaram em civilizações, cada uma com suas regras e leis.
Como os seres humanos nascem pequenos e indefesos − assim como acontece com outras espécies −, necessitam de cuidado parental. Quando os pais cuidam dos filhos após o nascimento, há mais oportunidade de compartilharem aprendizagens.
Assim, conforme crescem e se desenvolvem, os pais transmitem aos filhos conhecimentos necessários, por exemplo, para sua sobrevivência. O cuidado parental na espécie humana é fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento das crianças.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, os pais têm direito à licença-paternidade de pelo menos cinco dias consecutivos, a contar do nascimento de seu descendente. Tal direito é considerado essencial para a família e a criança, auxiliando na criação de vínculo entre as partes envolvidas.

Professor, professora: Comente com os estudantes que em invertebrados, muitas vezes, os pais morrem antes que seus filhotes eclodam dos ovos, não podendo transmitir qualquer informação à prole, além da hereditária.
Na vida em sociedade, o que é aprendido e considerado importante para a manutenção dos indivíduos deve ser compartilhado, ou seja, os ensinamentos devem ser transmitidos de uma geração para outra por meio da cultura. Assim, essa é outra característica do ser humano que favorece sua manutenção no ambiente.
Além dos conhecimentos adquiridos dos pais e de familiares, as crianças aprendem em instituições, como a escola.
A cada nova geração, há um aumento na quantidade de informações partilhadas. Ou seja, além dos conhecimentos provenientes dos antepassados, novos conhecimentos são aprendidos com base em experiências próprias ou por meio do contato com outras culturas, por exemplo. Assim, há um acúmulo de conhecimentos de uma geração para outra, o que permite afirmar que, atualmente, o conhecimento continua a se expandir.
Nas comunidades indígenas, os mais jovens aprendem sobre a cultura e as tradições de seu povo com uma pessoa mais experiente, que lhes transmite oralmente o que aprendeu com os antepassados.

Página 317
LIGADO NO TEMA
Diversidade linguística
Leia o trecho do texto a seguir.
[...]
A diversidade linguística encontra-se ameaçada. Estima-se que entre um terço e metade das línguas ainda faladas no mundo estarão extintas até o ano de 2050. As consequências da extinção das línguas são diversas e irreparáveis, tanto para as comunidades locais de falantes quanto para a humanidade.
[...]
GARCIA, Marcus V. C. Diversidade linguística como patrimônio cultural do Brasil. Iphan. Disponível em: https://s.livro.pro/3nf90b. Acesso em: 18 set. 2024.
Em algum momento, nossos ancestrais começaram a articular sons e gestos, formando as primeiras palavras e os sinais. Assim a linguagem humana começou a se desenvolver. No entanto, não há evidências consistentes sobre o momento exato em que ela teria surgido, e é possível que essa questão permaneça sem resposta.
O primeiro "idioma" pode ter surgido com os primeiros grupos humanos na África, há mais de 1 milhão de anos. Para os registros escritos, que são mais recentes, há indícios de que teria se iniciado provavelmente há cerca de 6 mil anos.
A linguagem reflete a diversidade humana. Há milhares de línguas e dialetos, que refletem as culturas das quais fazem parte. No Brasil, por exemplo, são faladas mais de 200 línguas. A mais conhecida e usada é o português, influenciada pela colonização por povos europeus, entre eles, os portugueses. Mas há também línguas de sinais, línguas de origem africana, indígena e tantas outras.
Porém, como citado no trecho de texto no início da seção, essa diversidade de linguagem está ameaçada. O modo de vida moderno, em especial o chamado "ocidental", tem provocado o desaparecimento de culturas centenárias e mesmo milenares. Isso implica, muitas vezes, o desaparecimento dos idiomas relacionados a essas culturas. Esse problema afeta, em especial, as linguagens indígenas, pois esses povos vêm sofrendo diversos tipos de pressão, como a perda de territórios e a expansão de outras culturas.
Estima-se que no Brasil haja cerca de 170 línguas faladas pelos povos indígenas. Além disso, várias línguas indígenas são consideradas extintas, como mura, arapaso e witoto.
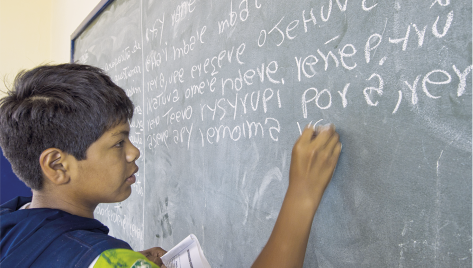
A ameaça às línguas indígenas tem sido uma preocupação de vários governos e entidades internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco), que instituiu a Década Internacional das Línguas Indígenas, que se estenderá de 2022 a 2032. A ideia é chamar a atenção para os riscos que as línguas indígenas vêm correndo, bem como promover sua preservação e revitalização. No Brasil, o decreto nº 7.387, de 2010, instituiu o Inventário Nacional de Diversidade Linguística, que visa identificar, documentar, reconhecer e valorizar as línguas existentes no território nacional.
Professor, professora: Se julgar conveniente, mostre aos estudantes o mapa das famílias linguísticas indígenas do Brasil. Disponível em: https://s.livro.pro/ej9fq4. Acesso em: 17 set. 2024.
a ) Converse com um colega sobre a importância de preservar a diversidade linguística no Brasil e no mundo.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que a língua é um dos elementos de uma cultura. Por isso, preservar a diversidade linguística contribui para manter a riqueza cultural tanto nacional quanto da humanidade.
Página 318
ATIVIDADES
1. As pinturas rupestres constituem importantes registros artísticos e históricos que remontam a períodos longínquos da humanidade, como os exemplos mostrados a seguir. Analise-os atentamente e responda às questões propostas.
A.

B.

C.

a ) Que adaptações evolutivas (anatômicas e comportamentais) possibilitaram à espécie Homo sapiens produzir esse tipo de registro? Cite dois exemplos e explique sua importância para esse tipo de produção.
b ) O surgimento das pinturas rupestres está relacionado ao Paleolítico, período histórico que teve início há cerca de 2,5 milhões de anos e se estendeu até cerca de 12 mil anos atrás. Cite um importante evento que marca esse período e que poderia ter relação com a capacidade humana de produção de pinturas rupestres.
c ) As imagens apresentadas e suas diferentes localidades exemplificam um evento marcante relacionado à história de H. sapiens. Que evento é esse e como se supõe que ele tenha ocorrido?
d ) Com base em sua resposta do item c, qual das imagens apresentadas está relacionada ao último continente habitado pela espécie?
e ) Embora possam se enquadrar em diferentes tipos de manifestações artísticas, as pinturas rupestres mostradas anteriormente ilustram um viés específico desse tipo de arte. Que tipo de manifestação artística é essa e o que ela busca representar?
2. Leia o trecho do texto a seguir e responda às questões propostas.
[...] os seres humanos teriam deixado o continente africano entre 60 mil e 50 mil anos atrás e se espalhado pela Ásia e pela Europa, eliminando as outras espécies de hominídeos que encontravam pelo caminho como o Homo neandertalensis, seu contemporâneo.
[...]
ZORZETTO, Ricardo. Pelo mundo afora. PesquisaFapesp, ed. 142, dez. 2007. Disponível em: https://s.livro.pro/glo96h. Acesso em: 17 set. 2024.
a ) O trecho anterior refere-se a qual hipótese que explica a dispersão do gênero Homo e possível origem da espécie Homo sapiens?
Resposta: Hipótese "para fora da África".
b ) Que outra hipótese apresenta uma possível explicação para o surgimento de H. sapiens? Explique-a.
Resposta: Hipótese multirregional. De acordo com essa hipótese, as populações de ancestrais humanos, oriundas da África, dispersaram-se pelos continentes africano, europeu e asiático, evoluindo de modo paralelo e originando a espécie de humanos modernos.
3. Que hábitos e comportamentos foram modificados quando os seres humanos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários?
4. Qual é a relação entre a comunicação e a cultura humanas?
Resposta: A comunicação possibilita a transmissão da cultura, por meio da qual os conhecimentos são transmitidos de uma geração para outra.
5. Converse com os colegas sobre os meios de comunicação que vocês utilizam atualmente. Em seguida, pesquisem se eles eram utilizados há cem anos, refletindo sobre como esse meio de comunicação interferiu na sociedade atual e na comunicação humana.
Respostas das questões 1, 3 e 5 nas Orientações para o professor.
Página 319
CAPÍTULO18
Corpo humano: movimentação e coordenação
Corpo humano em movimento
O ser humano é capaz de realizar diversos movimentos, dos mais simples aos mais complexos, que envolvem a ação conjunta de diferentes sistemas e estruturas corporais. Essa habilidade resultou de várias alterações estruturais ocorridas ao longo da evolução dos primatas e, posteriormente, dos hominíneos.
A capacidade de o ser humano andar e correr, por exemplo, relaciona-se diretamente com a postura bípede, desenvolvida ao longo da evolução, e é considerada a principal diferença entre os seres humanos e os chimpanzés. Confira a imagem a seguir.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
A.

B.

Representação de vista lateral de esqueleto de chimpanzé (A) e esqueleto de ser humano (B).
Imagens elaboradas com base em: ROBERTS, Alice. Evolution: the human story. New York: DK Publishing, 2011. p. 53.
Quando comparamos os esqueletos de chimpanzés e seres humanos, é possível identificar diversas adaptações ao longo da evolução humana, que favoreceram uma postura ereta e o andar bípede. Entre elas:
- pernas mais longas, posicionadas abaixo do centro de gravidade do corpo;
- pélvis mais curta e larga, posicionando o tronco acima do quadril;
- pernas mais longas do que os braços, que podem se movimentar ao lado do corpo, auxiliando no equilíbrio durante o andar/correr;
- coluna vertebral com curvatura em S, favorecendo o equilíbrio na postura bípede e a absorção de impacto desse tipo de movimentação;
- joelhos posicionados sob o centro de gravidade do corpo;
- forame magno mais deslocado para frente, favorecendo o equilíbrio do crânio sobre a coluna vertebral em uma postura ereta;
- os polegares não opositores dos pés, alinhados aos demais dedos, e os pés arqueados, favorecendo a caminhada/corrida.
A seleção de muitas das adaptações relacionadas ao andar bípede, citadas anteriormente, está relacionada com a mudança do hábito arborícola dos ancestrais humanos nas florestas úmidas, para o da vida terrestre nas savanas, motivada pelas alterações climáticas que deixaram o clima africano mais seco.
Página 320
Sustentação do corpo humano
Para realizar os diversos movimentos que os seres humanos são capazes, é necessário que o corpo se sustente. Isso é possível por conta da existência de estruturas rígidas que formam o arcabouço do corpo humano: os ossos. Em geral, o corpo humano adulto tem 206 ossos, com diferentes formatos e tamanhos que, em conjunto, compõem o esqueleto.
Os ossos são estruturas fortes e resistentes. Sua composição inclui proteínas, como o colágeno, água e minerais, principalmente íons cálcio abre parênteses C a sobrescrito 2 mais, fecha parênteses e fosfato abre parênteses P O subscrito 4 sobrescrito 3 menos, fecha parênteses. Os ossos também estão associados a vasos sanguíneos, que nutrem as células ósseas. Confira a seguir.
I.
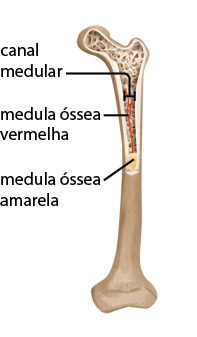
Imagem elaborada com base em: PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia humana: anatomia geral e sistema muscular. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. v. 1. p. 15.
II.
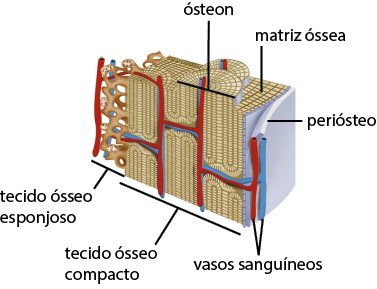
Imagem elaborada com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 119.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
I. A cavidade ou canal medular é um espaço cilíndrico onde se encontra a medula óssea, que pode ser do tipo vermelha ou amarela. A vermelha produz células sanguíneas, enquanto a amarela reserva gordura.
II. O tecido ósseo é formado por uma substância chamada matriz óssea, composta de água, sais minerais, fibras colágenas e diferentes tipos de células. Esse tecido pode ser do tipo compacto – sólido e organizado em unidades repetitivas (ósteons) – ou esponjoso – poroso e sem ósteons. O periósteo é uma estrutura que reveste o osso externamente, formada por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, nervos e células ósseas. Essa estrutura protege, nutre e auxilia no crescimento em espessura dos ossos.
Compartilhe ideias
As células presentes no sangue, como plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, são originadas de células-tronco hematopoiéticas e podem ser utilizadas em diversos tratamentos médicos. Esse tipo de célula-tronco é produzido na medula óssea, sendo possível encontrá-lo no cordão umbilical.
a ) Converse com os colegas sobre as possíveis aplicações das células-tronco hematopoiéticas e a importância de doar medula óssea.
Resposta: O objetivo desta questão é incentivar uma reflexão sobre a importância desse tipo de célula para tratamentos médicos, por exemplo, incentivando a doação de medula. Os estudantes podem citar o uso dessas células para o tratamento de doenças que prejudicam a produção e a manutenção de células sanguíneas, como determinados cânceres e anemias, como anemia de Fanconi. Assim, espera-se que eles reconheçam que a doação de medula óssea pode salvar vidas. Caso algum estudante conheça alguém que precisou de transplante de medula óssea e se sinta confortável em compartilhar com os demais, incentive-o a contar aos colegas.
Resistência e mobilidade
Provavelmente, você ingere água várias vezes ao longo do dia. Além da importância desse hábito para a saúde, você já parou para refletir sobre como é possível realizar o movimento de segurar uma garrafa com água e levá-la até a boca, considerando que os ossos do membro superior, assim como todos os demais, são rígidos?
A resistência dos ossos é essencial para sustentar e manter a estrutura do corpo humano. No entanto, para realizar movimentos, diferentes partes do corpo devem se mover, ou seja, é necessário que haja mobilidade.

Professor, professora: Incentive os estudantes a responder à questão proposta no início do tema Resistência e mobilidade. A resposta é pessoal e tem como objetivo levantar os conhecimentos prévios da turma a respeito das características ósseas associadas aos movimentos realizados pelo corpo humano.
Página 321
Apesar da estrutura rígida dos ossos, é possível movimentar diferentes partes do esqueleto em razão das articulações, que são pontos de contato entre ossos, por exemplo. Além da união das estruturas ósseas, elas proporcionam flexibilidade e protegem determinados órgãos e tecidos. Quanto ao grau de mobilidade que apresentam, as articulações podem ser classificadas em imóveis, semimóveis e móveis. Confira a seguir.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
A.
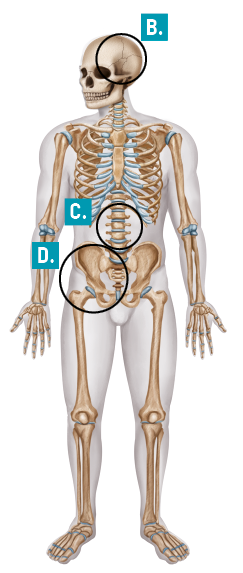
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 128-156.
B.
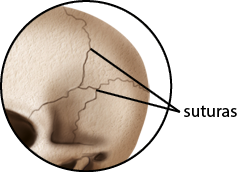
C.
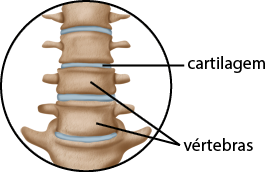
D.
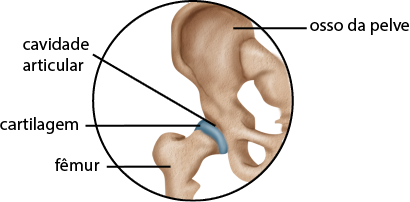
As articulações imóveis, também chamadas sinartroses, mantêm os ossos unidos de modo que praticamente não haja movimento, como nos pontos de encontro entre os ossos do crânio, as chamadas suturas (B).
Nas articulações semimóveis, também chamadas anfiartroses, os ossos unem-se por meio de cartilagem, possibilitando movimentos limitados, como aqueles realizados entre as vértebras (C).
Já as articulações móveis, conhecidas como diartroses, além de cartilagem articular ou hialina, têm um pequeno espaço entre os ossos: a cavidade articular ou sinovial, que reduz o atrito entre os ossos e absorve impactos. A membrana interna dessa cavidade produz um líquido denominado sinóvia ou líquido sinovial, que lubrifica a região, reduzindo o atrito entre as articulações. Circundando a articulação, encontra-se a cápsula articular, que possibilita movimentos amplos, como os realizados na ligação do fêmur com a pelve (D).
Se pudéssemos observar os ossos e as articulações envolvidos no movimento de levar a garrafa com água à boca, por exemplo, perceberíamos algo semelhante à imagem a seguir.
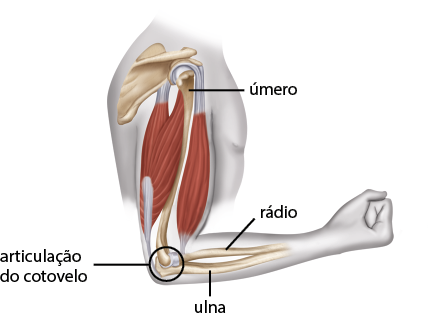
Imagem elaborada com base em: TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 190, 201.
Ao analisar a imagem, note o papel da articulação do cotovelo para realizar o movimento de "dobrar" o membro superior, aproximando o antebraço direito do braço direito.
1. Em sua opinião, os músculos representados na imagem auxiliam a realizar o movimento de flexão do antebraço direito? Explique sua resposta.
Resposta: Espera-se que os estudantes reconheçam que sim, esses músculos são os responsáveis por "puxar" e "empurrar" os ossos durante o movimento em questão, nesse caso, a ulna e o rádio.
Página 322
Movimentando os ossos
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
Ao se contraírem, os músculos puxam os ossos, movimentando determinadas partes do corpo, como o antebraço. Portanto, os movimentos que realizamos são resultado da ação integrada de ossos, articulações, tendões, músculos e sistema nervoso.
Existem diferentes tipos de músculo no corpo humano. Alguns deles, chamados músculos esqueléticos, estão diretamente relacionados aos movimentos, pois se ligam aos ossos por meio de tendões, um tipo de cordão fibroso. Confira a seguir.
Professor, professora: Se considerar pertinente, ao abordar o papel desempenhado pelos músculos esqueléticos no organismo, comente com os estudantes que esses músculos também ajudam a manter a postura e a estabilidade das articulações, bem como contribuem para a manutenção da temperatura e proteção de órgãos internos.
A.
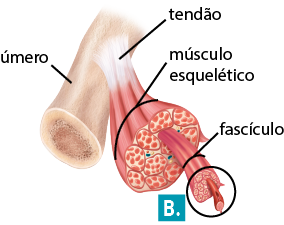
B.
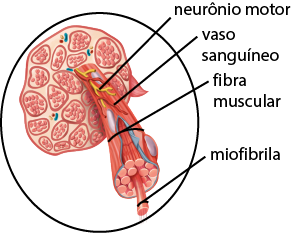
C.
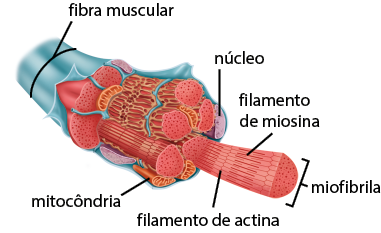
Cada músculo é um órgão composto de inúmeras células chamadas fibras musculares. Elas são agrupadas em feixes de 10 a 100 fibras e formam o fascículo muscular.
O tecido muscular é permeado por vasos sanguíneos, que atuam no suprimento de nutrientes e de gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses para a síntese de A T P, bem como na remoção de resíduos. Já os nervos agem no controle da contração muscular.
No citoplasma das fibras musculares, encontra-se um pigmento chamado mioglobina. Ela tem coloração semelhante à da hemoglobina e armazena gás oxigênio até ele ser exigido pela mitocôndria da célula.
Ao longo de cada fibra muscular estão as miofibrilas, estruturas cilíndricas formadas por dois tipos de filamentos proteicos: espessos (compostos de miosina) e finos (compostos de actina). O deslizamento desses filamentos, uns sobre os outros, está diretamente relacionado à contração e ao relaxamento muscular, havendo gasto de A T P no caso da contração.
Quando os músculos se contraem, tracionam os tendões que movimentam determinados ossos, enquanto as articulações atuam como ponto de apoio para essa movimentação. Em conjunto, essas estruturas são responsáveis pela movimentação de partes do corpo humano. Confira o exemplo a seguir.
Quando o antebraço realiza o movimento de flexão, o bíceps se contrai, diminuindo seu comprimento. O tendão puxa o rádio, que se move em direção ao braço. Nesse movimento, o bíceps se contrai e o tríceps relaxa.
Note que a flexão do antebraço envolve o trabalho conjunto dos músculos bíceps e tríceps. Isso porque a maioria dos músculos esqueléticos está disposta em pares, flexores/extensores, abdutores/adutores, por exemplo. Assim, em alguns movimentos, quando um músculo se contrai, o outro relaxa, como no movimento de flexão do antebraço.
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 185-201.
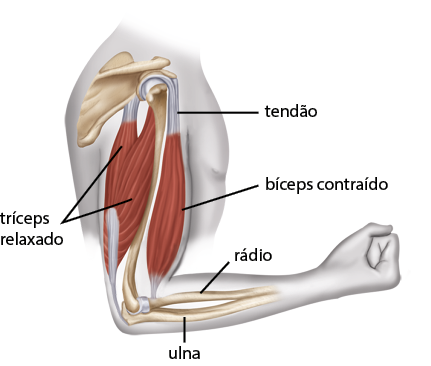
Página 323
CONEXÕES com ... EDUCAÇÃO FÍSICA
Massa muscular e saúde
Leia o texto a seguir.
[…]
A musculação melhora o condicionamento cardiorrespiratório, diminui a quantidade de gordura, auxilia o emagrecimento, diminui o risco de diabetes, aumenta a autonomia em idosos e garante mais disposição física.
[…]
Normalmente, o objetivo principal do praticante de musculação é o ganho de massa magra, e algumas pessoas acreditam que só se consegue um maior volume muscular utilizando cargas elevadas. Entretanto, existem outras formas de manipular as variáveis do treino para torná-lo mais intenso sem aumentar a carga, obtendo resultados igualmente eficazes.
[…]
BRASIL. Ministério da Defesa. Os benefícios da musculação para a saúde. 6 abr. 2021. Disponível em: https://s.livro.pro/z68kzv. Acesso em: 11 set. 2024.
A musculação é um tipo de treino de força considerado eficaz para o ganho de massa muscular, também conhecido como hipertrofia. O aumento dessa massa ocorre por conta do aumento no diâmetro das fibras musculares, causado por diferentes fatores, como a formação de miofibrilas e de elementos do citoplasma.
Entre as atividades que podem contribuir para o ganho de massa muscular e de força, além da musculação, podemos citar o método Pilates e o treinamento funcional e suas vertentes. Além destas, outras atividades que podem auxiliar no desenvolvimento da força muscular são natação, crossfit e artes marciais.
Apesar de a hipertrofia estar associada à execução de atividades físicas de força, como mencionado no texto, ela pode ser influenciada por diferentes fatores, como alimentação, idade e genética. Nesse sentido, o educador físico é um dos profissionais da saúde aptos a orientar a seleção e a execução dos movimentos de maneira adequada a cada pessoa para evitar lesões.

O aumento e a manutenção da massa muscular são essenciais no tratamento e na prevenção de diversas doenças. No entanto, apesar dos benefícios, é preciso que as atividades físicas sejam realizadas de maneira responsável. Atualmente, há casos em que as pessoas buscam aumento de massa muscular simplesmente para fins estéticos, almejando um padrão considerado "ideal". Às vezes, essa busca coloca em risco a saúde e a vida da pessoa. A saúde física deve estar acompanhada do equilíbrio emocional e da saúde mental.
Dica
Considerando o caráter abrangente da saúde, em 6 de março de 1997, por meio da Resolução nº 218, os profissionais de Educação Física foram reconhecidos como profissionais da saúde pelo Conselho Nacional de Saúde.
a ) Você pratica atividades físicas? Em caso afirmativo, elas estão relacionadas ao ganho de força muscular? Reflita e considere se deveria modificar algum hábito para beneficiar sua saúde.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir criticamente sobre seus hábitos, fazendo uma autoavaliação e considerando adotar novos hábitos que favoreçam a saúde.
b ) Há estudos que indicam que os padrões de beleza, embora sejam uma construção social, estão associados à estética das classes dominantes. Atualmente, esses supostos padrões são veiculados, por exemplo, nas redes sociais. Liste possíveis razões que, em sua opinião, levam adolescentes e jovens a buscar esse tipo de padrão físico e como as redes sociais podem impactar sua autoestima e saúde.
Resposta pessoal. Os estudantes podem constatar que as redes sociais veiculam um padrão de beleza que não condiz com a maioria das pessoas, mas por estar constantemente nas telas de celular e na mídia em geral, acabam influenciando a maneira como uma pessoa se vê ou como ela considera que deveria ser, afetando sua autoestima e influenciando seus hábitos, o que pode afetar a saúde.
Página 324
ATIVIDADES
1. Quando analisamos a classificação da espécie do ser humano moderno e a comparamos com os macacos hominídeos (orangotango, gorila e chimpanzé), percebemos diferenças e semelhanças entre eles. Com base nos conhecimentos sobre o esqueleto humano, identifique a alternativa que cita características exclusivamente humanas.
a ) Menor volume da caixa craniana.
b ) Membros superiores mais longos do que os inferiores.
c ) Membros inferiores mais longos do que os superiores.
d ) Postura arqueada.
Resposta: Alternativa c.
2. Relacione as partes do corpo humano (A a C) à sua respectiva importância (I a III).
A. osso
B. tendão
C. Músculo
I. Relaciona-se aos movimentos e tem capacidade de contração e relaxamento.
II. Mantém o músculo conectado ao osso, auxiliando na realização do movimento.
III. Relaciona-se à sustentação do corpo e à proteção de órgãos internos.
Resposta: A-III; B-II; C-I.
3. A fim de demonstrar aos estudantes o que caracteriza a dureza de um osso, o professor separou dois ossos limpos de coxa de frango. Ele segurou um dos ossos com uma pinça e o colocou sobre a chama de um bico de Bunsen por alguns minutos. O professor esperou o osso esfriar e solicitou a participação de dois estudantes. Um deles tentou torcer o osso que ficou na chama e o outro fez o mesmo com o outro osso. O osso que foi exposto à chama quebrou-se facilmente, enquanto o outro manteve-se intacto.
a ) A matriz óssea é composta de componentes inorgânicos e orgânicos. Que componentes são esses?
Resposta: A porção orgânica do osso é composta, basicamente, por colágeno. Já a porção inorgânica engloba grande quantidade de sais minerais, principalmente íons cálcio e fosfato.
b ) Por que o osso se quebrou facilmente após o contato com a chama?
Resposta: Após a exposição à chama, o osso se quebrou facilmente porque, quando exposto ao calor, o colágeno, um tipo de proteína, sofre desnaturação, enfraquecendo o osso.
4. Confira a imagem a seguir.
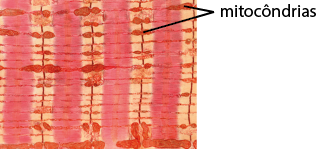
Qual é a importância das mitocôndrias no músculo apresentado?
Resposta: A contração muscular envolve o gasto de A T P. Como as mitocôndrias são as organelas onde ocorrem a respiração celular e, consequentemente, a geração de A T P, sua presença nas fibras musculares esqueléticas é essencial para gerar a energia necessária às contrações musculares.
5. Leia o trecho do texto a seguir.
Estalar os dedos faz mal? O que diz a medicina
[...]
O "estalo" dos dedos é resultado de uma reação normal do organismo. O barulho resultante do hábito de apertar ou puxar as articulações dos dedos é causado pelo estouro de bolhas de ar formadas no líquido sinovial (que nutre e lubrifica as cartilagens) que surgem pela mudança de pressão no interior das articulações. [...]
Em suma, o hábito não afeta nem de forma negativa, nem positiva, a saúde das articulações. O único alerta é não abusar dos estalos perto de pessoas que podem se incomodar com o barulho.
ESTALAR os dedos faz mal? O que diz a medicina. National Geographic, 5 abr. 2023. Disponível em: https://s.livro.pro/i0jmb9. Acesso em: 11 set. 2024.
a ) De acordo com o texto, qual é a origem do som característico do estalar dos dedos?
Resposta: O som é resultado do estouro de bolhas de ar presentes no líquido sinovial.
b ) Qual é a importância das articulações na movimentação do corpo humano?
Resposta: As articulações são pontos de contato entre ossos que possibilitam dobrar certas partes do corpo, auxiliando na realização de movimentos.
c ) Qual é o tipo de articulação presente nos dedos da mão? Se necessário, faça uma pesquisa.
Resposta: Articulações móveis.
6. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a realização de movimentos repetitivos, como aqueles associados ao uso de computadores, celulares e aparelhos de videogame, por exemplo, favorece o aparecimento de inflamações nos músculos, ligamentos e tendões, podendo evoluir para um quadro de tendinite, por exemplo. Além de recomendar o uso limitado desses equipamentos eletrônicos, a SBR recomenda uma postura adequada enquanto se faz uso de tais equipamentos.
a ) Qual é a importância dos músculos e tendões no corpo humano?
Resposta: Os músculos realizam movimentos de contração e relaxamento, compõem alguns órgãos internos, incluindo o coração, e, com os tendões, que ligam os músculos esqueléticos aos ossos, possibilitam movimentar algumas partes do corpo.
b ) Pesquise o que é tendinite.
Resposta: É uma inflamação nos tendões, em geral decorrente de movimentos repetitivos.
c ) Você costuma utilizar celulares, assistir à televisão, jogar videogame ou usar computador diariamente? Se sim, por quantas horas? E a postura, é mantida de maneira adequada durante essas atividades?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir criticamente sobre seus hábitos diários, reconhecendo os que podem causar danos à saúde e alterando-os.
Página 325
Coordenação dos movimentos e regulação do corpo humano
Como você estudou, os movimentos dependem da ação conjunta de diferentes sistemas, mas qual é o sistema responsável por comandar e coordenar tais movimentos? Todos os sistemas do corpo humano apresentam associações com vasos sanguíneos e nervos. Estes últimos fazem parte do sistema nervoso humano que, entre outras funções, controla os movimentos corporais e regula o funcionamento dos órgãos e dos sistemas.
Sistema nervoso
Estruturalmente, o sistema nervoso é dividido em duas partes.
A parte central do sistema nervoso recebe estímulos✚ de diferentes partes do corpo humano, interpreta-os e gera respostas a eles. Essa parte do sistema nervoso é formada pelo encéfalo e pela medula espinal. Vários nervos estão ligados à medula espinal, a qual mantém a comunicação entre encéfalo e outras regiões do corpo, que respondem a determinados estímulos do ambiente.
A parte periférica do sistema nervoso encaminha impulsos nervosos até a parte central e transmite as respostas aos diferentes órgãos e às estruturas do corpo. Ela se comunica com a parte central do sistema nervoso e com os diversos órgãos e é formada, principalmente, por nervos, gânglios, pelos plexos entéricos✚ e receptores sensoriais.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
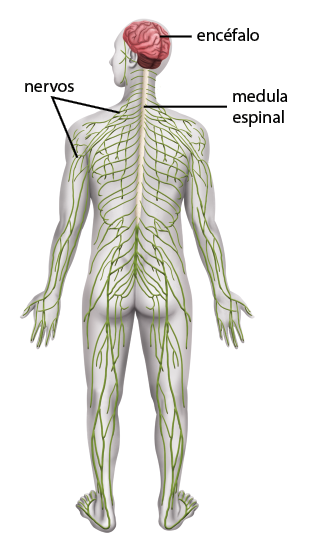
Imagem elaborada com base em: PARKER, Steve. O livro do corpo humano. Barueri: Ciranda Cultural, 2007. p. 68-69.
O encéfalo é formado principalmente por tecido nervoso e se divide em telencéfalo, cerebelo, tronco encefálico e diencéfalo.
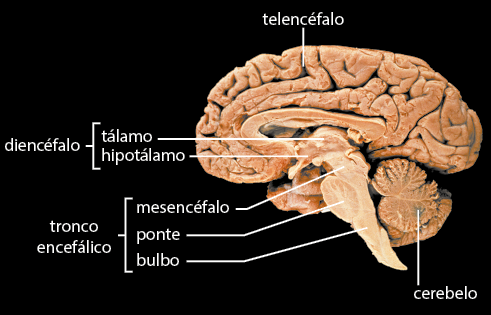
O diencéfalo é dividido em tálamo e hipotálamo. O tálamo recebe e retransmite impulsos nervosos provenientes de diferentes regiões do corpo humano. O hipotálamo participa da regulação de importantes processos do corpo humano, como o deslocamento de alimentos no sistema digestório, a contração da bexiga urinária e os batimentos cardíacos; controla a fome, a saciedade e a sede; atua também no controle da temperatura corporal e na manutenção do estado de consciência do ser humano.
O telencéfalo é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Ele apresenta três áreas principais: sensitivas, motoras e de associação. As áreas sensitivas recebem e interpretam impulsos provenientes de diferentes partes do corpo, como olhos, orelhas e nariz. As áreas motoras controlam movimentos dos músculos esqueléticos. As áreas de associação conectam as áreas sensitivas e motoras, além de relacionar-se com as emoções, a memória, a inteligência e a personalidade.
O cerebelo atua na coordenação dos movimentos e na manutenção da postura e do equilíbrio do corpo.
O tronco encefálico é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo e a ponte recebem impulsos nervosos da medula espinal e os transmitem para outras partes do encéfalo. No bulbo, localizam-se os centros de controle de várias funções básicas do corpo humano, como o ritmo e a força dos batimentos cardíacos, a deglutição, a tosse e a frequência respiratória.
Professor, professora: Ao abordar a estrutura do encéfalo, comente com os estudantes que a estrutura conhecida como cérebro é formada pela junção do telencéfalo e do diencéfalo.
Página 326
O tecido nervoso é composto de neurônios e gliócitos, também chamados neuróglia ou glia.
Os neurônios são células capazes de responder a estímulos físicos, químicos e mecânicos, transformando-os em impulsos nervosos e transmitindo-os a outras células.
A maioria dos neurônios tem três partes: corpo celular, dendritos e axônios. Além disso, grande parte dessas células nervosas apresenta extrato mielínico, secretado pelas células de Schwann, um tipo de gliócito.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
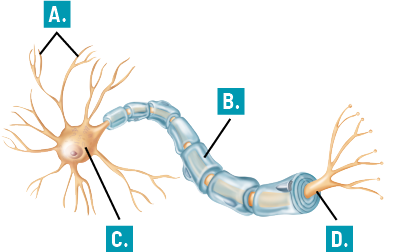
Imagem elaborada com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 240.
Os dendritos (A) são prolongamentos geralmente curtos e bastante ramificados, que partem do corpo celular. Eles recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios.
O extrato mielínico (B) reveste o axônio e é composto de proteínas e mielina, um material lipídico.
O corpo celular (C) é a região do neurônio na qual se localizam o núcleo e as organelas.
O axônio (D) é um prolongamento cilíndrico com comprimento e diâmetro variáveis, porém, geralmente, maiores que o dendrito. Cada neurônio apresenta um único axônio, que conduz impulsos nervosos a outras células.
Os gliócitos, por sua vez, atuam na sustentação, nutrição, manutenção e proteção dos neurônios. Essas células são menores e mais numerosas que os neurônios, além disso são capazes de se dividir, formando novas células. Diferentemente dos neurônios, os gliócitos não geram nem conduzem impulsos nervosos.
A medula espinal é um órgão tubular que se estende das primeiras vértebras cervicais até o início da região lombar. A região mais interna da medula espinal é formada por uma substância cinzenta, que corresponde aos corpos celulares dos neurônios e aos axônios sem extrato mielínico. A região externa da medula espinal, por sua vez, é formada por uma substância branca, que corresponde a axônios com mielina.
Os nervos são conjuntos de axônios envolvidos por tecido conjuntivo, também chamado fibras nervosas, e que atuam na condução dos impulsos nervosos.
Os gânglios são compostos, principalmente, de corpos celulares de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Os gânglios atuam na transmissão de impulsos nervosos.
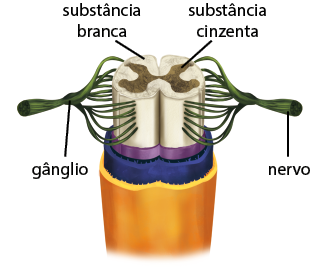
Imagem elaborada com base em: PARKER, Steve. O livro do corpo humano. Barueri: Ciranda Cultural, 2007. p. 80.
Professor, professora: Se considerar pertinente, ao abordar a imagem da medula espinal, comente com os estudantes que as três camadas ao redor dessa estrutura, chamadas de meninges espinais, são: pia-máter (interna), aracnoide-máter (intermediária) e dura-máter (externa). Elas revestem a medula espinal e auxiliam na proteção dessa estrutura.
Origem e transmissão do impulso nervoso
Como mencionado anteriormente, os neurônios são capazes de transformar estímulos em impulsos nervosos, ou seja, são excitáveis, transmitindo tais impulsos a diferentes partes do corpo. Como isso ocorre?
As células do corpo humano têm diferença de cargas elétricas entre os meios intracelular e extracelular, que podem estar carregados de forma negativa e positiva, respectivamente. Essa diferença de cargas elétricas é chamada potencial de membrana e as células nesse estado são chamadas polarizadas. A existência desse potencial é resultado da distribuição desigual de íons no citosol e no líquido extracelular.
Quando os neurônios não estão conduzindo impulso nervoso, isto é, estão em repouso, a voltagem da membrana plasmática é o potencial de membrana em repouso e equivale a menos 70 milivolt. A chegada de um estímulo ao neurônio pode causar a despolarização de sua membrana plasmática e a consequente geração de um impulso nervoso (potencial de ação).
Professor, professora: Ao citar o potencial de membrana, comente com os estudantes que o sinal negativo indica que o interior da membrana é negativo em relação ao exterior.
Página 327
O impulso nervoso se caracteriza por ser uma sequência de eventos que diminui e inverte o potencial da membrana por conta da movimentação de íons através da membrana plasmática. Confira a seguir.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
A. A chegada do estímulo à membrana celular altera os canais iônicos voltagem-dependentes em parte da membrana celular. Como resultado, há entrada de íons sódio abre parênteses N a sobrescrito mais fecha parênteses na célula, levando a face interna a se tornar, gradativamente, menos negativa. Inicia-se, assim, a despolarização da membrana plasmática.
Se o estímulo for suficientemente forte, ocorre a rápida alteração do potencial de membrana e a inversão momentânea da polaridade (área despolarizada).
B. A despolarização de uma área da membrana celular interfere nos canais iônicos das regiões adjacentes, iniciando a despolarização de áreas vizinhas.
C. Após um curto intervalo de tempo, os canais de sódio da primeira porção despolarizada se fecham e os de potássio se abrem, possibilitando a saída de íons potássio abre parênteses K sobrescrito mais fecha parênteses da célula. Com isso, ocorre a repolarização e o retorno do potencial de repouso da membrana (área repolarizada). À medida que novas porções da membrana são despolarizadas e repolarizadas, ocorre a transmissão do impulso nervoso ao longo do axônio, na chamada condução contínua.
A.
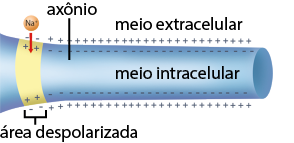
B.
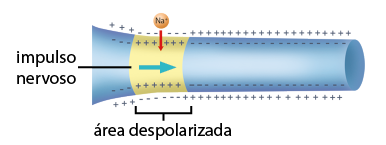
C.
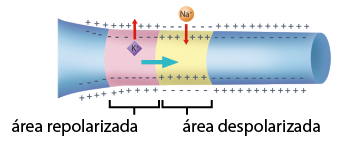
Representação das etapas (A a C) de geração e transmissão de impulso nervoso em axônio de neurônio sem extrato mielínico.
Professor, professora: Ao abordar o item A do esquema sobre a condução contínua, comente com os estudantes que um estímulo suficientemente forte é aquele capaz de alterar o potencial de membrana até que ele atinja 55 milivolt.
Quando ocorre a fase de despolarização, o potencial de membrana, que era negativo, torna-se menos negativo até atingir zero de carga e, em seguida, tornar-se positivo. Durante a repolarização, o estado da membrana é restaurado à sua carga inicial negativa.
A presença do extrato mielínico aumenta a velocidade de condução dos impulsos nervosos nos neurônios. Isso porque os canais iônicos voltagem-dependentes estão localizados, principalmente, nos espaços entre as deposições de extrato mielínico, os chamados nódulos de Ranvier. Confira a seguir.
D. O estímulo chega à membrana celular, altera os canais iônicos voltagem-dependentes de um dos nódulos de Ranvier, resultando na entrada de íons sódio na célula. Isso ocorre até a despolarização da membrana plasmática e a inversão momentânea da polaridade nessa área.
E. A despolarização do primeiro nódulo interfere nos canais iônicos do nódulo adjacente, iniciando sua despolarização. Após um curto intervalo de tempo, os canais de sódio do primeiro nódulo se fecham e os de potássio se abrem, possibilitando a saída de íons potássio da célula e a repolarização da membrana desse nódulo.
F. À medida que novas áreas de nódulo são despolarizadas e repolarizadas, ocorre a transmissão do impulso nervoso. Como o processo de despolarização e repolarização ocorre apenas nesses espaços e não ao longo de toda a membrana do axônio, observa-se a condução saltatória do impulso nervoso.
D.
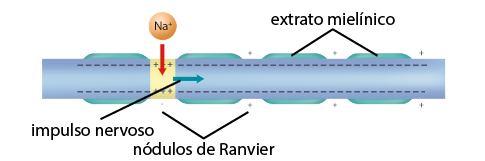
E.
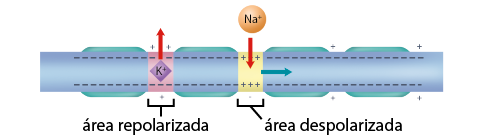
F.
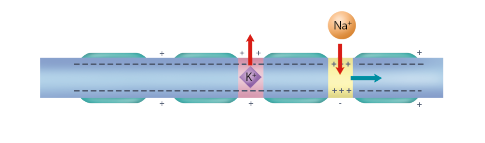
Representação das etapas (D a F) de geração e transmissão de impulso nervoso em neurônio com extrato mielínico.
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 246.
Os impulsos nervosos são transmitidos de um neurônio a outro. A maioria dessas células ficam próximas entre si, mas sem contato físico entre as suas membranas. Assim, o impulso nervoso é transmitido do axônio de um neurônio aos dendritos de outro por meio de sinapses, na chamada transmissão sináptica.
Página 328
O neurônio que transmite a informação, ou seja, o sinal elétrico, é o neurônio pré-sináptico. Já o que recebe o sinal é o neurônio pós-sináptico. Esses dois neurônios são separados por um espaço chamado fenda sináptica. As sinapses podem ser elétricas ou químicas. Nas sinapses elétricas, o impulso nervoso propaga-se diretamente entre as membranas plasmáticas de neurônios adjacentes por meio de estruturas chamadas junções comunicantes✚.
Dica
Você pode simular a geração do impulso nervoso acessando o link a seguir.
https://s.livro.pro/mlchqs. Acesso em: 25 out. 2024.
As sinapses químicas são as que ocorrem mais frequentemente. Nelas, o impulso nervoso de um neurônio pré-sináptico estimula a liberação de moléculas chamadas neurotransmissores na fenda sináptica, os quais geram um impulso nervoso no neurônio pós-sináptico. O efeito dos neurotransmissores é momentâneo, pois são degradados por enzimas na fenda sináptica, um espaço entre o botão terminal sináptico e a placa motora terminal.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
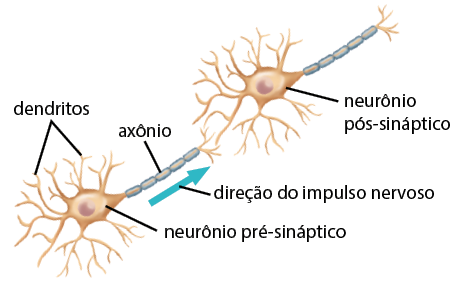
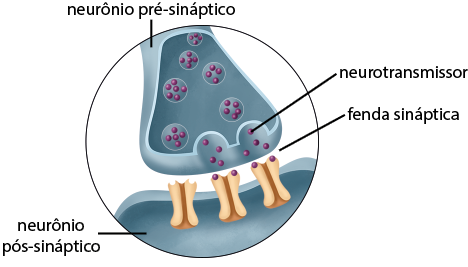
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 248
Um neurônio motor também pode transmitir impulsos elétricos para um músculo esquelético, gerando um potencial de ação muscular, como na junção neuromuscular.
Na junção neuromuscular ocorre a transmissão de impulso nervoso entre um neurônio motor e uma fibra muscular esquelética, causando sua contração. Nos músculos esqueléticos, o axônio dos neurônios se divide em ramificações chamadas terminais axônicos, que se alargam em dilatações chamadas botões terminais sinápticos, os quais contêm vesículas com neurotransmissores. A região da fibra muscular próxima ao terminal axônico é conhecida como placa motora terminal.
A.
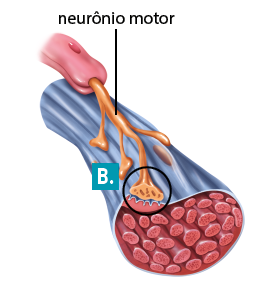
B.
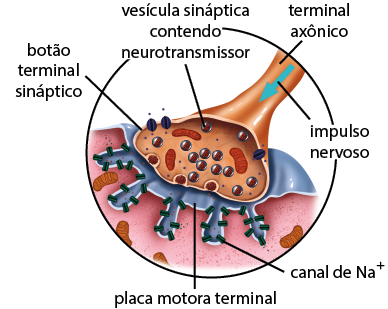
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 189.
A. Quando o impulso nervoso chega aos botões terminais sinápticos, por meio do neurônio motor, ocorre a liberação de neurotransmissores que se difundem para a fenda sináptica.
B. A ligação do neurotransmissor ao seu receptor, na placa motora terminal, abre canais, principalmente de N a sobrescrito mais, permitindo que esse íon entre pela membrana plasmática da fibra muscular. A entrada de íons sódio gera um potencial de ação muscular, que se propaga ao longo da fibra muscular, provocando sua contração.
- Junções comunicantes:
- estruturas tubulares que ligam um neurônio ao outro e possibilitam o fluxo de íons entre eles, estando presentes, por exemplo, no músculo cardíaco e no encéfalo; a condução e a coordenação são rápidas. ↰
Página 329
Hormônios
Além do sistema nervoso, a coordenação e a execução de diversas funções e movimentos envolvem a participação do sistema endócrino. Esse sistema é composto de células e glândulas que produzem e eliminam substâncias que podem ser lançadas na superfície do corpo, em cavidades e no meio que envolve as células. Nesse último caso, as substâncias são chamadas hormônios e se difundem para a corrente sanguínea.
Professor, professora: Explique aos estudantes que, em geral, a ação do sistema nervoso é rápida, já a do sistema endócrino demora um pouco mais para surtir efeito, porém é mais duradoura e ocorre até que o hormônio seja removido do sangue.
A secreção de hormônios pelas glândulas pode ser regulada por três tipos distintos de mecanismos: sinais enviados pelo sistema nervoso, alterações nas concentrações químicas de determinadas substâncias no sangue e por outros hormônios. A seguir, vamos conhecer algumas glândulas e hormônios do corpo humano.
- O hipotálamo é a principal conexão entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Suas células produzem diversos hormônios que desempenham diversas funções no organismo, controlando, inclusive, outras glândulas, como a adeno-hipófise.
- A hipófise é uma glândula que
se liga ao hipotálamo e apresenta duas porções: adeno-hipófise e neuro-hipófise. Devido à grande
variedade de hormônios produzidos pela hipófise, ela atua no controle de diversas atividades,
órgãos e, inclusive, outras glândulas.
Entre os hormônios produzidos pela hipófise, podemos citar: o hormônio do crescimento (GH), que estimula o crescimento e a divisão de determinadas células, como as dos ossos e dos músculos; o hormônio estimulante da glândula tireoide (TSH), que estimula a produção e a secreção dos hormônios da tireoide; a prolactina, hormônio que estimula a produção de leite nas glândulas mamárias; a ocitocina, que estimula a liberação do leite produzido nas glândulas mamárias e, durante o parto normal, estimula as contrações do útero, necessárias para o nascimento do bebê; o hormônio antidiurético (ADH), que age nos rins, nos quais estimula a reabsorção de água, resultando na formação de menor volume de urina.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
A.
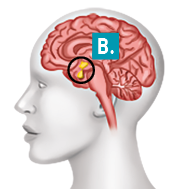
B.
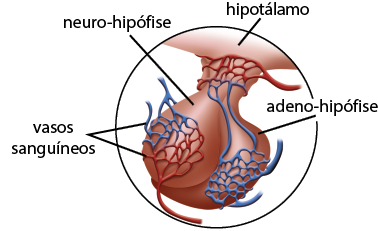
As suprarrenais estão localizadas sobre cada um dos rins e são responsáveis por produzir e secretar vários hormônios, como o cortisol e a adrenalina. O cortisol atua na regulação de várias reações do metabolismo e na coordenação de respostas que preparam o organismo para enfrentar situações de alerta ou estresse. Já a adrenalina prepara o corpo humano para situações de luta ou fuga, alterando os batimentos cardíacos, o fornecimento de gás oxigênio aos músculos e encéfalo, a frequência respiratória, a transpiração, o sistema digestório, entre outras.
Professor, professora: As glândulas suprarrenais têm duas regiões: a medula, mais interna, e o córtex, mais externo. Essas regiões variam quanto aos tipos de hormônios que produzem.
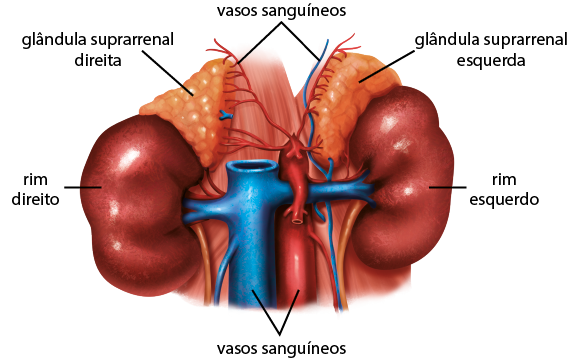
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 328, 340.
Página 330
- A tireoide é uma glândula que secreta três hormônios: calcitocina, tiroxina (conhecido como T subscrito 4) e tri-iodotironina (conhecido como T subscrito 3). A calcitocina relaciona-se com a formação dos ossos. Já os hormônios T subscrito 3 e T subscrito 4 atuam na regulação do metabolismo do corpo e, com outros hormônios, também estimulam o crescimento e o desenvolvimento do organismo, em especial do sistema nervoso.
- As paratireoides são quatro pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide. Essas glândulas produzem e secretam o paratormônio, que atua na regulação da absorção de sais de cálcio. Elas também coordenam processos de formação e modelam os ossos, além de influenciar a coagulação sanguínea e a contração muscular.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
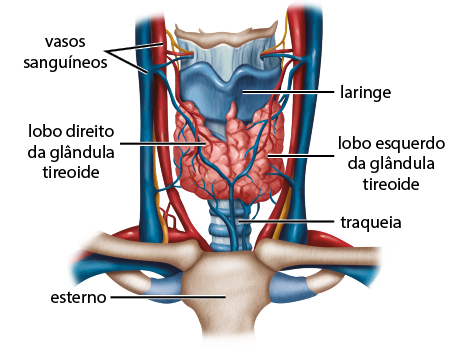
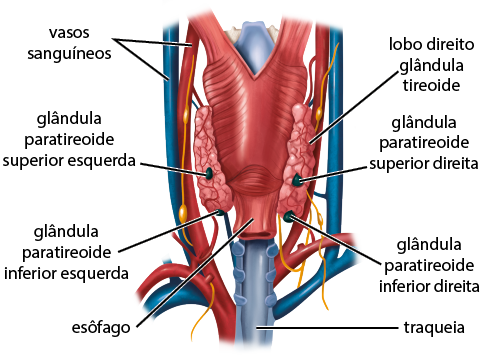
O pâncreas produz diferentes substâncias, entre elas, hormônios como o glucagon e a insulina. O glucagon estimula o aumento na concentração de glicose no sangue, enquanto a insulina colabora na redução da concentração de glicose no sangue.
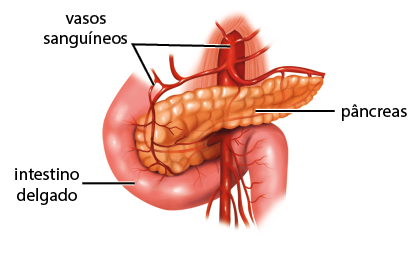
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 333, 335, 337.7
Ao analisar as imagens das glândulas apresentadas anteriormente é possível notar a íntima relação dessas glândulas com os vasos sanguíneos.
2. Qual é a importância da associação de vasos sanguíneos às glândulas?
Resposta: Os vasos sanguíneos são responsáveis por transportar e distribuir os hormônios de seu local de produção (glândulas) até as células-alvo.
Embora cada glândula produza hormônios específicos, há situações em que diferentes glândulas e hormônios são envolvidos. Por exemplo, em uma situação de intensa atividade física ou de estresse, notam-se algumas alterações fisiológicas no organismo que sustentam esse estado e garantem o funcionamento adequado do organismo. Acompanhe o exemplo a seguir.
- Durante atividade física intensa, o hipotálamo sinaliza os nervos das glândulas suprarrenais para a liberação de hormônios que levem a alterações fisiológicas para sustentar esse tipo de atividade ao mesmo tempo que reduz outras funções corporais, como a digestão.
- As medulas das glândulas suprarrenais recebem estímulos do hipotálamo para que produzam e liberem epinefrina (adrenalina) e norepinefrina (noradrenalina). Esses hormônios promovem o aumento da frequência cardíaca e da força de contração, bem como a elevação da frequência respiratória, que aumenta a taxa de ventilação pulmonar e, consequentemente, de trocas gasosas. Observa-se também a dilatação de vasos sanguíneos que suprem órgãos como coração, músculos esqueléticos e fígado, visando maior fluxo sanguíneo, e aumento da taxa de glicose no sangue, visando garantir a produção adequada de A T P.
Página 331
Receptores sensoriais
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
O sistema nervoso também possibilita ao ser humano perceber o ambiente ao redor. Nesse caso, tal sistema atua na percepção de estímulos luminosos, sonoros, mecânicos e químicos.
Essa capacidade de percepção está relacionada à existência de receptores sensoriais em órgãos específicos do corpo humano. Esses receptores são neurônios e, portanto, capazes de transformar estímulos em sinais elétricos, transmitidos por meio de nervos até a parte central do sistema nervoso, onde ocorre a interpretação desses sinais. De acordo com o tipo de estímulo que detectam, os receptores sensoriais podem ser de diferentes tipos. É sobre esse assunto que vamos estudar a seguir.
Quimiorreceptores
Professor, professora: Ao abordar os quimiorreceptores, explique aos estudantes que esse tipo de receptor também detecta a presença de determinadas substâncias em líquidos do corpo, como o sangue.
Os quimiorreceptores são capazes de detectar substâncias químicas e estão em órgãos sensoriais, como língua e nariz, nos possibilitando sentir gostos e cheiros, por exemplo.
3. Quais são os cinco gostos que podem ser percebidos por meio do paladar?
Resposta: Amargo, doce, azedo (ácido), salgado e umami.
A.
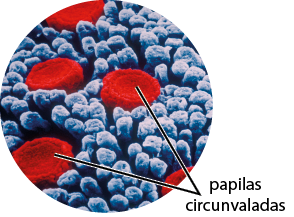
B.
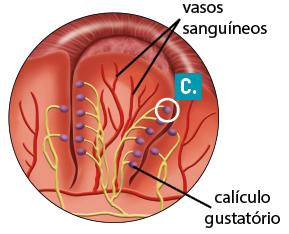
C.
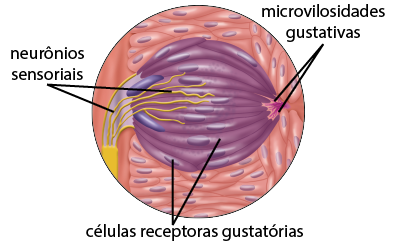
A. A língua apresenta pequenas elevações chamadas papilas, que podem ser de diferentes tipos, como as circunvaladas.
B. As substâncias percebidas por meio do paladar se dissolvem na saliva e penetram entre as papilas, atingindo os calículos gustatórios, estruturas presentes nas papilas circunvaladas.
C. As substâncias dissolvidas na saliva atingem as microvilosidades das células receptoras, que, quando estimuladas, liberam neurotransmissores nos neurônios com os quais faz sinapse. Por meio de nervos, tais receptores enviam impulsos nervosos ao encéfalo, onde são processados e o gosto da substância é identificado.
Professor, professora: Ao abordar a micrografia da superfície da língua, se considerar pertinente, comente com os estudantes que as outras estruturas apresentadas na imagem, permeando as papilas circunvaladas, são papilas filiformes, as quais não são associadas ao paladar, mas sim a funções táteis da língua.
Agora, vamos estudar como ocorre a percepção dos odores. Confira a seguir.
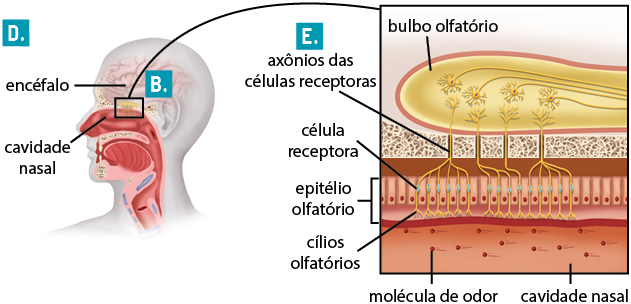
Representação da parte superior do sistema respiratório humano, em corte sagital, com destaque para região do epitélio olfatório (B).
Representação do epitélio olfatório. Imagem ampliada cerca de 20 vezes em relação à imagem A.
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 299, 301.
D. As substâncias químicas dissolvidas no ar e inspiradas atingem o epitélio olfatório, na região superior da cavidade nasal.
E. As substâncias químicas são captadas pelos cílios olfatórios, presentes nas células receptoras do epitélio olfatório. As substâncias químicas dissolvem-se no muco, presente na cavidade nasal, e estimulam as células receptoras, gerando um impulso nervoso que é encaminhado ao encéfalo por meio dos nervos olfatórios, presentes no bulbo olfatório.
Página 332
Mecanorreceptores, termorreceptores e nociceptores
Os mecanorreceptores são receptores sensíveis a estímulos mecânicos e estão relacionados a sensações como pressão, tato, vibração, audição e equilíbrio. Os termorreceptores detectam alterações na temperatura. Já os nociceptores estão relacionados à resposta de dor, resultante de danos químicos ou físicos aos tecidos do corpo. Esses diferentes tipos de receptores são encontrados em órgãos como pele e orelhas.
As sensações táteis, como tato, pressão, vibração, prurido e cócegas, assim como as sensações térmicas e dolorosas, são percebidas por meio de diferentes receptores sensoriais existentes na pele e na tela subcutânea. O estímulo desses receptores leva à geração de impulsos nervosos que são transmitidos ao encéfalo, identificando a região do corpo de onde veio o estímulo e podendo gerar uma resposta a ele.
Os receptores sensoriais da pele são de diferentes tipos e estão associados a percepções distintas.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
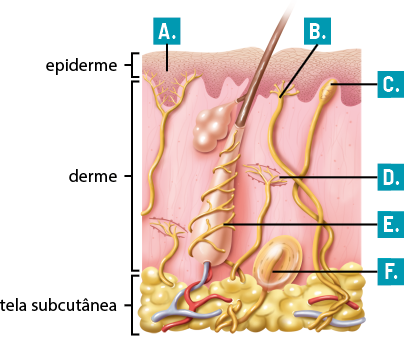
A.Terminação nervosa livre – dendritos sem revestimento e, portanto, considerados os receptores sensoriais mais simples. Estão relacionados à percepção de dor, prurido, cócegas, frio ou calor.
B.Mecanorreceptor cutâneo tipo I – percepção de toque tátil discriminatório e pressão.
C.Corpúsculo tátil – percepção de toque tátil discriminatório, pressão e vibração lenta.
D.Mecanorreceptor cutâneo tipo II – percepção de toque tátil não discriminatório e alongamento da pele.
E.Plexo da raiz do pelo – percepção de toque tátil não discriminatório.
F.Corpúsculo lamelado – percepção de pressão e vibração rápida.
As orelhas apresentam tanto receptores sensoriais para ondas sonoras quanto para equilíbrio. Acompanhe a seguir como ocorre a percepção dos estímulos sonoros.
G.
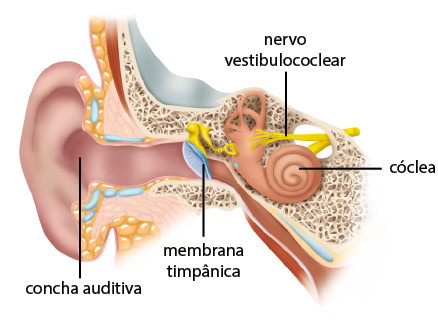
H.
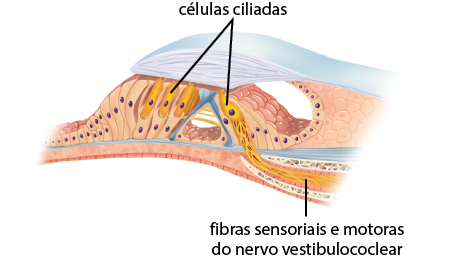
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 295, 311, 312.
G. As ondas sonoras são captadas pela concha auditiva e encaminhadas até o tímpano, vibrando essa membrana. Essa vibração é transferida às demais estruturas da orelha interna até atingir a cóclea, onde se encontra o órgão de Corti.
H. O órgão de Corti é preenchido por um líquido e apresenta células ciliadas cujas extremidades se estendem para a endolinfa, que preenche o ducto coclear. Quando estimuladas pela vibração, as células ciliadas liberam neurotransmissores nas sinapses que fazem com os neurônios sensoriais, os quais geram o impulso nervoso e o transmitem ao nervo vestibulococlear.
Página 333
Sistema braile
Criado em 1825 pelo educador francês Louis Braille (1809-1852), o sistema braile é um método que possibilita às pessoas com deficiência visual, por exemplo, ler usando o sentido do tato. Esse sistema consiste em arranjos de seis pontos em relevo (duas colunas, três pontos cada), os quais possibilitam a formação de 63 símbolos diferentes, utilizados para escrever palavras.
Com as pontas dos dedos sobre pontos em relevo, a maioria dos leitores que domina esse sistema consegue ler, em média, 104 palavras por minuto. O sistema braile pode ser usado como uma importante ferramenta de comunicação e de acesso ao conhecimento, às culturas e às artes.
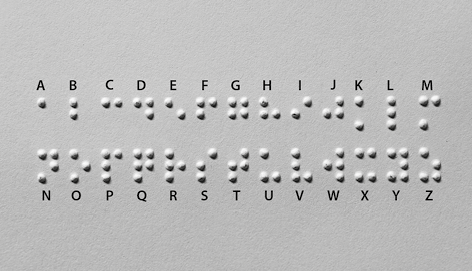

Livros didáticos elaborados no sistema braile são essenciais à inclusão e à garantia de direitos humanos. Isso porque possibilitam que estudantes com deficiência visual tenham acesso à educação, um dos direitos humanos previstos no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
a ) Que tipos de estímulos e receptores sensoriais estão associados ao sentido necessário para a leitura no sistema braile?
Resposta: Espera-se que os estudantes respondam que, no sistema braile, o estímulo tátil é a pressão das pontas dos dedos sobre os pontos em alto-relevo. Os responsáveis por responder a esse tipo de estímulo são os mecanorreceptores presentes na pele.
Fotorreceptores
Os fotorreceptores são capazes de perceber estímulos luminosos e estão localizados nos olhos. No ser humano, existem dois tipos de células receptoras: os cones e os bastonetes. Os cones relacionam-se com a visão de cores, e os bastonetes, com a visão em locais com baixa luminosidade.
Acompanhe a seguir como ocorre a percepção de estímulos luminosos.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
A.
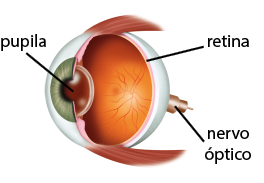
B.
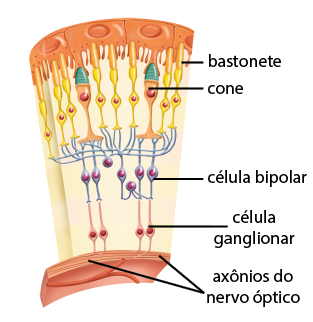
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 304, 305.
A. Ao penetrar nos olhos, via pupila, os raios luminosos atingem a retina, onde há fotorreceptores.
B. Na retina, a luz é absorvida por pigmentos existentes nas células receptoras (cones e bastonetes), causando alterações internas que geram sinais elétricos. Esses sinais são transferidos às células bipolares e, em seguida, às células ganglionares, as quais sofrem despolarização e geram o impulso nervoso, encaminhado ao encéfalo pelo nervo óptico.
Página 334
CONEXÕES com ... FÍSICA
Humanoides
A ficção científica é um gênero literário caracterizado por retratar situações fictícias e imaginárias a respeito de ciência e tecnologia. Um exemplo de filme desse gênero é Ex Machina: instinto artificial. Ele narra a história de Ava, um robô humanoide dotado de inteligência artificial e criado para ser semelhante física e emocionalmente aos seres humanos. Ao longo da trama, são levantadas diversas situações que instigam reflexões sobre a relação entre ser humano e máquina.
a ) Compartilhe com os colegas o que você sabe de inteligência artificial e robôs humanoides.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a compartilhar seus conhecimentos sobre o tema.
Impensável há alguns anos, a inteligência artificial já faz parte do cotidiano, como em softwares que interpretam comandos de voz e realizam tarefas, assistentes virtuais de telemarketing e algoritmos de navegadores.

Embora o robô humanoide Ava, do filme citado, seja uma criação cinematográfica, o uso de inteligência artificial em situações do dia a dia e o desenvolvimento de robôs cada vez mais semelhantes aos seres humanos é uma realidade. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir.
Professor, professora: Explique aos estudantes que no texto citado o termo homem foi usado para se referir à espécie Homo sapiens, e não ao gênero masculino.
[...]
A inteligência artificial (IA) representa um conjunto de ferramentas e tecnologias que estão transformando as operações e os resultados em diversos campos e setores, desde a saúde até o transporte, a agricultura e a arte. A IA está moldando cada vez mais a vida cotidiana das pessoas em todo o mundo, incluindo a maneira como trabalhamos, nos organizamos e interagimos como seres humanos. [...]
[...]
Ao usar o termo "IA", especialmente quando nos referimos a IA aplicada, devemos lembrar que a IA não é uma força ou um conceito autônomo que aparecera como mágica entre nós. Assim como as ferramentas feitas pelo homem há muito tempo, a IA é alimentada por materiais físicos e governada por nossas escolhas. Os sistemas são o que fazemos deles, e eles necessitam do nosso mundo físico para funcionar – além do fato não menos importante da grande quantidade de energia que esses sistemas consomem. Portanto, devemos lembrar que há pessoas por trás das tecnologias e que os recursos naturais também estão em jogo no mundo digital.
[...]
[...] com frequência, discute-se a interligação da IA com o campo da robótica. Embora às vezes sejam discutidos como sinônimos, a IA e a robótica podem ser relacionadas, mas não estão necessariamente. Os robôs nem sempre aproveitam as tecnologias de IA, e as tecnologias de IA nem sempre necessitam de uma forma física (na verdade, na maioria das vezes não). No entanto, no setor de manufatura, a IA está intimamente ligada ao domínio da robótica, onde os dois campos se combinam e se auxiliam, por exemplo, na manutenção preditiva, na otimização da cadeia de suprimentos e na garantia de qualidade da fabricação de produtos de diversos tamanhos e tipos de carros a computadores.
[...]
UNESCO. Reportagens sobre inteligência artificial: um manual para educadores de jornalismo. Paris/Brasília, 2024. p. 29-31.
Humanoides são robôs com aparência humana e capazes de realizar certas ações e movimentos inerentes aos seres humanos. Com o auxílio da inteligência artificial, essas máquinas conseguem se comunicar, ouvir e responder, interagindo com o ambiente ao redor delas, por exemplo.
Em razão do avanço em diversas áreas, como a Mecânica, os robôs atuais estão cada vez mais aptos a reproduzir movimentos semelhantes aos dos humanos. Há, inclusive, especialistas que defendem que, futuramente, robôs humanoides poderão substituir seres humanos em várias atividades que envolvam ações repetitivas, em diferentes setores da sociedade.
Página 335
Por conta da possibilidade de aplicação de robôs humanoides na realização de certos serviços, diferentes empresas têm investido nessa área. Confira os exemplos a seguir.
O robô humanoide criado por uma empresa estadunidense é capaz de agachar, cair, levantar e realizar diversos movimentos, mantendo, inclusive, o equilíbrio, uma característica biológica.

O robô humanoide criado por uma empresa britânica é considerado um dos mais realistas quanto a aspectos físicos humanos. Apesar de não andar, é capaz de conversar e transmitir emoções por meio de movimentos faciais e gestuais semelhantes aos realizados pelos seres humanos.
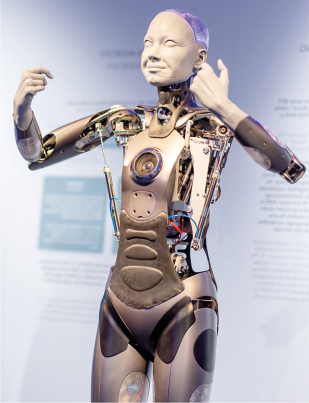
Alguns robôs humanoides atuais são capazes de realizar vários movimentos mantendo o equilíbrio. Isso é possível porque, para se manter em pé, o centro de gravidade do robô deve ficar na mesma linha dos apoios no chão (pés do robô). Quando o robô anda ou carrega objetos, é necessário que sejam feitos ajustes para compensar as mudanças na posição do centro de gravidade, assim como nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Por exemplo, quando o robô pega um objeto pesado à frente do corpo, ele inclina o tronco um pouco para trás, o que é considerado um avanço na engenharia de robôs.
Além de ser utilizada no desenvolvimento de robôs humanoides, a inteligência artificial tem sido empregada na criação de próteses, como pernas biônicas feitas por engenheiros da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. As próteses têm motores, processadores e inteligência artificial, que, juntos, facilitam os movimentos dos amputados, como andar, levantar, sentar, subir ou descer escadas e rampas.
Pessoas com membros inferiores amputados, geralmente, fazem muita força na parte superior do corpo ao utilizarem próteses comuns. A prótese com inteligência artificial compensa essa força, facilitando o deslocamento, uma vez que a perna biônica é composta de articulação robótica no joelho, no tornozelo e nos dedos do pé, o que fornece mais estabilidade e conforto ao andar.
Isso demonstra uma das potencialidades do uso da inteligência artificial na saúde, aliada a estudos de Engenharia e Mecânica.
b ) O que é inteligência artificial?
Resposta: É um tipo de sistema que armazena, analisa e organiza os dados. É capaz de entender conceitos e identificar objetos, seres vivos, padrões e reações e pode aprender a ponto de tomar decisões mais complexas.
c ) Apesar de muitas pessoas terem receio dos avanços da inteligência artificial e de como isso poderia substituir os seres humanos no trabalho, há profissões relacionadas à inteligência artificial que necessitam de ações humanas. Realize uma pesquisa e liste em seu caderno algumas dessas profissões.
Resposta: Os estudantes podem citar: gerente de transformação digital, especialista em cibersegurança de inteligência artificial, analista de dados avançados e engenheiro de manufatura com automação inteligente.
d ) Você acredita que os robôs humanoides podem substituir os seres humanos, tomando seus empregos? Considera que é necessário estipular regras para seu uso? Converse sobre isso com os colegas.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a trocar ideias sobre o futuro dos empregos e sua associação com a tecnologia. Eles podem comentar que há necessidade de estipular limites para o uso dessas tecnologias, mas que também é preciso incentivar seu uso em diferentes áreas.
e ) Em que atividades você considera que robôs humanoides poderiam ser usados no futuro?
Resposta pessoal. Os estudantes podem citar: nos serviços de limpeza perigosos, na manutenção de máquinas e na Medicina.
Página 336
ATIVIDADES
1. Sobre o sistema nervoso, responda às questões a seguir.
a ) Quais são as divisões do sistema nervoso?
Resposta: Parte central e parte periférica.
b ) Qual é a importância para o organismo de cada divisão do sistema nervoso citada no item a?
Resposta: A parte central do sistema nervoso recebe estímulos de diferentes partes do corpo humano, interpretando-os e gerando respostas. Já a parte periférica desse sistema encaminha impulsos nervosos até a parte central e transmite as respostas aos diferentes órgãos e estruturas do corpo humano.
2. Observe a célula a seguir.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
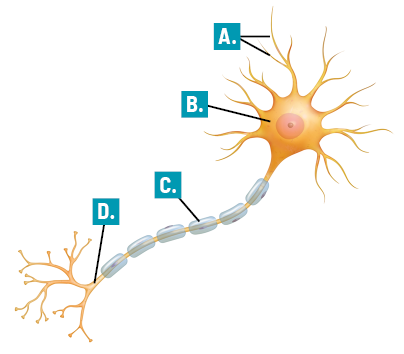
a ) Qual é a importância desse tipo celular para o funcionamento do corpo humano?
Resposta: Essa célula gera e transmite impulsos nervosos.
b ) Identifique cada parte indicada na imagem, descrevendo a sua importância.
Resposta: Dendritos (A): prolongamentos geralmente curtos e bastante ramificados, que recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios. Corpo celular (B): região em que se localizam o núcleo e as organelas. Extrato mielínico (C): composto de mielina, que reveste o axônio e aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. Axônio (D): prolonga- mento cilíndrico, que conduz impulsos nervosos a outras células.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
b ) Descreva a importância das seguintes partes da célula mostrada na imagem: dendritos (A ), corpo celular (B ), extrato mielínico (C) e axônio (D).
Resposta: Dendritos: prolongamentos geralmente curtos e bastante ramificados que recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios. Corpo celular: região em que se localizam o núcleo e as organelas. Extrato mielínico: composto de mielina, que reveste o axônio e aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. Axônio: prolongamento cilíndrico, que conduz impulsos nervosos a outras células.
c ) Explique, com suas palavras, o processo de geração e condução contínua de impulso nervoso.
O impulso nervoso é gerado quando um estímulo provoca a abertura de canais de N a sobrescrito mais, causando despolarização de parte da membrana plasmática. Essa despolarização interfere nos canais iônicos de porções adjacentes da membrana, causando sua despolarização, enquanto a região anterior sofre repolarização por conta da abertura de canais de K elevado a início expoente, mais, fim expoente. O processo de despolarização e repolarização ao longo da membrana plasmática promove a condução do impulso nervoso.
3. Relacione cada uma das glândulas (A a E) ao hormônio (1 a 5) que produz.
A. hipófise
B. tireoide
C. suprarrenal
D. pâncreas
E. paratireoide
1. TSH
2. adrenalina
3. paratormônio
4. insulina
5. T3
Resposta: A: 1; B: 5; C: 2; D: 4, E: 3.
4. Sobre os receptores sensoriais, responda às perguntas a seguir.
a ) O que são quimiorreceptores? Eles estão relacionados a quais sentidos do corpo humano?
Resposta: São receptores sensoriais capazes de detectar substâncias químicas e estão relacionados ao paladar e ao olfato.
b ) O que são mecanorreceptores e à percepção de quais sensações eles estão associados?
Resposta: São receptores sensíveis a estímulos mecânicos e estão relacionados a sensações como pressão, tato, vibração, audição e equilíbrio.
c ) Qual é a importância dos termorreceptores?
Resposta: Esses receptores detectam alterações na temperatura.
5. Em algumas situações, por exemplo, durante a prática de esportes radicais como bungee-jump, o corpo passa por uma situação de estresse, que causa mudanças fisiológicas, como dilatação das pupilas, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, promovendo maior fluxo sanguíneo.

Que hormônios estão envolvidos nas mudanças fisiológicas citadas anteriormente e como cada um desses hormônios atua no organismo?
6. Ao longo do tempo, a ortopedia teve grandes avanços, como o desenvolvimento de membros biônicos que substituem partes do corpo humano por aparelhos robóticos. Isso possibilita às pessoas que utilizam esse membro realizar movimentos muitas vezes minuciosos.

a ) Os membros biônicos, como o mostrado na imagem, são compostos de diferentes tipos de materiais e peças, que, juntos, desempenham o papel de quais sistemas do corpo humano? Justifique sua resposta.
b ) Qual é a importância da tecnologia para o desenvolvimento de membros biônicos? Se necessário, faça uma pesquisa.
c ) Equipamentos mais recentes possibilitam a percepção do tato. Nesse caso, as sensações táteis são captadas por sensores nos membros biônicos e enviados ao encéfalo sob a forma de sinais elétricos. No corpo humano, a que se referem tais sensores e sinais elétricos citados? Explique a importância deles para a transmissão de informação no organismo humano.
Respostas das questões 5 e 6 nas Orientações para o professor.
Página 337
CAPÍTULO19
Corpo humano: nutrição e reprodução
Nutrição humana
Ao longo da história evolutiva, a dieta rica em vegetais e pobre em carnes foi se modificando nos ancestrais mais próximos dos seres humanos modernos (Homo sapiens), os quais passaram a consumir mais produtos de origem animal.
De acordo com evidências científicas, as mudanças nos hábitos alimentares dos hominíneos podem ter sido decisivas para a evolução humana. Essas mudanças não ocorreram ao acaso, mas em razão de pressões ambientais, como as mudanças na paisagem africana, as quais podem ter limitado a disponibilidade de alimentos de origem vegetal. Além disso, a ampliação dos ambientes de savana favoreceu a abundância de mamíferos, como antílopes e gazelas, que poderiam servir de alimento para os ancestrais dos seres humanos.
1. Quais alimentos contêm mais calorias: carnes ou verduras?
Resposta: Carnes.
2. Em sua opinião, como a ingestão de maior quantidade de carne pode ter influenciado a evolução humana?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes e levá-los a refletir sobre o tema. Eles podem relacionar a mudança na dieta contendo mais calorias ao aumento do encéfalo. Além disso, eles podem associar a maior disponibilidade de energia à realização de tarefas diversas e ao deslocamento envolvendo distâncias maiores.
Então, como essas mudanças na alimentação interferiram na evolução humana? Os alimentos de origem animal contêm mais calorias do que os de origem vegetal. Assim, estudos associam o aumento no consumo de carnes e, por consequência, de calorias, ao aumento no tamanho do encéfalo, pois o tecido nervoso consome muita energia. Desse modo, a inclusão de mais carne na dieta possibilitaria um aumento do encéfalo, antes limitado por uma dieta menos energética. Confira a seguir.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
1,20%

afarensis
1,36%

africanus
1,17%

boisei
1,56%

robustus
1,58%

habilis
1,46%

erectus
1,69%
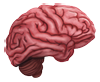
heidelbergensis
1,98%

neanderthalensis
2,75%

sapiens
Representação de encéfalos de diferentes hominíneos. Nessa imagem, as porcentagens indicam a proporção da massa corporal correspondente ao encéfalo.
Imagem elaborada com base em: ROBERTS, Alice. Evolution: the human history. New York: DK Publishing, 2011. p. 32.
Ao observar a imagem anterior, repare na diferença de proporção que o encéfalo de cada espécie tem em relação ao próprio corpo hominíneo.
O desenvolvimento de encéfalos maiores favoreceu, por exemplo, comportamentos mais complexos, como o de utilizar fogo. Essa habilidade interferiu na preparação de alimentos, tornando-os mais macios, facilitando a mastigação e aumentando a quantidade de nutrientes energéticos disponíveis em alguns tubérculos após o cozimento.
Independentemente da dieta, todos os animais precisam ingerir alimentos que forneçam energia e nutrientes necessários ao crescimento, à manutenção do organismo e à regulação de diversas funções no corpo.
Página 338
A nutrição humana é um processo que envolve a obtenção, o processamento e o uso dos nutrientes e da energia provenientes dos alimentos, dependendo do trabalho conjunto de diferentes sistemas do corpo humano. Para que as células do corpo absorvam os nutrientes dos alimentos, é necessário que eles sejam quebrados em componentes menores durante o processo de digestão. Após a absorção das substâncias nutritivas e da água, aquilo que não pode ser utilizado pelo corpo é eliminado por meio das fezes.
3. Qual é o principal papel dos processos químicos e mecânicos que ocorrem durante a digestão dos alimentos?
Resposta: Espera-se que os estudantes citem que esses processos são importantes para transformar os nutrientes em moléculas menores, passíveis de serem absorvidas e utilizadas pelas células do corpo humano.
4. Que processos devem ocorrer no organismo para que os nutrientes e a energia dos alimentos sejam utilizados pelo corpo?
Resposta: Para a absorção e o uso dos nutrientes e da energia, é necessário que os alimentos sejam previamente digeridos. Em seguida, os nutrientes devem ser absorvidos e transportados até as células, nas quais serão transformados, via respiração celular, em moléculas utilizáveis de energia (ATP).
Digestão e absorção de nutrientes
O sistema digestório é o responsável pela ingestão e digestão dos alimentos, pela absorção de água e nutrientes e pela formação e eliminação das fezes.
A digestão extracelular humana envolve processos mecânicos e químicos, que se iniciam na boca.
A digestão mecânica engloba a quebra dos alimentos pelos dentes, estruturas acessórias inseridas nos ossos da mandíbula e da maxila. Eles cortam, perfuram e amassam o alimento, misturando-o à saliva com o auxílio da língua, que também ajuda na deglutição.
A digestão química inicia-se por meio da ação das enzimas presentes na saliva, produzida e secretada na boca pelas glândulas salivares. A ação das enzimas sofre influência de diferentes fatores, como o pH (potencial hidrogeniônico). Por isso, ao longo do processo de digestão, são observadas variações de pH no interior das estruturas componentes do sistema digestório. A amilase salivar ou ptialina, por exemplo, presente na saliva, atua na quebra de moléculas de amido em pH neutro ou levemente básico.
Como resultado da ação dos dentes e da mistura com a saliva, o alimento adquire uma consistência pastosa e passa a ser denominado bolo alimentar. Ele é deglutido, ou seja, empurrado com o auxílio da língua para a faringe, estrutura que liga a boca ao esôfago.
O esôfago é um órgão muscular em forma de tubo constituído de músculos lisos, cujas contrações involuntárias, denominadas movimentos peristálticos, empurram o alimento até o estômago.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
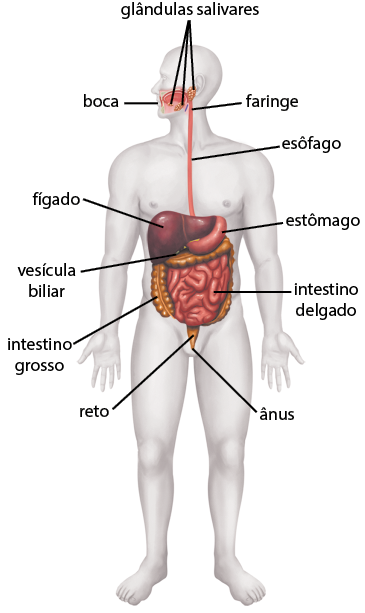
Imagem elaborada com base em: TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. p. 434. PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia humana: órgãos internos. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. v. 2. p. 86.
O estômago, por sua vez, é um saco muscular expandido cuja atividade peristáltica contribui para que eventuais partículas maiores ainda persistentes sejam quebradas mecanicamente, além de facilitar a mistura do suco gástrico ao bolo alimentar. O pH estomacal é ácido abre parênteses p H é aproximadamente igual a 2 fecha parênteses, sendo responsável por transformar o pepsinogênio em pepsina, a forma ativa da enzima presente no suco gástrico, e ativar a lipase lingual, produzida na forma inativa por glândulas presentes na língua. Além disso, o pH ácido inativa a amilase salivar. A pepsina atua na quebra das ligações químicas das proteínas, iniciando a digestão desse tipo de nutriente. Já a lipase lingual e a lipase gástrica iniciam a digestão dos lipídeos.
Dica
No link a seguir, você pode simular alterações de pH de diferentes materiais do dia a dia e de fluidos corporais, como o sangue.
https://s.livro.pro/bi31ky. Acesso em: 25 out. 2024.
Professor, professora: Comente com os estudantes que o fígado exerce um importante papel na nutrição humana, pois metaboliza carboidratos, lipídeos e proteínas. Nesse sentido, ele atua, por exemplo, no armazenamento de tais nutrientes e na disponibilização deles às células. O fígado também auxilia na transformação das substâncias em energia utilizável pela célula.
Página 339
As enzimas presentes no estômago atuam na digestão química do bolo alimentar e o transformam em um material de consistência mais líquida, denominado quimo, que segue para o intestino delgado.
As células do intestino delgado secretam o suco intestinal, composto de enzimas e muco. Esse suco tem pH levemente alcalino abre parênteses p H é aproximadamente igual a 7 vírgula 6 fecha parênteses e neutraliza a acidez do quimo, protegendo a parede intestinal. Além disso, o intestino delgado recebe do pâncreas o suco pancreático, uma mistura que contém diversas enzimas, as quais atuam na digestão de amido (amilase pancreática), proteínas (tripsina, quimotripsina e carboxipeptidase), lipídeos (lipase pancreática) e ácidos nucleicos (ribonucleases e desoxirribonucleases). O pH do suco pancreático é levemente básico (entre 7,1 e 8,2), o que inativa a pepsina e ativa as enzimas intestinais citadas anteriormente.
O intestino delgado também recebe a bile, secreção produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. A bile atua na emulsificação✚ de gorduras, facilitando, assim, a atuação de enzimas.
Além da digestão, o intestino delgado absorve cerca de 90% da água e dos nutrientes. A absorção envolve a passagem de pequenas moléculas pelas células epiteliais do intestino, passando para o interior de vasos sanguíneos e linfáticos. Ao entrar na circulação sanguínea, por exemplo, esses nutrientes são transportados e distribuídos a diferentes partes do corpo humano.
A elevada capacidade absortiva do intestino delgado está relacionada à presença de estruturas que aumentam a superfície intestinal.
O revestimento interno do intestino delgado tem várias pregas, que aumentam ainda mais a superfície de absorção desse órgão.
Os tecidos mais superficiais das pregas do intestino delgado têm projeções denominadas vilosidades, que também aumentam a área de absorção desse órgão.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
A.
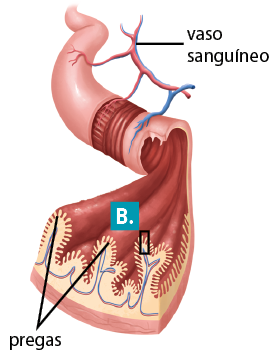
B.
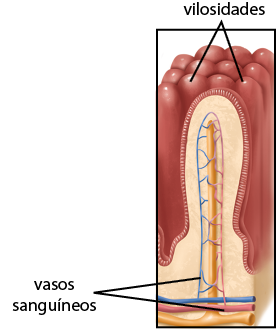
Imagens elaboradas com base em: CAMPBELL, Neil A. et al. Biology. 8. ed. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings, 2009. p. 889.
No intestino delgado, são encontradas células especializadas na absorção de nutrientes, que têm projeções na membrana plasmática, denominadas microvilosidades, o que amplia a superfície de absorção de nutrientes.
Os nutrientes absorvidos pelas células epiteliais do intestino passam para os vasos sanguíneos e linfáticos adjacentes.
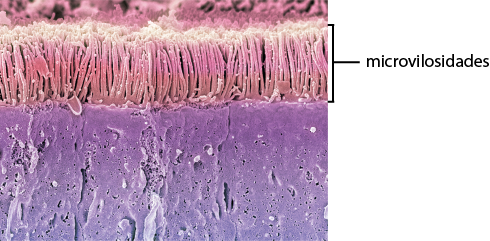
Após passar pelo intestino delgado, os nutrientes que não foram absorvidos chegam ao intestino grosso. Nele, por ação de bactérias, ocorre a digestão final de alguns materiais, produção de algumas vitaminas, absorção de mais nutrientes e formação e expulsão das fezes.
- Emulsificação:
- neste caso, ação de quebrar moléculas grandes de gordura, transformando-as em moléculas menores.↰
Página 340
Para serem absorvidos, os nutrientes precisam estar sob a forma de pequenas moléculas. Os carboidratos, por exemplo, são absorvidos como monossacarídeos. Já as proteínas são absorvidas como aminoácidos, dipeptídios ou tripeptídios. Dependendo do tamanho e das características da molécula, como de ser carregada eletricamente ou não, ela será absorvida por um tipo específico de transporte.
Professor, professora: Comente com os estudantes que os íons são exemplos de moléculas carregadas eletricamente.
5. Quais são os tipos de transporte que podem ocorrer nas células?
Resposta: O objetivo desta questão é retomar parte do conteúdo estudado anteriormente. Espera-se que os estudantes citem, por exemplo, por osmose, difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo.
6. Qual é a importância da estrutura da membrana plasmática no processo de absorção de nutrientes pelas células?
Resposta: O objetivo desta questão é retomar parte do conteúdo estudado anteriormente. Espera-se que os estudantes respondam que a membrana plasmática atua no controle da entrada e da saída de materiais das células, em razão de sua estrutura (bicamada lipídica, permeada por proteínas) e composição.
Transporte e distribuição de nutrientes e de gases pelo corpo
Após serem absorvidos, principalmente no intestino delgado, a água e os nutrientes passam para os capilares sanguíneos, seguindo então para a circulação porta hepática.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
O sangue proveniente do sistema digestório, rico em água e nutrientes, encaminha-se à veia porta✚ do fígado, a qual é formada pelas veias esplênica e mesentérica. Nesse órgão, os nutrientes são processados, o que os torna utilizáveis pelas células. Depois, o sangue contendo esses componentes segue para a veia cava inferior.
No sistema porta hepático, a veia esplênica recebe sangue de partes do estômago, do pâncreas e do intestino grosso. Já a veia mesentérica recebe sangue proveniente do intestino delgado, de partes do intestino grosso, do estômago e do pâncreas.
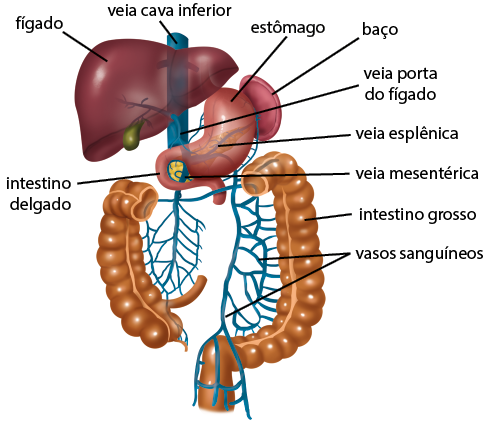
O sangue presente na veia cava inferior é encaminhado ao coração. Acompanhe a seguir.
O sangue pobre em gás oxigênio abre parênteses O subscrito 2 fecha parênteses e rico em nutrientes entra no coração pelo átrio direito, segue para o ventrículo direito e é bombeado aos pulmões, onde será oxigenado. Após as trocas gasosas, o sangue, agora rico em gás oxigênio, retorna ao coração pelo átrio esquerdo. Essa trajetória é conhecida como circulação pulmonar. Do átrio esquerdo, o sangue passa ao ventrículo esquerdo e é bombeado ao restante do corpo, percurso denominado circulação sistêmica.
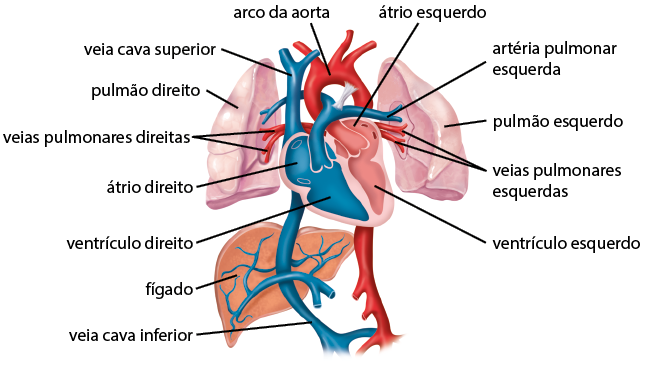
Imagens elaboradas com base em: TORTORA, Gerard J; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 414-415.
- Veia porta:
- qualquer veia que transporta o sangue de uma rede de capilares para outra; a veia porta hepática recebe o sangue dos capilares dos órgãos do sistema digestório e o distribui para o fígado.↰
Página 341
À medida que é transportado pela circulação sistêmica, alcançando as células dos diferentes tecidos, o sangue perde gás oxigênio e ganha gás carbônico abre parênteses C O subscrito 2 fecha parênteses. Assim, ao retornar para o coração, esse sangue, agora rico em gás carbônico, é direcionado aos pulmões, via circulação pulmonar, para que haja as trocas gasosas.
As trocas gasosas entre células teciduais e capilares sanguíneos, bem como entre os capilares sanguíneos e as células pulmonares, ocorrem via difusão simples, uma vez que o gás carbônico e o gás oxigênio atravessam facilmente a membrana plasmática. Para que as trocas gasosas ocorram nos pulmões, é necessária a ventilação pulmonar, que compreende os movimentos respiratórios de inspiração e expiração.
7. Diferencie inspiração de expiração.
Resposta: A inspiração é a entrada de ar nos pulmões e a expiração é a saída desse ar e consequente liberação no ambiente.
8. Qual é o caminho percorrido pelo ar ao entrar pelas narinas e chegar aos pulmões?
Resposta: Espera-se que os estudantes citem: narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões.
Ao entrar nos pulmões, o ar atmosférico chega aos alvéolos pulmonares. Nessas estruturas ocorre a respiração externa ou troca gasosa pulmonar. Acompanhe a seguir.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
O gás oxigênio presente no ar do interior dos alvéolos pulmonares atravessa, via difusão simples, a membrana plasmática dessas estruturas e dos vasos capilares sanguíneos ao seu redor, atingindo o sangue.
Simultaneamente à oxigenação do sangue, ocorre a perda de gás carbônico, o qual se difunde do sangue para o interior dos alvéolos. Deles, o C O subscrito 2 é, então, eliminado para o ambiente por meio da expiração.
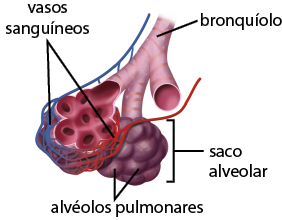
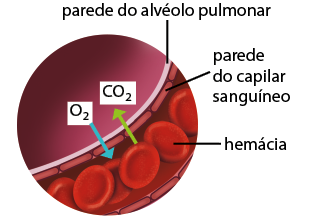
Imagens elaboradas com base em: PARKER, Steve. O livro do corpo humano. Barueri: Ciranda Cultural, 2007. p. 130, 134.
O sangue rico em gás oxigênio, proveniente dos pulmões, retorna ao coração, que o bombeia para as células dos diferentes tecidos do corpo. Nas células teciduais também ocorrem trocas dos gases oxigênio e carbônico, na denominada respiração interna ou troca gasosa sistêmica. Nesse tipo de respiração, o gás oxigênio presente no sangue difunde-se para as células teciduais, assim como o gás carbônico passa delas para o sangue. Enquanto o gás oxigênio é utilizado pelas células, o gás carbônico é encaminhado com o sangue até os pulmões.
O transporte dos gases no sangue ocorre de maneiras distintas. O gás oxigênio é pouco solúvel em água, por isso é transportado no sangue, sobretudo, ligado às hemácias, mais especificamente, associado ao pigmento hemoglobina. Já o gás carbônico, por ser cerca de 24 vezes mais solúvel em água do que o O subscrito 2, é transportado, principalmente, pelo plasma.
O C O subscrito 2 pode ser transportado de três maneiras: combinado com a hemoglobina abre parênteses H b menos C O subscrito 2 fecha parênteses, dissolvido no plasma e sob a forma de íon bicarbonato abre parênteses H C O subscrito 3 sobrescrito menos fecha parênteses. Já o O subscrito 2 é transportado de duas maneiras: dissolvido no plasma e, principalmente, associado à hemoglobina abre parênteses H b menos O subscrito 2 fecha parênteses.
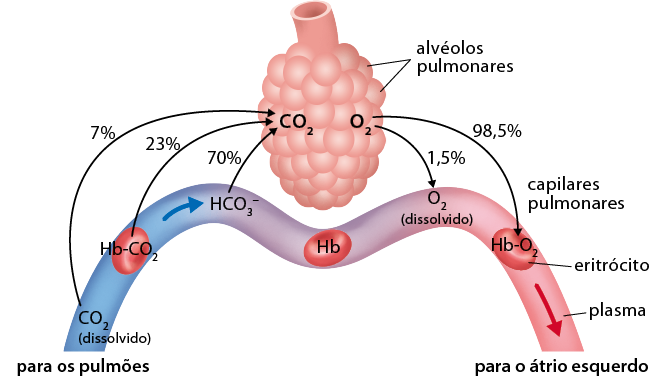
Imagem elaborada com base em: TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017 p. 464.
Professor, professora: Ao abordar os modos de transporte do C O subscrito 2, comente com os estudantes que os íons bicarbonato participam da manutenção do pH do sangue. Uma maior concentração desses íons resulta em um pH mais ácido e uma menor concentração, em um pH mais básico.
Página 342
Transformações de energia
Leia o trecho de reportagem a seguir.
Dia de conscientização sobre a Doença Falciforme: diagnóstico e tratamento podem ser feitos pelo SUS
Enfermidade genética tem alta prevalência entre pessoas negras. Teste do pezinho, realizado em recém-nascidos, é o principal instrumento de detecção da doença
BRASIL. Ministério da Saúde. Dia de conscientização sobre a doença falciforme: diagnóstico e tratamento podem ser feitos pelo SUS. Gov.br, 19 jun. 2024. Disponível em: https://s.livro.pro/jv0np5. Acesso em: 17 set. 2024.
9. Por que você acha que as pessoas com anemia falciforme podem se sentir cansadas?
Resposta nas Orientações para o professor.
Professor, professora: O indivíduo que carreia o alelo da anemia falciforme é imune a malária e não desenvolve a doença. Assim, existe uma pressão seletiva para o aumento da frequência desse alelo em regiões com alta incidência de malária, como o continente africano. Por isso, a maior incidência da anemia falciforme em pessoas negras. Trata-se de um exemplo de como um alelo que causa uma doença pode aumentar de frequência por seleção natural.
A forma mais grave da doença falciforme é conhecida como anemia falciforme. Pessoas com esse tipo de anemia podem apresentar falta de ar, frequência cardíaca acelerada, dor abdominal, febre e cansaço. Nessas pessoas, as hemoglobinas são anormais, por isso suas hemácias podem ter formato semelhante a uma foice, rompendo-se facilmente e dificultando a chegada do gás oxigênio até as células.
Professor, professora: Se considerar pertinente, leve para a sala de aula imagem de hemácia com formato semelhante a foice, que se observa em indivíduos acometidos por anemia falciforme, e a apresente aos estudantes.
Além da entrada de gás oxigênio e da saída de gás carbônico, as células teciduais recebem nutrientes presentes no sangue e provenientes da digestão dos alimentos. Esses nutrientes adentram as células por meio de diferentes tipos de transporte, como estudamos anteriormente.
A energia contida nas ligações químicas das moléculas de nutrientes não pode ser diretamente utilizada pelas células. Por isso, é necessário que tal energia seja transformada em moléculas energéticas específicas por meio da respiração celular. Confira o exemplo a seguir.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
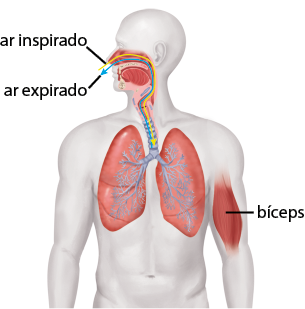
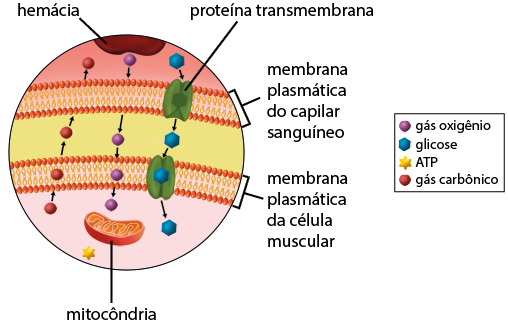
Imagens elaboradas com base em: PARKER, Steve. O livro do corpo humano. Barueri: Ciranda Cultural, 2007. p. 130, 134. NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. Tradução: Ana Beatriz Gorini da Veiga et al. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 600.
O gás oxigênio obtido pela inspiração é transportado pelo sangue, juntamente com nutrientes, às células musculares do bíceps.
O gás oxigênio difunde-se do capilar sanguíneo para o interior da célula muscular, enquanto a glicose é transportada ativamente através das membranas celulares dos capilares e das células musculares via proteínas transmembrana.
No interior da célula muscular, a glicose é transformada em ácido pirúvico e transferida com o O subscrito 2 ao interior da mitocôndria. No interior dessa organela, o ácido pirúvico é transformado por uma série de reações químicas, resultando na formação de água, gás carbônico e moléculas de ATP (adenosina trifosfato), as quais armazenam a energia que pode ser utilizada pelas células.
O gás carbônico resultante desse processo é tóxico para a célula e, portanto, deve ser removido. Para isso, ele se difunde aos vasos sanguíneos próximos às células musculares do bíceps, sendo transportado pelo sangue até os pulmões, onde passa ao interior dos alvéolos e é, então, liberado para o ambiente via expiração.
Página 343
LIGADO NO TEMA
Transtornos alimentares
Possivelmente, você já disse ou ouviu algum amigo ou familiar dizer que gostaria de mudar algo no corpo, como aumentar ou reduzir algumas medidas e ganhar ou perder massa. Muitas vezes, isso ocorre por motivos de saúde ou pelo desejo do indivíduo de repensar seus hábitos, buscando uma vida mais saudável. No entanto, em algumas situações, esse desejo de mudança não parte de uma orientação médica ou motivação pessoal, mas busca corresponder a padrões físicos considerados ideais pela sociedade. Em muitos casos, esses padrões e a forma como desconsideram a diversidade de tipos físicos contribuem para sentimentos como frustração, ansiedade e exclusão de indivíduos. Em casos extremos, isso pode levar a distorções e insatisfação que caracterizam doenças relacionadas à alimentação e à autoimagem, os chamados transtornos alimentares.
A compulsão alimentar, a bulimia nervosa e a anorexia nervosa são os transtornos alimentares mais comuns e são influenciados por diversos fatores, que requerem o acompanhamento e o tratamento assistido por diferentes profissionais, como médicos, nutricionistas e psicólogos.
O transtorno compulsivo alimentar é caracterizado por episódios em que, em um curto período, a pessoa se alimenta em quantidade muito maior do que o usual em circunstâncias similares e sente que não consegue controlar essa ação. Esse transtorno pode levar ao aumento de massa corporal e à obesidade, que é prejudicial ao funcionamento adequado do organismo e aumenta a predisposição a algumas doenças, como as cardiovasculares.
A bulimia nervosa caracteriza-se pela ingestão de quantidade de alimentos maior do que a consumida em circunstâncias similares, em curto período. Essa ação é seguida do arrependimento e de comportamentos para compensação do excesso de comida ingerida como indução do vômito, utilização de inibidores de apetite e medicamentos com efeitos diuréticos ou laxantes e prática de atividade física em excesso, visando ao gasto energético, o que pode causar danos à saúde. Geralmente, pessoas com bulimia não têm grande variação de massa corporal.
Cuidado
A ingestão de medicamentos sem prescrição médica é prejudicial à saúde.
Na anorexia nervosa, por sua vez, a pessoa se sente diferente do que realmente é e de como os outros a veem. Nesse sentido, ela busca o emagrecimento constante, não aceitando quando dizem que está abaixo da massa corpórea saudável. Com o tempo, a pessoa com esse tipo de transtorno passa a praticamente não se alimentar. Embora a perda de massa corporal seja rápida, o tratamento é lento e exige voltar a ingerir alimentos e a ganhar massa corporal aos poucos, além de mudar a maneira como se vê e como lida com os alimentos.
Além das alterações físicas e psicológicas, a anorexia e a bulimia nervosas causam outros danos ao organismo, como desnutrição, anemia, hipoglicemia e redução da produção de alguns hormônios, prejudicando diversas funções do corpo. Independentemente do tipo de transtorno alimentar, é essencial que a pessoa reconheça o problema e busque ajuda profissional para reverter a situação.

a ) Converse com os colegas sobre a relação entre os padrões estéticos atuais, a autoimagem e os transtornos alimentares, expondo sua opinião sobre o assunto.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a expor seus conhecimentos e suas opiniões sobre o assunto, refletindo acerca de possíveis padrões impostos pela sociedade atual e a real relevância desses padrões.
b ) Junte-se a dois colegas e elaborem um podcast a respeito dos transtornos alimentares, de suas consequências e da importância do respeito à diversidade de tipos físicos.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é, ao mesmo tempo que os estudantes refletem sobre o assunto, permitir que atuem como cidadãos ativos na divulgação de informações sobre a importância do conhecimento sobre o tema por diferentes membros da comunidade escolar e familiares. Espera-se que reconheçam que há uma grande diversidade de tipos físicos, assim como de outros elementos que expressam a identidade de alguém, como estilo, personalidade e corte de cabelo, e que todas essas formas de expressão devem ser valorizadas e respeitadas, priorizando sempre a saúde e o bem-estar individual.
Página 344
PRÁTICA CIENTÍFICA
Ação enzimática
Por dentro do contexto
A lactase é a enzima que acelera o processo de digestão da lactose, um carboidrato presente no leite. Essa enzima é produzida pelo organismo humano, mas algumas pessoas não a produzem em quantidade suficiente. Essa condição se manifesta com certos sintomas, resultantes da digestão inadequada da lactose, e é chamada de intolerância à lactose.
Quando pessoas com intolerância à lactose comem alimentos com esse carboidrato, elas podem apresentar sintomas como dores abdominais, flatulência, náuseas e diarreia. Muitas pessoas que têm essa intolerância fazem uso de produtos contendo lactase para facilitar a digestão da lactose e, assim, poderem consumir produtos com esse carboidrato.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.

a ) Você acha importante os rótulos de alimentos terem alertas sobre os ingredientes contidos neles? Converse com um colega sobre isso.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir sobre o tema. Espera-se que eles reconheçam que é de extrema importância esse tipo de informação estar descrito nos rótulos das embalagens. Além de ser uma maneira de o consumidor ter consciência sobre o que está ingerindo, podendo optar por um alimento ou outro, a ingestão de certos nutrientes por algumas pessoas pode representar danos à saúde.
b ) Em sua opinião, em que condições os produtos contendo lactase, ingeridos por pessoas com intolerância à lactose, devem ser armazenados?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir sobre fatores, como temperatura e pH, que possam alterar a estrutura da enzima e, consequentemente, o papel desempenhado por ela.
Materiais
- fogão ou fogareiro
- 3 béqueres ou recipientes de 250 mililitros
- recipiente raso
- 4 fitas indicadoras de glicose
- 60 gramas de leite em pó
- 3 cápsulas com lactase
- 10 mililitros de vinagre
- 600 mililitros de água
- balança de precisão
- copo medidor de 500 mililitros
- cronômetro
- colher (de sopa)
- seringa plástica de 10 mililitros
Dica
O leite em pó pode ser substituído por leite integral líquido. Em ambas as formas, atente para o leite não ser do tipo "zero lactose", pois isso interferirá nos resultados da atividade experimental.
A lactase pode ser vendida comercialmente sob a forma de cápsula ou comprimido. Caso seja em comprimido, será necessário macerá-lo para facilitar a dissolução nas etapas B, D e F.
Como proceder
A. Em um dos recipientes de 250 mililitros, misture 20 gramas de leite em pó a 200 mililitros de água à temperatura ambiente. Mexa bem, utilizando a colher, até obter uma mistura homogênea. Em seguida, insira parte de uma fita indicadora de glicose na mistura, segurando-a nessa posição por cerca de 30 segundos. Retire a fita e analise-a.
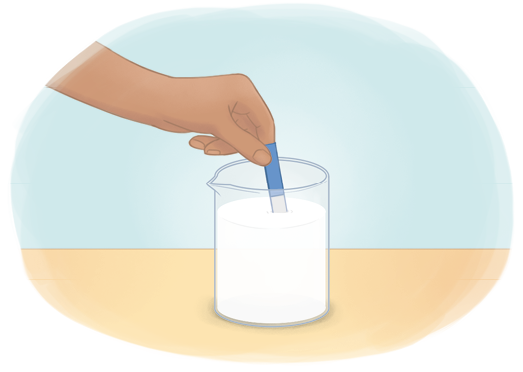
Página 345
Professor, professora: Todas as etapas envolvendo o uso de fogo e a fervura de misturas devem ser realizadas por você ou outro adulto.
B. Adicione o conteúdo de uma cápsula de lactase à mistura que você preparou na etapa A. Misture bem e reserve por 30 minutos.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
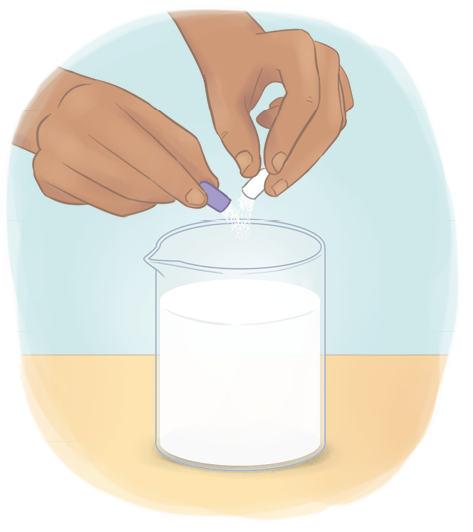
C. Após o intervalo de 30 minutos, insira parte de outra fita indicadora de glicose na mistura e segure-a nessa posição por cerca de 30 segundos. Retire a fita e analise-a.
D. No outro recipiente de 250 mililitros, misture o conteúdo de uma cápsula de lactase a 200 mililitros de água. Peça a um adulto que leve a mistura ao fogo até ferver. Desligue o fogo e reserve.
E. Quando a mistura fervida tiver esfriado, adicione 20 gramas de leite em pó, misture bem e reserve por 30 minutos. Após esse intervalo, insira parte de uma fita indicadora de glicose na mistura e segure-a nessa posição por cerca de 30 segundos. Retire a fita e analise-a.
F. No recipiente raso, adicione o conteúdo de uma cápsula de lactase e, utilizando a seringa, 10 mililitros de vinagre até dissolver bem. Reserve.
G. No terceiro recipiente de 250 mililitros, adicione 20 gramas de leite em pó e 200 mililitros de água à temperatura ambiente, mexendo bem até obter uma mistura homogênea. Adicione à essa mistura aquela preparada no item F (lactase+vinagre). Misture bem e reserve por 30 minutos. Após esse intervalo, insira parte de uma fita indicadora de glicose na mistura e segure-a nessa posição por cerca de 30 segundos. Retire a fita e analise-a.
Cuidado
Não se aproxime do fogo e dos utensílios quentes para evitar queimaduras.
Análise e divulgação
1. O que você observou na fita indicadora após a conclusão do procedimento A? Em sua opinião, qual é a importância de realizar essa etapa do experimento?
2. O que você observou nas fitas indicadoras após a conclusão das etapas C, E e G? Como você explica os resultados observados?
3. Que relação podemos fazer entre os resultados observados e o processo de digestão em seres humanos?
4. É possível relacionar a intolerância à lactose e o papel de fonte de energia que a glicose exerce no ser humano?
5. Considerando os resultados que você observou no experimento, em que condições acha que os comprimidos de lactase devem ser armazenados?
6. Junte-se a três colegas e produzam um podcast sobre o conteúdo trabalhado nesta seção e, em seguida, compartilhe-o com a comunidade escolar e os familiares. Para esta atividade, leia as instruções a seguir.
- Explique o que é intolerância a lactose e fale sobre a importância de os rótulos de alimentos alertarem sobre a ausência ou a presença dessa substância no produto.
- Entreviste uma pessoa que tenha intolerância a lactose, questionando-a sobre o uso da lactase e o consumo de produtos intitulados "zero lactose".
- Explique as etapas de investigação realizadas nesta atividade prática, os materiais utilizados, as observações e os resultados obtidos, bem como as conclusões a que chegaram.
Respostas nas Orientações para o professor.
Página 346
CONEXÕES com ... QUÍMICA
Equilíbrio ácido-básico do corpo humano
De modo geral, as funções vitais do corpo humano ocorrem em determinada faixa de pH e, por isso, o organismo possui mecanismos para regular o nível de H sobrescrito mais dentro e fora das células, nos diferentes tecidos e órgãos. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir.
Professor, professora: Se julgar pertinente, comente com os estudantes que, além da eliminação do C O subscrito 2 pelo sistema respiratório e dos sistemas-tampão, a eliminação de H sobrescrito mais pelos rins pode atuar na manutenção do equilíbrio ácido-básico do corpo humano.
[...] Água com limão não deixa o sangue mais alcalino
O sistema de tamponamento do organismo deixa o sangue na faixa ideal, qualquer variação pode ser perigosa e levar à morte
FAKE news Não Pod #56: Água com limão não deixa o sangue mais alcalino. Jornal da USP, 20 jul. 2022. Disponível em: https://s.livro.pro/29seck. Acesso em: 12 set. 2024.
Durante a pandemia de covid-19, surgiram diversas fake news sobre a ingestão de alimentos que, supostamente, tornariam o pH sanguíneo mais elevado e combateriam o vírus causador da doença. No entanto, os alimentos não são capazes de tornar o sangue ácido ou alcalino. Isso porque, em condições normais de saúde, até mesmo pequenas alterações de pH são prontamente corrigidas pelos diversos mecanismos corporais responsáveis por manter o pH sanguíneo em uma faixa ideal.
Dica
Em uma pessoa saudável, o pH sanguíneo varia entre 7,35 e 7,45.
Entre os mecanismos que regulam o pH dos líquidos corporais podemos citar os sistemas-tampão e a eliminação de gás carbônico pelo sistema respiratório.
Os tampões são substâncias capazes de se ligarem temporariamente aos íons H sobrescrito mais dos líquidos corporais, impedindo mudanças bruscas de pH. Um dos sistemas-tampão do corpo humano é o do ácido carbônico-bicarbonato.
O bicarbonato abre parênteses H C O subscrito 3 sobrescrito menos fecha parênteses é um íon importante tanto no interior da célula como no líquido intersticial e no plasma. Esse íon atua como uma base fraca, removendo os H sobrescrito mais em excesso no meio e originando o ácido carbônico abre parênteses H subscrito 2 C O subscrito 3 fecha parênteses. Confira a seguir.
H sobrescrito mais, mais H C O subscrito 3 sobrescrito menos seta para a direita H subscrito 2 C O subscrito 3
Já o ácido carbônico abre parênteses H subscrito 2 C O subscrito 3 fecha parênteses atua como um ácido fraco, fornecendo íons H sobrescrito mais ao meio, caso haja falta deles no organismo.
H subscrito 2 C O subscrito 3 seta para a direita H sobrescrito mais, mais H C O subscrito 3 sobrescrito menos
Dica
As substâncias que atuam como base têm capacidade de receber íons H sobrescrito mais em uma reação. Já as substâncias que atuam como ácido costumam ceder íons H sobrescrito mais.
Além dos sistemas-tampão, a eliminação do gás carbônico pelo sistema respiratório atua na regulação do equilíbrio do pH dos líquidos corporais. A diminuição da concentração de C O subscrito 2 no sangue aumenta o pH sanguíneo. Por outro lado, o aumento da concentração desse gás resulta na diminuição do pH do sangue. Acompanhe a seguir.
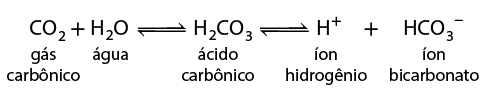
Quando há desequilíbrios nas taxas de íons hidrogênio, pode-se desenvolver a acidose (pH menor do que 7,35) ou alcalose (pH maior do que 7,45), que, em casos graves, pode levar à morte.
Com o aumento da ventilação pulmonar, mais C O subscrito 2 é eliminado do organismo e, portanto, a reação se desloca da direita para a esquerda, com redução dos níveis de íons H sobrescrito mais. Consequentemente, o pH do sangue aumenta.
Por outro lado, se houver redução na ventilação pulmonar, menos C O subscrito 2 é eliminado e sua concentração será maior no sangue. Nesse caso, a reação se desloca da esquerda para a direita, ocorrendo o aumento da concentração de íons H sobrescrito mais a diminuição do pH sanguíneo.
a ) A cetoacidose é uma condição de diminuição de pH sanguíneo que pode ocorrer em pessoas com diabetes. Faça uma pesquisa para saber o que caracteriza essa condição.
Resposta nas Orientações para o professor.
Página 347
ATIVIDADES
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
1. Explique a importância dos sistemas digestório, circulatório e respiratório para a produção de energia nas células do corpo humano.
Resposta: Para produzir energia (ATP) por meio da respiração celular, as células do corpo humano necessitam de nutrientes (glicose) e oxigênio. O sistema digestório é responsável por promover a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes de que as células necessitam. O oxigênio necessário à respiração celular é obtido pelo sistema respiratório. Já o sistema circulatório é responsável por transportar o oxigênio do sistema respiratório até as células e conduzir para o sistema respiratório o gás carbônico formado nelas pela respiração celular.
2. Após uma aula de Biologia, um grupo de estudantes resolveu investigar parte do tema abordado durante a aula sobre nutrição do corpo humano. Para isso, eles realizaram o experimento a seguir.
I ) Os estudantes pegaram duas folhas de papel usadas. A folha 1 foi mantida lisa, enquanto a folha 2 foi dobrada em zigue-zague, como exemplificado nas imagens a seguir.
1.
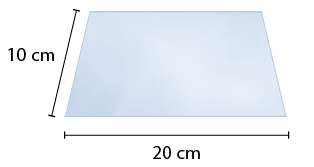
2.
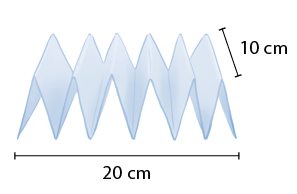
Representação das folhas de papel 1 e 2 utilizadas no experimento.
II ) Cada uma das folhas foi colocada em um recipiente contendo 200 mililitros de água até a total submersão.
III ) Após 30 segundos, os estudantes retiraram as folhas dos recipientes, escorrendo o excesso de água, e mediram o volume restante em cada recipiente.
IV ) No recipiente em que foi colocada a folha 1, restaram 190 mililitros de água. No outro recipiente, restaram 184 mililitros de água.
a ) Explique, com suas palavras, o resultado observado pelos estudantes.
Resposta: No recipiente em que foi colocada a folha 2, o papel absorveu mais água porque, apesar de ter o mesmo comprimento e largura que a folha 1, a folha 2 apresentava dobras, as quais aumentaram sua área, favorecendo, assim, maior absorção.
b ) Como tal experimento pode ser relacionado à nutrição do corpo humano?
Resposta: Assim como as dobras no papel aumentaram a área de absorção de água, as pregas, vilosidades e microvilosidades intestinais observadas no intestino delgado também aumentam a área de absorção de água e nutrientes.
3. O monóxido de carbono abre parênteses C O fecha parênteses é um gás inodoro e tóxico aos seres vivos. Ele é liberado pela queima incompleta de combustíveis fósseis, estando também na fumaça do cigarro. Os sintomas de intoxicação por C O incluem coloração vermelho-cereja forte dos lábios e mucosa da boca, tontura, dores de cabeça, fraqueza, náuseas e vômitos. A longo prazo, esse tipo de intoxicação pode causar problemas cardíacos e neurológicos. A intoxicação por esse gás interfere diretamente no transporte de gases pelo organismo.
a ) Pesquise como a intoxicação por monóxido de carbono pode interferir no transporte de gases no organismo.
b ) Como esse tipo de intoxicação pode prejudicar o funcionamento das células e, consequentemente, dos tecidos, como o nervoso e o cardiovascular?
c ) Um dos modos de reverter a intoxicação é pela administração de gás oxigênio puro, via inalação. Explique por que essa é uma medida possível. Se necessário, pesquise a influência da pressão parcial de gases sobre as trocas gasosas.
4. Um professor realizou o experimento a seguir para demonstrar a osmose em uma célula animal.
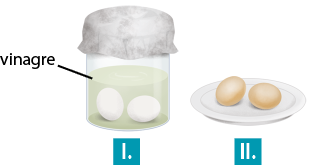
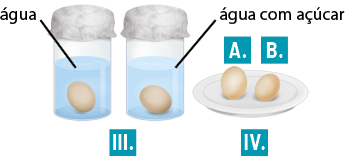
Representação das etapas I, II, III e IV do experimento.
I ) Ele colocou dois ovos cozidos em um recipiente e os cobriu com vinagre. Depois, tampou o recipiente com papel-alumínio.
II ) No dia seguinte, ele retirou os ovos da solução e os lavou, removendo as cascas.
III ) Depois, colocou um dos ovos em um recipiente com água e o outro em uma solução com alta concentração de açúcar.
IV ) Após 48 horas, o ovo que ficou na água (A) estava bem maior do que o ovo da solução de açúcar (B).
a ) Qual é a finalidade de manter os ovos imersos no vinagre por 24 horas?
b ) Por que o ovo imerso em água (A) aumentou de tamanho e o outro (B) diminuiu?
Respostas das questões 3 e 4 nas Orientações para o professor.
Página 348
Reprodução humana
Leia a manchete a seguir.
Planejamento familiar: laqueaduras e vasectomias no SUS dobraram no Paraná
Disponível em: https://s.livro.pro/qs6ziy. Acesso em: 4 set. 2024.
10. A manchete propõe uma relação entre planejamento familiar, laqueadura e vasectomia. Explique, com suas palavras, essa relação.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a expor seus conhecimentos prévios sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos. Anote as principais informações na lousa e retome-as em um momento oportuno da aula.
De acordo com a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, o planejamento familiar é um direito de todo cidadão e pode ser entendido como um conjunto de ações que auxiliam o controle da fecundidade, garantindo igualdade para homem, mulher e casal no que diz respeito ao direito de ter ou não filhos na quantidade e no momento que considerarem adequados.
Entre as diversas ações previstas está o acesso a métodos contraceptivos, bem como a técnicas de concepção, pré-natal e controle de infecções sexualmente transmissíveis (IST). O planejamento familiar é, assim, uma importante ferramenta para garantir o direito de escolha de cada cidadão.
Compartilhe ideias
A Lei nº 14.443, de 2 de setembro de 2022, modifica a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Entre as alterações estão: revogação do art. 5º e alteração da idade mínima para realização de métodos contraceptivos cirúrgicos.
a ) Junte-se a um colega, façam a leitura da Lei nº 14.443 e da Lei nº 9.263 e conversem a respeito das modificações legais, posicionando-se contra ou a favor delas e utilizando argumentos para justificar seu posicionamento.
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir criticamente e discutir o tema proposto, respeitando possíveis opiniões distintas das deles.
Como você pôde perceber, o planejamento familiar tem como um dos pilares a reprodução humana, promovendo-a ou evitando-a. A reprodução é uma das etapas do ciclo de vida dos seres vivos e é responsável pela manutenção das espécies. Dos seres unicelulares aos multicelulares, a reprodução envolve diferentes processos que possibilitam a geração de indivíduos e a transmissão da informação genética ao longo das gerações.
A seguir, vamos conhecer mais sobre a reprodução humana e o desenvolvimento do novo ser humano.
Fecundação
O ser humano se reproduz sexuadamente, ou seja, por meio da união dos gametas masculino (espermatozoide) e feminino (ovócito), na chamada fecundação ou fertilização. Esse evento se inicia com o contato entre o ovócito secundário maduro e o espermatozoide e finaliza quando ocorre a fusão dos núcleos desses gametas, envolvendo uma série de eventos celulares. Acompanhe a seguir.
Para que a fertilização ocorra, o espermatozoide precisa liberar uma série de enzimas para penetrar duas camadas do ovócito: uma camada de células mais externa, a corona radiata, e uma camada interna a ela, chamada zona pelúcida.
Assim que o espermatozoide penetra a zona pelúcida, essa camada sofre mudanças e bloqueia a entrada de outros espermatozoides. A entrada do espermatozoide estimula o ovócito secundário a finalizar sua segunda divisão meiótica, originando o óvulo.
As membranas do óvulo e do espermatozoide se desintegram e os núcleos haploides se fundem, formando um óvulo fertilizado, também chamado zigoto ou célula-ovo.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
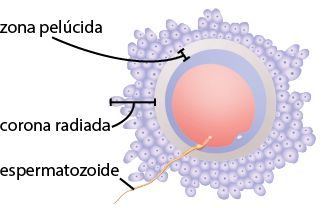
Imagem elaborada com base em: MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. Embriologia básica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p. 11, 22.
Com a formação do zigoto, reestabelece-se a quantidade de cromossomos da espécie e ocorre a determinação do sexo biológico. Assim, inicia-se o desenvolvimento do zigoto em embrião.
Página 349
Desenvolvimento embrionário
Confira as imagens a seguir e responda à questão.
Professor, professora: Se considerar pertinente, ao abordar a imagem A, comente com os estudantes que o ovócito fertilizado apresenta dois núcleos, identificáveis na imagem, sendo um do ovócito e outro do espermatozoide. Após a união desses núcleos, forma-se o zigoto, com 46 cromossomos.
A.

B.

11. Em sua opinião, como uma única célula (imagem A) pode dar origem a um ser vivo composto de bilhões de células especializadas, diferentes tecidos, órgãos e sistemas (imagem B)?
Resposta pessoal. O objetivo desta questão é levar os estudantes a refletir, ainda que inconscientemente, a respeito dos processos de multiplicação e diferenciação celulares essenciais ao desenvolvimento humano.
Um dos aspectos mais fascinantes do estudo do desenvolvimento embrionário é desvendar os mecanismos que determinam a forma do corpo, seu padrão e a diferenciação. Em outras palavras, como uma célula é programada sobre como e onde deve crescer? Como as células originadas do zigoto se diferenciarão em células dos sistemas digestório e respiratório, por exemplo?
Após a fertilização, o zigoto passa por sucessivas divisões mitóticas que resultarão em um rápido aumento da quantidade de células. Essas divisões celulares recebem o nome de segmentação ou clivagem.
Clivagem
Com o início da segmentação, sulcos verticais são formados no zigoto, resultado das primeiras divisões mitóticas. Após a formação dos oito blastômeros resultantes das primeiras segmentações, as células se compactam, o que permite mais interação entre elas. Assim, as segmentações continuam até a formação de um embrião com 16 blastômeros denominado mórula (do latim morula – o fruto da amoreira – em virtude da semelhança com uma amora).
Dica
No ser humano, após 45 horas, são formados 4 blastômeros. Aproximadamente ao final do terceiro dia de desenvolvimento, existem entre 12 e 16 blastômeros, caracterizando a formação da mórula.
As células constituintes da mórula continuam a se dividir e passa a ocorrer o acúmulo de líquido no centro dessa estrutura. Os rearranjos originam uma conformação chamada blástula, cuja cavidade central é preenchida por líquido e chamada blastocele.
Imagens sem proporção e em cores fantasia.
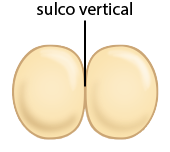
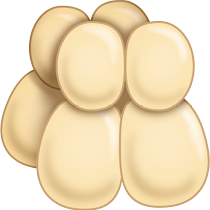
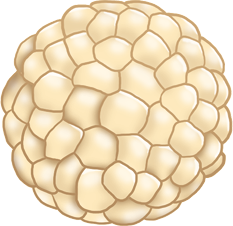
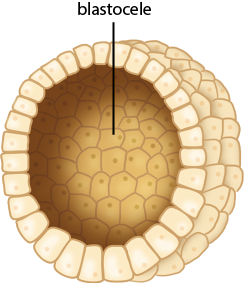
Imagens elaboradas com base em: CAMPBELL, Neil A. et al. Biology. 8. ed. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings, 2009. p. 655.
Página 350
Gastrulação
Após a formação da blástula, uma série de movimentos e arranjos celulares origina a gástrula, ou seja, o próximo estágio do desenvolvimento embrionário. Esse processo, chamado gastrulação, forma as camadas germinativas ou folhetos embrionários. Cada uma delas originará diferentes tecidos e órgãos do corpo do animal. Na maioria dos animais, incluindo os vertebrados, ocorre a formação de três camadas: endoderme, mesoderme e ectoderme. Por isso, esses animais são chamados triblásticos. Confira a seguir.
Professor, professora: Se considerar pertinente, ao citar os animais triblásticos, comente que em outros animais, como os cnidários (anêmona-do-mar e água-viva), são formadas somente duas camadas germinativas: a ectoderme e a endoderme. Esses animais são chamados diblásticos.
Professor, professora: Nas imagens referentes à gastrulação e à organogênese, os folhetos embrionários foram representados com cores distintas para facilitar a compreensão desses processos.
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
A.
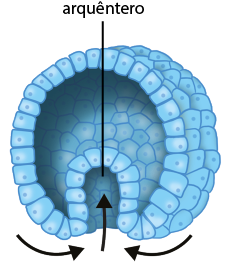
B.
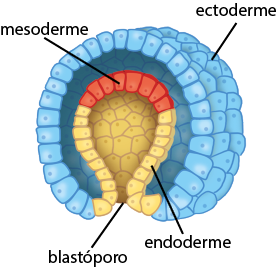
A. Algumas células da blástula se movem para o interior da blastocele, formando a endoderme, a qual originará o intestino primitivo chamado arquêntero.
B. As células que formam o arquêntero continuam a se invaginar até alcançar a parte superior da ectoderme. A abertura formada pela invaginação das células se chama blastóporo. Nos animais triblásticos, algumas células migram para o espaço entre a ectoderme e a endoderme, a fim de formar a mesoderme.
Imagens elaboradas com base em: CAMPBELL, Neil A. et al. Biology. 8. ed. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings, 2009. p. 655, 661.
Organogênese
Após a gastrulação, ocorre a organogênese, fase em que se inicia a formação coordenada e simultânea de diversos órgãos e sistemas do corpo dos animais. A primeira etapa da organogênese é conhecida como neurulação. Nela, ocorre a formação do tubo neural e da notocorda. Acompanhe a seguir a neurulação do anfioxo.
C.
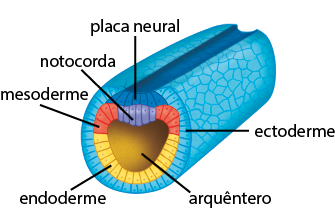
D.
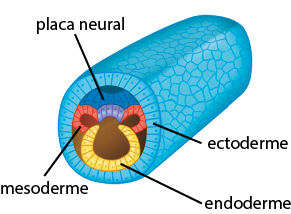
E.
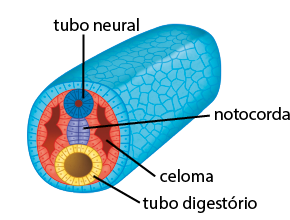
Imagens elaboradas com base em: GARCIA, Sonia M. Lauer de; FERNÁNDEZ, Casimiro G. Embriologia. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 209.
C. Algumas células da mesoderme se diferenciam em notocorda. A notocorda induz ao achatamento da região dorsal da gástrula, formando a placa neural, a qual se estende por toda a gástrula.
D. As células da ectoderme se multiplicam e recobrem a placa neural. Cada parte da mesoderme, situada ao lado da notocorda, começa a se dobrar para, posteriormente, formar o celoma. Já a endoderme que forma o arquêntero começa a se dobrar para formar o tubo digestório.
E. A placa neural começa a se dobrar para formar o tubo neural. O celoma formado é uma cavidade na qual, posteriormente, os órgãos internos do animal serão abrigados. Nessa etapa, o embrião é chamado nêurula.
As células das camadas germinativas formadas durante a gastrulação se diferenciam para formar os diferentes órgãos do corpo animal. Confira a tabela a seguir.
Página 351
| Camada germinativa | Estruturas formadas |
|---|---|
| Ectoderme |
Epiderme, cabelos e unhas, glândulas sudoríferas e sebáceas, glândulas mamárias, sistema nervoso, cristalino, orelha interna, revestimento das cavidades oral e nasal. |
| Mesoderme |
Derme, músculos, revestimento externo dos órgãos internos, sistema circulatório, rins, ossos e cartilagem. |
| Endoderme |
Revestimento interno do intestino, tireoide, fígado, pâncreas, trato respiratório e bexiga urinária. |
Fonte de pesquisa: PURVES, Willian K. et al. Vida: a ciência da biologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 759.
Gravidez e nascimento
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
A gravidez se caracteriza por uma sequência de eventos, que abrangem desde a fertilização até o nascimento, e dura, em média, de 38 a 40 semanas. Ela é dividida em três fases: período pré-embrionário, período embrionário e período fetal. Acompanhe a seguir.
Período pré-embrionário: abrange da fertilização à terceira semana de gestação.
Nas duas primeiras semanas, ocorrem a fertilização (A), a formação do zigoto (B), a clivagem (C e D), a formação da mórula (E) e do blastocisto (F) e a nidação (G), ou seja, a fixação do embrião na parede do útero.
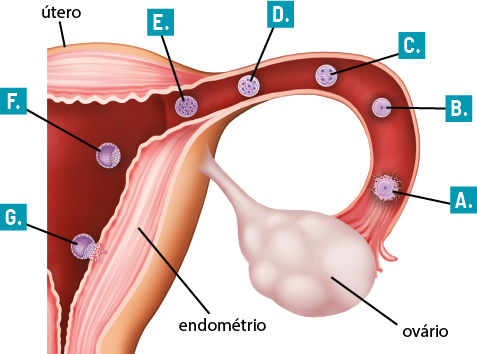
Na 3ª semana, inicia-se a gastrulação, seguida da neurulação e da formação da notocorda. Ao final da 3ª semana, o embrião tem entre 1 vírgula 5 milímetro e 3 milímetros de comprimento. Nessa fase, o saco vitelino, responsável por fornecer material nutritivo ao embrião no início de seu desenvolvimento, é proeminente.
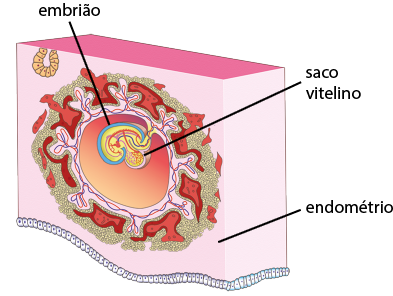
Período embrionário: abrange da quarta à oitava semana de gestação.
No início desse período, surgem brotos dos membros superiores e inferiores e ocorre o início do desenvolvimento do coração, dos olhos e das orelhas. Ao final da 4ª semana, o coração já bombeia sangue e o embrião tem entre 4 milímetros e 6 milímetros de comprimento.
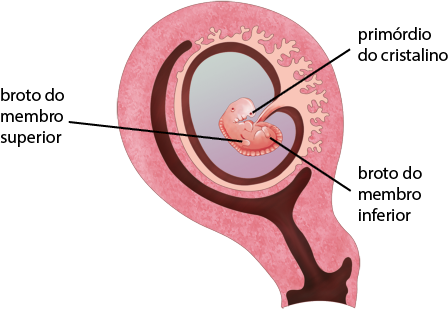
Imagens elaboradas com base em: MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; Torchia, Mark G. Embriologia básica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p. 26, 46, 56.
Página 352
Imagens desta página sem proporção e em cores fantasia.
O embrião adquire aparência humana, com o desenvolvimento de encéfalo, coração, fígado, membros superiores e inferiores, orelhas, nariz e olhos. Ocorrem os primeiros movimentos voluntários dos membros. Ao final da 8ª semana, o embrião tem entre 2 vírgula 7 centímetros e 3 vírgula 1 centímetros de comprimento.
Dica
Da fertilização até a 8ª semana, o ser humano em desenvolvimento é chamado de embrião. A partir da 9ª semana, o embrião passa a ser chamado feto.
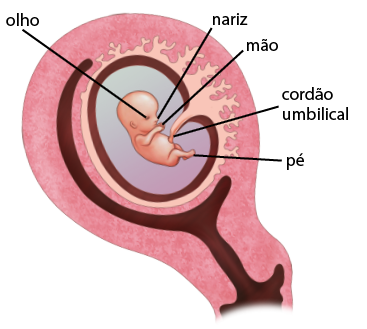
Período fetal: abrange da 9ª semana de gestação até o nascimento.
Não é possível diferenciar a genitália até o final da 9ª semana e a cabeça tem metade do tamanho do corpo. Na 10ª semana, as alças do intestino estão próximas ao cordão umbilical e, na 11ª semana, regridem para a cavidade abdominal. Na 12ª semana, inicia-se o processo de ossificação, principalmente no crânio e nos ossos longos (fêmur e úmero). A formação da urina se inicia entre a 9ª e a 12ª semana. Ao final da 12ª semana, o feto tem aproximadamente 8 vírgula 7 centímetros de comprimento.

Da 12ª à 16ª semana, o crescimento do corpo é acelerado. Os movimentos dos membros, iniciados na 14ª semana, somente são visíveis pelo exame de ultrassom. Nesse período, a genitália já é bem visível para identificação e inicia-se o movimento dos olhos. Da 17ª à 20ª semana, a mãe pode começar a perceber os movimentos fetais. Na 20ª semana, o feto está coberto por uma camada de gordura que ajuda a proteger a pele sensível contra constantes fricções. As unhas, as sobrancelhas e o cabelo estão presentes ao final da 24ª semana. Nessa fase, o feto tem aproximadamente 23 centímetros de comprimento.

Na 26ª semana, os olhos estão abertos e, até a 29ª semana, os pulmões do feto adquirem capacidade de realizar trocas gasosas. Mas, caso o feto nasça nesse período, são necessários cuidados intensivos. Entre a 35ª e a 38ª semana, a taxa de crescimento do feto é reduzida conforme se aproxima o momento do parto. Com 38 semanas, o feto atinge em média 50 centímetros e tem massa de aproximadamente 3 vírgula 4 quilogramas.
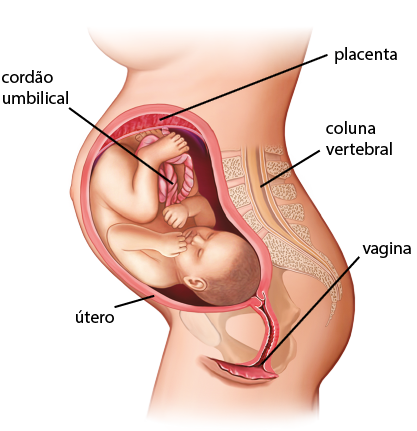
Imagens elaboradas com base em: MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; Torchia, Mark G. Embriologia básica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p. 61, 73, 80.
Página 353
Adoção
A adoção é um direito da criança e do adolescente. Pela legislação, crianças e adolescentes menores de 18 anos, vítimas de maus-tratos e abandono ou cujos pais perderam o poder familiar, são falecidos ou concordaram com a adoção, têm o direito de serem adotadas por uma nova família. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir.
Dica
Poder familiar se refere aos deveres e direitos atribuídos aos pais de filhos menores de 18 anos.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulga nesta segunda-feira (25/5) estudo sobre adoção e acolhimento em todo o território nacional. Segundo o levantamento de maio de 2015 até o início de 2020, mais de dez mil crianças e adolescentes foram adotados no país. O diagnóstico também aponta que, na data de fechamento da pesquisa, em 5 de maio de 2020, havia 5.026 crianças disponíveis para adoção e 34.443 pretendentes.
[...]
CAMIMURA, Lenir. Dados consolidados apontam 10 mil adoções em cinco anos no Brasil. Conselho Nacional de Justiça, 25 maio 2020. Disponível em: https://s.livro.pro/dxrcrs. Acesso em: 12 set. 2024.
Os dados citados no texto representam um cenário otimista com relação às adoções. Muitos adultos optam por adotar crianças e adolescentes por diferentes razões, como infertilidade masculina ou feminina, questões de saúde da mulher que podem representar uma gravidez de risco e desejo de constituir uma família.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção atribui ao adotado a condição de filho, gozando dos mesmos direitos e deveres, inclusive os sucessórios. Dessa forma, os vínculos do adotado com os pais e parentes biológicos são desligados, a não ser que haja questões matrimoniais envolvidas, como a adoção de enteados por madrastas ou padrastos, por exemplo.
Entre os fatores que comprometem a redução da fila de espera de adoção no Brasil está o tempo médio para a finalização do processo, que pode variar aproximadamente de 1 a 5 anos entre a data do pedido e a da sentença adotiva.
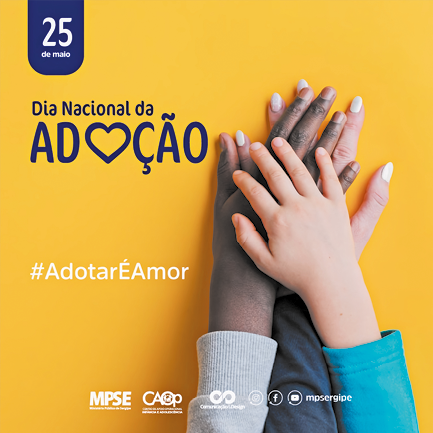
Conforme a legislação brasileira, jovens não adotados maiores de 18 anos de idade precisam deixar os abrigos. A partir de então, alguns são acolhidos por um curto período em repúblicas oferecidas por secretarias municipais de assistência social até conseguirem emprego e uma renda que lhes permita custear uma moradia particular. No entanto, boa parte desses jovens tem dificuldade em conseguir emprego e uma renda suficiente para suprir as necessidades. Desamparados e sem uma rede de apoio familiar, acabam deixando os abrigos e as repúblicas sem perspectivas.
A adoção possibilita a convivência familiar e concede um ambiente afetivo e de cuidados a crianças e adolescentes que, por diferentes motivos, foram privados dessa estrutura.
a ) Pesquise informações sobre os requisitos necessários e as etapas exigidas para o processo de adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Depois, converse com os colegas sobre as informações pesquisadas e como elas podem ser relacionadas com os dados citados no trecho de reportagem.
Resposta pessoal. Se necessário, auxilie os estudantes na realização da pesquisa, indicando sites e documentos de órgãos oficiais responsáveis pelos processos de adoção no Brasil. Após a realização da pesquisa, organize um momento para que eles troquem ideias acerca do assunto e opinem, por exemplo, sobre a burocracia muitas vezes exigida nos processos de adoção.
Página 354
CONEXÕES com ... GEOGRAFIA e HISTÓRIA
As mulheres no mundo contemporâneo
[...]
Artigo 2º
Os Estados-Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a:
a) consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada, o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados à realização prática desse princípio;
b) adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher;
[...]
NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Disponível em: https://s.livro.pro/xb07qn. Acesso em: 4 set. 2024.
O texto que você acabou de ler, de 1979, é parte da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (CEDAW). Por meio dessa convenção, as Nações Unidas buscaram firmar um compromisso dos países signatários, entre eles o Brasil, no combate às desigualdades entre homens e mulheres na sociedade.
Ao longo dos anos, diversos instrumentos como esse surgiram com a finalidade de promover a paridade entre homens e mulheres. No entanto, apesar do reconhecimento cada vez maior da urgência de combater a discriminação das mulheres, ainda há muito a ser conquistado.
A desigualdade entre homens e mulheres é uma realidade atual, mas ela existe há muito tempo. Até meados do século XX, o papel social desempenhado pelas mulheres muitas vezes ficava restrito ao ambiente doméstico e à maternidade. Na década de 1950, por exemplo, período de grande crescimento industrial no Brasil, enquanto os homens eram associados à participação no mercado de trabalho, as mulheres ficavam responsáveis pelos cuidados com a residência e a educação dos filhos. Sobre o tema, leia o texto a seguir.
[...]
Ser mãe, esposa e dona de casa era considerado o destino natural das mulheres. Na ideologia dos Anos Dourados [década de 1950 no Brasil], maternidade, casamento e dedicação ao lar faziam parte da essência feminina; sem história, sem possibilidades de contestação.
A vocação prioritária para a maternidade e a vida doméstica seriam marcas de feminilidade, enquanto a iniciativa, a participação no mercado de trabalho, a força e o espírito de aventura definiriam a masculinidade. [...]
BASSANEZI, Carla. Mulheres nos Anos Dourados. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História das mulheres no Brasil. 9. ed. São Paulo: Contexto 2007. p. 609-610.
A inclusão das mulheres no mercado de trabalho aumentou ao longo do tempo. Nos últimos anos, por diversos motivos, muitas passaram a trabalhar por satisfação pessoal ou para complementar a renda familiar. Em variadas ocasiões, elas ocuparam importantes cargos de liderança ou atividades que, muitas vezes, eram relacionadas aos homens, como nas áreas de Direito, Agronomia, Medicina e Engenharia.

Página 355
No entanto, mesmo com diversas conquistas, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios. De acordo com o Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, coletado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) e divulgado em 2024, embora com escolaridade e cargos semelhantes, em geral, as mulheres recebem cerca de 20% a menos do que os homens no Brasil. Em relação aos cargos de liderança, a diferença pode chegar a até 27%. Outro desafio enfrentado por elas são as duplas ou triplas jornadas de trabalho, pois, além de trabalharem fora de suas residências, muitas mulheres são responsáveis pelo cuidado de outras pessoas da família, como filhos e pais, e ainda realizam os trabalhos domésticos. Confira o gráfico a seguir.
Média de horas semanais dedicadas a cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos, por sexo – 2022

Fonte de pesquisa: IBGE. Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. 3. ed. Disponível em: https://s.livro.pro/8g4g27. Acesso em: 4 set. 2024.
Compartilhe ideias
No gráfico, note que quando o tom da pele é considerado, a disparidade entre homens e mulheres é ainda maior para as mulheres negras ou pardas.
a ) Pesquise documentos com estatísticas sociais que abordem a atuação das mulheres na sociedade e que considerem o tom de pele das entrevistadas. Em seguida, sumarize os principais pontos levantados e debata o tema com os colegas.
Resposta nas Orientações para o professor.
Outro desafio enfrentado pelas mulheres é o de lidar com as expectativas da sociedade sobre a maternidade. As transformações culturais e sociais ocorridas ao longo do século XX, como o crescimento da urbanização e a disseminação dos métodos contraceptivos, possibilitaram às mulheres construir suas carreiras profissionais, adiando a maternidade ou escolhendo não ter filhos. Embora seja uma escolha pessoal, muitas delas ainda sofrem com a imposição da condição à maternidade. A respeito do tema, leia o texto a seguir.
[...]
Hoje, mulheres têm outros projetos para sua vida, como a conquista de independência financeira atrelada à construção de uma carreira profissional, assim, a maternidade deixa de ser o único destino possível de suas vidas. Visto isso, há de se considerar que algumas mulheres não estão dispostas a abrir mão de sua liberdade para se dedicar a cuidar dos filhos e, por isso, são consideradas, em dados momentos, como egoístas. A partir do desenvolvimento dos métodos contraceptivos, mulheres passaram a ter poder de escolha sobre seu corpo e o ser mãe, visto que o desejo de ter um filho adquire diferentes sentidos para elas, pois envolve cuidado e afeto, podendo, assim, se escolher quando e se querem ter filhos.
[...]
A maternidade deve ser vista de maneira diferente, pois é uma escolha afetiva e que deve ser feita com liberdade. Acredita-se que a maternidade não é uma condição natural, mas, sim, uma construção social na qual nem todas as mulheres sentem o desejo de desempenhar.
CARVALHO, Priscilla V. de; LIMA, Vera H. B. Função materna: desejo ou imposição social. Cadernos de Psicologia, Juiz de Fora, v. 1, n. 2, ago./dez. 2019. p. 425. Disponível em: https://s.livro.pro/oklbki. Acesso em: 4 set. 2024.
a ) Limitar os direitos reprodutivos de uma mulher pode ser considerado um tipo de violência contra a cidadã. Pesquise os tipos de violência contra a mulher e produza um cartaz sobre o tema, incluindo possíveis formas de prevenção e combate a esse tipo de violência.
Resposta: O objetivo desta atividade é promover a cultura de não violência contra a mulher no ambiente escolar. Espera-se que, além de os estudantes serem capazes de reconhecer as diversas formas de violência contra a mulher, reconheçam formas de combater esse tipo de violência.
b ) Resultado de um longo processo de lutas e conquistas, o papel das mulheres na sociedade mudou ao longo do tempo. Entreviste mulheres de sua família ou comunidade e identifique algumas dessas mudanças.
Resposta: Espera-se que os estudantes pesquisem mulheres de diferentes idades e verifiquem as continuidades e rupturas no papel das mulheres na sociedade.
Página 356
ATIVIDADES
1. Reescreva as sentenças a seguir, substituindo os símbolos pelas palavras que as completam corretamente.
a ) O encontro do ovócito com o espermatozoide pode ocasionar a lacuna, formando a primeira célula do novo ser vivo, chamada lacuna.
Resposta: Fertilização; zigoto.
b ) Depois de algumas horas, o zigoto sofre a primeira clivagem, formando duas células denominadas lacuna.
Resposta: Blastômeros.
c ) As clivagens continuam e, quando um aglomerado de células chega ao útero, recebe o nome de lacuna.
Resposta: Mórula.
d ) Alguns dias após as primeiras clivagens ocorre a implantação no útero, um fenômeno chamado lacuna, quando o embrião já se encontra no estágio de lacuna.
Resposta: Nidação; blastocisto.
2. Relacione os folhetos embrionários às respectivas estruturas e órgãos que eles originam.
a ) Endoderme.
b ) Ectoderme.
c ) Mesoderme.
I ) Origina a epiderme, a retina do olho, as glândulas mamárias, a parte central do sistema nervoso e a parte periférica do sistema nervoso.
II ) Origina os tecidos ósseo, muscular e cartilaginoso e órgãos como coração, rim, ovários e testículos.
III ) Origina o epitélio de revestimento das vias respiratórias e do trato gastrointestinal e órgãos como fígado e pâncreas.
Resposta: a-III; b-I; c-II.
3. Cite as principais diferenças entre os três períodos da gestação humana.
4. Os gêmeos são casos de gestação múltipla, ou seja, quando dois embriões se desenvolvem ao mesmo tempo no interior do útero materno. Esse tipo de gestação pode ocorrer de maneiras diferentes. Pesquise e explique as características da fertilização e do desenvolvimento embrionário que podem resultar em cada um dos gêmeos a seguir.

a ) Gêmeos idênticos ou monozigóticos.
Resposta: Os gêmeos idênticos, ou monozigóticos, são formados pela divisão de um único embrião em dois, por isso os dois indivíduos gerados são do mesmo sexo e muito parecidos fisicamente.
b ) Gêmeos fraternos ou dizigóticos.
Resposta: Os gêmeos fraternos, ou dizigóticos, são formados pela fertilização de dois ovócitos diferentes, por isso esses gêmeos não são idênticos e podem ser de sexos diferentes.
c ) Gêmeos siameses.
Resposta: Os gêmeos siameses nascem unidos por alguma parte do corpo, como tórax, cabeça e costas. A formação dos gêmeos siameses pode ocorrer por meio da divisão incompleta de um embrião em dois ou da posterior junção desses dois embriões.
5. O hemangioma é um tumor benigno dos vasos sanguíneos. Comum na infância, ele se desenvolve logo nas primeiras semanas de vida do recém-nascido, podendo desaparecer espontaneamente até os 10 anos de idade. Com base em seus conhecimentos sobre o desenvolvimento embrionário, responda às questões.
a ) Que camada germinativa origina os vasos sanguíneos?
Resposta: A mesoderme.
b ) Em qual etapa do desenvolvimento embrionário a camada germinativa citada no item a se forma?
Resposta: Durante a organogênese.
6. O diagnóstico genético pré-implantacional (PGD), é uma técnica utilizada na fertilização in vitro, que possibilita detectar alterações no embrião antes de sua implantação no útero. Esse processo consiste na retirada de um blastômero do embrião no 3º terceiro dia de desenvolvimento, ou de mais células no 5º dia. Alguns casais, mesmo sem problemas de infertilidade, optam por esse procedimento na tentativa de gerar filhos que não tenham alterações cromossômicas e não desenvolvam doenças hereditárias.
a ) No PGD, o geneticista retira o blastômero do embrião no 3º ou no 5º dia do desenvolvimento. Que etapas embrionárias ocorrem nesse período?
b ) Converse com os colegas , expondo sua opinião, sobre a atitude de alguns pais de escolher embriões antes de engravidar. Lembrem-se de discutir as questões éticas e de saúde envolvidas nessas situações.
Professor, professora: Comente que em casos de casais que tenham filhos portadores de anemias graves o Conselho Federal de Medicina permite a escolha de embrião que seja compatível com o irmão, que precisa de transplante de medula óssea.
Respostas das questões 3 e 6 nas Orientações para o professor.
7. Pesquise sobre anexos embrionários e responda às questões.
Imagem sem proporção e em cores fantasia.
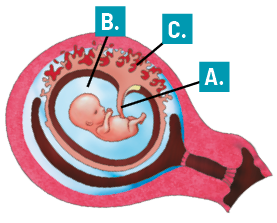
Imagem elaborada com base em: MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 95.
a ) Identifique as estruturas indicadas pelas letras na ilustração.
Resposta: A: cordão umbilical; B: âmnio; C: placenta.
b ) Descreva a importância de cada uma das estruturas indicadas.
Resposta: O cordão umbilical (A) é formado por vasos sanguíneos, que conectam o embrião/feto à placenta. O âmnio (B) protege o embrião/feto contra o ressecamento e choques mecânicos. A placenta (C) transfere nutrientes para o embrião/feto, é responsável pela eliminação de excretas e atua nas trocas gasosas.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
7. Faça um pesquisa sobre os anexos embrionários listados a seguir e descreva a importância de cada um deles.
- Cordão umbilical.
- Âmnio.
- Placenta.
Resposta: O cordão umbilical é formado por vasos sanguíneos, que conectam o embrião/feto à placenta. O âmnio protege o embrião/feto contra o ressecamento e os choques mecânicos. A placenta transfere nutrientes para o embrião/feto, é responsável pela eliminação de excretas e atua nas trocas gasosas.
Página 357
8. O parto vaginal, também conhecido como parto normal, é o tipo de parto em que ocorre a expulsão do bebê do corpo da mãe pelo canal vaginal. Já no parto do tipo cesárea, ou cesariana, um corte cirúrgico é realizado no abdome da mãe para a retirada do bebê. Observe os gráficos a seguir e, depois, responda às questões.
Percentual de nascidos vivos por idade gestacional (2021) – Parto vaginal
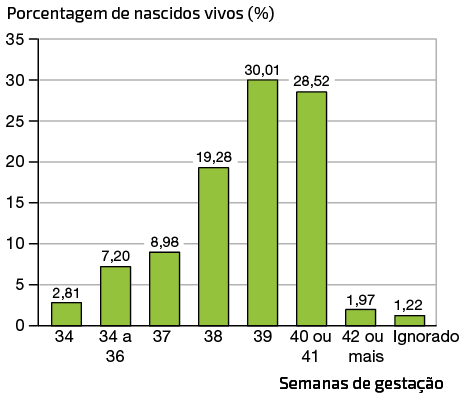
Percentual de nascidos vivos por idade gestacional (2021) – Parto cesárea
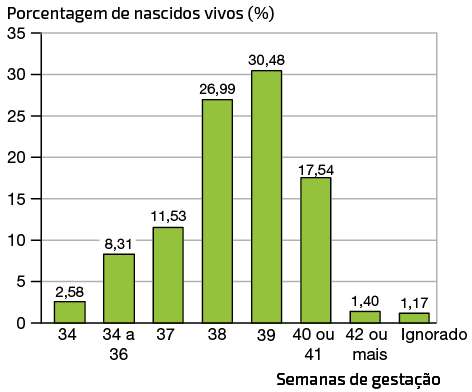
Fonte de pesquisa: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Indicadores de atenção à saúde materna e neonatal. Disponível em: https://s.livro.pro/h8wky1. Acesso em: 16 set. 2024.
a ) Em quais semanas de gestação o percentual de nascidos vivos é maior em cada tipo de parto? Por que você acha que isso acontece?
b ) Quais são os estágios do parto vaginal? Faça uma pesquisa sobre o tema e descreva cada um deles.
c ) Observando os gráficos, quais são os dois períodos de gestação em que o percentual de nascidos vivos é menor? Em sua opinião, o que pode explicar esses dados?
d ) Por que, em geral, é recomendado o parto vaginal em vez da cesárea? Se necessário, faça uma pesquisa.
Respostas nas Orientações para o professor.
RETOME O QUE ESTUDOU
Refletindo sobre o que estudou nesta unidade, responda às questões a seguir.
1. Escreva em pedaços de papel termos referentes à evolução dos seres vivos abordados nesta unidade. Em seguida, troque os papéis com os colegas. Com a turma, elaborem afirmativas utilizando um ou mais termos escritos nos papéis.
2. Junte-se a três colegas e elaborem um podcast sobre a evolução humana. Esse material deve ser compreensível para diferentes pessoas, inclusive para as da comunidade não escolar. Por isso, elaborem previamente um texto de fácil compreensão com informações resumidas sobre o assunto. Divulguem o podcast nas redes sociais ou por meio de aplicativos de mensagens.
3. Retome as respostas que você deu à questão "Além dos ossos, que outras estruturas estão relacionadas à locomoção dos seres humanos?", na página de abertura desta unidade, e complemente-a, se necessário.
4. Junte-se a um colega e escrevam em um pedaço de papel um movimento voluntário realizado por um dos membros do corpo humano. Em seguida, troquem o papel de vocês com o de outra dupla e peçam a eles que expliquem como é realizado aquele movimento, identificando o papel de músculos, ossos, articulações e sistema nervoso.
5. Elabore um esquema, com imagens e textos explicativos, a respeito do trabalho integrado dos diferentes sistemas para a nutrição do corpo humano.
Atividade(s) adaptada(s) acessível(is)
5. Elabore um texto que explique o trabalho integrado dos diferentes sistemas para a nutrição do corpo humano.
Resposta: O objetivo desta questão é levar os estudantes a sistematizar os conhecimentos sobre a nutrição do corpo humano, destacando que os sistemas de nosso corpo não atuam isoladamente, mas em conjunto.
6. Junte-se a dois colegas e produzam um esquema com imagens e textos sobre todas as etapas da reprodução humana, desde a fecundação até o nascimento. Na sequência, troquem o esquema elaborado com outro grupo para que ele valide a produção.
Respostas nas Orientações para o professor.
Página 358
MAIS QUESTÕES
1. (UEPG-PR) Segundo a teoria evolutiva, os principais fatores que atuam sobre o conjunto de genes de uma população são mutação, recombinação genética, migração, seleção natural e deriva genética. Em relação a esses fatores, assinale o que for correto.
01 ) As mutações ocorrem ao acaso e são consideradas fonte da variabilidade genética.
02 ) A migração de indivíduos permite que se estabeleça fluxo gênico entre populações distintas e, assim, que ocorra o compartilhamento da variação existente nelas.
04 ) As mutações podem ser consideradas vantajosas no genoma em que ocorrem quando conferem aumento na sobrevivência e/ou na reprodução. Dessa forma, suas frequências aumentam por seleção.
08 ) Durante a pandemia de covid-19, o uso indiscriminado de antibióticos gerou mutação da forma mais infecciosa do vírus no Brasil.
Resposta: Soma: 01 mais 0 2 mais 0 4 é igual a 0 7
2. (UEL-PR) Com relação à evolução humana, algumas espécies de hominídeos que precederam o Homo sapiens, estão relacionadas a seguir.
I ) Homo habilis
II ) Australopithecus afarensis
III ) Homo erectus
IV ) Australopithecus ramidus
V ) Paranthropus robustus
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente, em que essas espécies surgiram.
a ) II, IV, V, III, I.
b ) IV, II, V, I, III.
c ) IV, II, V, III, I.
d ) V, II, IV, III, I.
e ) V, IV, III, II, I.
Resposta: Alternativa b.
3. (UEM-PR) Sobre a evolução humana, assinale o que for correto.
01 ) Aumento de massa encefálica, acompanhada de aumento de volume do crânio são características da evolução humana.
02 ) Estudos de fósseis mostram que durante a adaptação dos humanos à vida não arborícola foram detectadas modificações na sua dentição, como tipo de dentes e sua disposição.
04 ) A evolução humana ocorreu em função do agrupamento social, independentemente de outros fatores ambientais.
08 ) Atualmente há no planeta somente uma espécie do gênero Homo e, por isso, todos os seus representantes têm o mesmo fenótipo.
16 ) Humanos, gorilas, chimpanzés e macacos não possuem semelhanças genéticas, motivo pelo qual são classificados em famílias diferentes.
Resposta: Soma: 01 mais 0 2 é igual a 0 3
4. (Fuvest-SP) O gráfico a seguir ilustra o perfil de digestão de quatro substâncias no organismo humano, de acordo com a variação do p H.
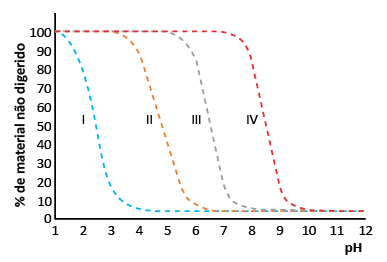
A análise dos dados permite concluir que a(s)
a ) digestão da substância I é feita por amilases presentes no duodeno.
b ) digestão da substância II é feita por lipases presentes da boca.
c ) substância III é um amido digerido por amilases presentes boca.
d ) substância IV é uma proteína digerida pela bile no estômago.
e ) substâncias I, II e III são digeridas, respectivamente, na boca, no estômago e no duodeno.
Resposta: Alternativa c.
5. (Enem/MEC) Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado.
Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta?
a ) Ponte.
b ) Medula.
c ) Cerebelo.
d ) Hipotálamo.
e ) Neuro-hipófise.
Resposta: Alternativa b.
Página 359
6. (Unicentro-PR) Desde o início do século XIX, teóricos, com base em diferentes teorias, defendem seus argumentos para explicar o surgimento das diferentes espécies.
Com base nos conhecimentos sobre evolução, atribua (V) verdadeiro (F) falso às afirmativas a seguir.
(■) Para o lamarckismo, os seres vivos atuais são idênticos aos que existiram no passado, embora pudesse haver pequenas variações entre os membros de uma espécie devido à herança das características adquiridas.
(■) O evolucionismo darwiniano pautou a sua teoria na premissa fixista, a qual destacava que o fenômeno da adaptação conservativa é o resultado da imutabilidade de inúmeras gerações.
(■) A seleção natural, um dos pilares da teoria evolucionista darwiniana, preconiza que os indivíduos, de cada espécie, mais bem adaptados ao ambiente sobrevivem e têm maior sucesso reprodutivo.
(■) A teoria sintética da evolução ou o neodarwinismo considera como um dos principais fatores evolutivos a recombinação gênica, segundo a qual, na reprodução sexuada, os genes provenientes dos pais se rearranjam.
(■) Nas populações de insetos em que surgem, por mutação gênica, indivíduos resistentes a um determinado inseticida, os exemplares selvagens serão eliminados, ao passo que os resistentes se multiplicarão.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a ) V, V, F, V, F.
b ) V, V, F, F, F.
c ) V, F, F, F, V.
d ) F, V, V, F, V.
e ) F, F, V, V, V.
Resposta: Alternativa e.
7. (Enem/MEC) No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens estão envolvidas duas estruturas celulares: os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons, e os bastonetes, à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência, e a intensidade, ao número de fótons incidentes.
Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá
a ) apresentar daltonismo.
b ) perceber cores fora do espectro visível.
c ) enxergar bem em ambientes mal iluminados.
d ) necessitar de mais luminosidade para enxergar.
e ) fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados.
Resposta: Alternativa c.
8. (Unicentro-PR) A divisão do zigoto dá início ao desenvolvimento embrionário que compreende três etapas principais: a segmentação ou clivagem, a gastrulação e a organogênese.
Com base nos conhecimentos sobre as etapas do desenvolvimento embrionário, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.
(■) Na etapa da gastrulação, o zigoto divide-se, rápida e seguidamente, por mitose, originando um aglomerado maciço de folhetos conhecidos como blastômeros.
(■) Quando está se formando, ainda no organismo materno, o embrião acumula substâncias que nutrirão as suas células, pelo menos durante as fases iniciais da segmentação.
(■) A migração de células para dentro do embrião faz a blastocele dar lugar a uma nova cavidade chamada de arquêntero, a qual é o esboço do tubo digestivo do futuro organismo.
(■) O folheto germinativo mais externo, que reveste o embrião, é o ectoderma e dele derivam revestimento interno no tubo digestivo, as suas estruturas glandulares e o sistema respiratório.
(■) O mesoderma paraxial, situado ao longo do dorso do embrião, divide-se em blocos transversais denominados somitos, dos quais são formados a derme, as vértebras, as costelas e os músculos estriados esqueléticos.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a ) V, V, V, F, F.
b ) V, V, F, F, V.
c ) V, F, F, V, V.
d ) F, V, F, V, F.
e ) F, F, V, F, V.
Resposta: Alternativa e.
9. (UERJ) Quadros de pneumonia podem ocorrer quando, além do ar, algum corpo estranho entra nas vias respiratórias.
Uma explicação para a possibilidade de entrada desses corpos estranhos é a comunicação entre o sistema respiratório e o seguinte sistema:
a ) nervoso
b ) excretor
c ) digestório
d ) circulatório
Resposta: Alternativa c.